A Conquista da América
A Questão do Outro
Tzvetan Todorov
Martins Fontes
2ª edição
Tradução de BEATRIZ PERRONE MOI
Índice
1. Descobrir
A descoberta da América 3
Colombo hermeneuta 17
Colombo e os índios 41
II. Conquistar
As razões da vitória 63
Montezuma e OS signos 75
Cortez e os signos 117
III. Amar
Compreender, tomar e destruir 151
Igualdade ou desigualdade 175
Escravisino, colonialismo e comunicaç 203
IV. Conhecer
Tipologia das relações com outrem 223
Durán, ou a mestiçagem das culturas 245
A obra de Sahagún 267
Epílogo
A profecia de Las Casas 297
Notas bib1io 311
Índice das ilustrações 317
Referências 319
1
Descobrir
A descoberta da América
Quero falar da descoberta que o eu faz do outro, O as sunto é imenso. Mal acabamos de formulá-lo em linhas gerais já o vemos subdividir-se em categorias e direções
múltiplas, infinitas. Podem-se descobrir os outros em si mes mo, e perceber que não se é uma substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não é si
mesmo; eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu também, sujei to como eu. Somente meu ponto de vista, segundo o qual todos estão lá e eu estou só aqui, pode
realmente sepa rá-los e distingui-los de mim. Posso conceber os outros como uma abstração, como uma instância da configuração psí quica de todo indivíduo, como o
Outro, outro ou outrem em relação a mim. Ou então como um grupo social con creto ao qual nós não pertencemos. Este grupo, por sua vez, pode estar contido numa sociedade:
as mulheres para os homens, os ricos para os pobres, os loucos para os "nor mais". Ou pode ser exterior a ela, uma outra sociedade que, dependendo do caso, será
próxima ou longínqua: seres que em tudo se aproximam de nós, no plano cultural, moral e histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua e cos 3
tumes não compreendo, tão estrangeiros que chego a he sitar em reconhecer que pertencemos a uma mesma espé cie. Escolhi esta problemática do outro exterior, de modo
um pouco arbitrário, e porque não podemos falar de tudo ao mesmo tempo, para começar uma pesquisa que nunca poderá ser concluída.
Mas como falar disso? No tempo de Sócrates, o orador costumava perguntar ao auditório qual o seu modo de ex pressão, ou gênero preferido: o mito, isto é, a narraçào,
ou a argumentação lógica? Na época do livro, a decisão não pôde ser tomada pelo público. A escolha teve de ser feita para que o livro existisse. Temos de nos contentar
em ima ginar, ou desejar, um público que teria dado tal resposta, e não outra, e em escutar aquela sugerida ou imposta pelo próprio assunto. Escolhi contar uma história.
Mais próxima do mito do que da argumentação, mas distinta em dois pia flOS: em primeiro lugar, é uma história verdadeira (o que o mito podia mas não devia ser);
em segundo lugar, meu in teresse principal é mais o de um moralista do que o de um historiador, O presente me importa mais do que o passado. Não tenho outro meio
de responder à pergunta de como se comportar em relação a outrem a não ser contando urna história exemplar(este é o gênero escolhido), uma história tão verdadeira
quanto possível, mas tentando nunca perder de vista aquilo que os exegetas da Bíblia chamavam de sentido tropológico, ou moral. Neste livro se alternarão, um pouco
como num romance, os resumos, ou visões de conjunto resumidas, as cenas, ou análises detalhadas re cheadas de citações, pausas, em que o autor comenta o que acaba
de acontecer, e, é claro, elipses, ou omissões freqüen tes. Não é esse o ponto de partida de toda história?
Entre os vários relatos que temos à disposição, escolhi um: o da descoberta e conquista da América. Por conve niência, estabeleci uma unidade de tempo - os cem anos
que seguem a primeira viagem de Colombo, isto é, basica mente, o século XVI. Estabeleci também uma unidade de es paço - a região do Caribe e do México, chamada às
vezes de Meso-América, e, finalmente, uma unidade de ação - a
4
percepção que os espanhóis têm dos índios será meu úni co assunto, com uma única exceção, no caso de Montezu ma e os seus.
Duas razões fundamentaram a escolha deste tema co mo primeiro passo no mundo cia descoberta do outro. Em primeiro lugar, a descoberta da América, ou melhor, a dos
americanos, é sem dúvida o encontro mais surpreendente de nossa história. Na "descoberta" dos outros continentes e dos outros homens não existe, realmente, este
sentimento radical de estranheza. Os europeus nunca ignoraram total mente a existência da África, ou da Índia, ou da China, sua lembrança esteve sempre presente,
desde as origens. A Lua é mais longe do que a América, é verdade, mas hoje sabe mos que aí não há encontro, que esta descoberta não guar da surpresas da mesma espécie.
Para fotografar um ser vivo na Lua, é necessário que o cosmonauta se coloque diante da câmara, e em seu escafandro há um só reflexo: de um outro terráqueo. No início
do século XVI, os índios da Amé rica estão ali, bem presentes, mas deles nada se sabe, ain da que, como é de esperar, sejam projetadas sobre os seres recentemente
descobertos imagens e idéias relacionadas a outras populações distantes (cf. fig. 1). O encontro nunca mais atingirá tal intensidade, se é que esta é a palavra ade
quada. O século XVI veria perpetrar-se o maior genocídio da história da humanidade.
Mas não é unicamente por ser um encontro extremo, e exemplar, que a descoberta da América é essencial para nós, hoje. Além deste valor paradigmático, ela possui
outro, de causalidade direta. A história do globo é, claro, feita de conquistas e derrotas, de colonizaçóes e descobertas dos outros; mas, como tentarei mostrar,
é a conquista da Amé rica que anuncia e funda nossa identidade presente. Ape sar de toda data que permite separar duas épocas ser arbi trária, nenhuma é mais indicada
para marcar o início da era moderna do que o ano de 1492, ano em que Colombo atravessa o oceano Atlântico. Somos todos descendentes diretos de Colombo, é nele que
começa nossa genealogia - se é que a palavra começo tem um sentido. Desde 1492 es 6
tamos, como disse Las Casas, "neste tempo tão novo e a nenhum outro igual" (Historia de las índias, 1, 881). A par tir desta data, o mundo está fechado (apesar de
o univer so tornar-se infinito). "O mundo é pequeno", declarará peremptoriamente o próprio Colombo (Carta Rarissima, 7.7.1503 - uma imagem de Colombo transmite algo
deste espírito, cf. fig. 2). Os homens descobriram a totalidade de que fazem parte. Até então, formavam uma parte sem todo. Este livro será uma tentativa de entender
o que aconteceu neste dia, e durante o século seguinte, através da leitura de alguns textos cujos autores serão minhas personagens. Eles monologarão, como Colombo,
dialogarão através de atos, como Cortez e Montezuma, ou através de enunciados erudi tos, como Las Casas e Sepúlveda, ou ainda, como Durán e Sahagún, manterão um
diálogo, menos evidente, com in terlocutores índios.
Mas chega de preliminares, vamos aos fatos.
Podemos admirar a coragem de Colombo; aliás, isso já foi feito milhares de vezes. Vasco da Gama e Magalhães talvez tenham feito viagens mais difíceis, mas eles sabiam
para onde iam. Apesar de toda a sua segurança, Colombo não podia ter certeza de que no fim do oceano não havia um abismo, e, conseqüentemente, a queda no vazio.
Não podia ter certeza de que a viagem para o oeste não signi ficava uma longa descida - estamos (3) no cume da Terra
- e que não seria difícil demais subir de novo. Em resumo, não podia ter certeza de que o retorno era possível. A pri meira pergunta nesta investigação genealógica
será, por tanto: O que o levou a partir? Como a coisa aconteceu?
Ao ler os escritos de Colombo (diários, cartas, relató rios), poderíamos ter a impressão de que seu motivo prin cipal é o desejo de enriquecer (aqui, e em seguida,
digo de Colombo o que poderia aplicar-se a outros; por ter sido,
1. Referências abreviadas aparecem no texto; para as indicações completas, vide Notas bibliográficas no fim do livro. Os números entre parênteses, salvo indicação
em contrário, referem-se aos capítulos, seções. partes etc., e não às páginas.
freqüentemente, o primeiro, deu o exemplo). O ouro, ou melhor, a procura deste (já que não se encontra quase nada no início), está onipresente no decorrer da primeira
via gem. No dia seguinte à descoberta, 13 de outubro de 1492, ele anota em seu diário: "Estava atento e tratava de saber se havia ouro." E volta a isso constantemente:
"Não quero parar, para ir mais longe, visitar muitas ilhas e descobrir ouro" (1.11.1492); "O Almirante ordenou-lhes que não lhes tomassem nada, para que eles compreendessem
que ele só procurava ouro" (1.11.1492). Até a sua oração tinha-se transformado: "Que Nosso Senhor me ajude, em Sua mise ricórdia, a descobrir este ouro (23.12.1492).
E, num rela tório posterior (Relatório para Antonio de Torres, 30.1.1494), ele se refere, laconicamente, a "nossa atividade, que é co letar ouro". Seu percurso é
traçado a partir dos indícios de existência de ouro que ele pensa encontrar. "Decidi ir para o sudoeste procurar o ouro e as pedras preciosas" (Diário, 13.10.1492).
"Ele desejava ir à ilha chamada Babeca, onde, pelo que tinha escutado, sabia que havia muito ouro" (13.11.1492). "O almirante acreditava que estava muito pró ximo
da fonte do ouro, e que Nosso Senhor lhe mostraria onde ele nasce" (17.12.1492 - nessa época, o ouro "nas ce"). Deste modo, Colombo vaga, de ilha em ilha, e é bem
possível que os índios tenham encontrado aí um meio de se livrar dele. "No despontar do dia, ele içou as velas para seguir seu caminho à procura das ilhas que os
índios diziam conter muito ouro, algumas mais ouro do que ter ra" (22.12.1492...).
Será que foi mera ambição o que levou Colombo a viajar? Basta ler todos os seus escritos para ficar convenci do de que não é nada disso. Colombo simplesmente sabe
a capacidade atrativa que podem ter as riquezas, e espe cialmente o ouro. É com a promessa de ouro que ele acalma os outros em momentos difíceis. "Neste dia, eles
perderam completamente de vista a terra. Temendo não tornar a vê-la por muito tempo, muito suspiravam e choravam. O almi rante reconfortou a todos com grandes promessas
de muitas terras e riquezas, para que eles conservassem a esperança
8
9
e perdessem o medo que tinham de um caminho tão lon go." (F. Colombo, 18) "Aqui os homens já não agüentavam mais. Reclamavam do comprimento da viagem. Mas o Al mirante
consolou-os do melhor modo possível dando-lhes grandes esperanças do lucro que eles poderiam ter" (Diá rio, 10.10.1492).
Os marinheiros não são os únicos que esperam enri quecer. Os próprios mandatários da expedição, os Reis de Espanha, não se teriam envolvido na empresa se não fosse
a promessa de lucro. Portanto, no diário que Colombo es creve, a eles destinado, é preciso multiplicar a cada página os indícios da presença de ouro (na falta do
próprio ouro). Na terceira viagem, lembrando a organizaçào da primeira, ele diz explicitamente que o ouro era uma espécie de cha mariz, para que os reis aceitassem
financiá-la: "Foi tam bém necessário falar do temporal e por isso lhes mostra mos os escritos de tantos estudiosos dignos de fé que tra taram da história, que contavam
que nessas regiões havia imensas riquezas" (carta aos Reis, 31.8.1498). Em outra ocasiào, ele diz ter acumulado e conservado o ouro "para que Suas Altezas disso
se alegrem e que nessas condições Elas possam compreender, diante de tal quantidade de pe dras de ouro maciço, a importância da empresa" carta à Ama-de-Leite, novembro
de 1500). Aliás, Colombo tem razão quando imagina a importância disso: sua desgraça não se deve, ao menos em parte, ao fato de não ter havido mais ouro nessas ilhas?
"Daí nasceram as maledicências e os desprezos da empresa assim iniciada, porque eu não tinha enviado imediatamente navios carregados de ouro" (carta aos Reis, 31.8.1498).
Sabe-se que uma longa discussão oporá Colombo aos reis (e depois será instruído um processo entre os herdeiros de ambos), que se refere justamente ao total dos lucros
que o Almirante estaria autorizado a retirar das "Índias". Apesar de tudo isso, a ambição não é realmente a força motriz da ação de Colombo. Importa-se com a riqueza
porque ela sig nifica o reconhecimento de seu papel de descobridor, mas teria preferido o rústico hábito de monge. O ouro é um valor
humano demais para interessar a Colombo, e devemos acre ditar nisso quando ele escreve no diário da terceira via gem: "Nosso Senhor bem sabe que eu não suporto todas
estas penas para acumular tesouros nem para descobri-los para mim; pois, quanto a mim, bem sei que tudo o que se faz neste mundo é vão, se não tiver sido feito para
a honra e o serviço de Deus" (Las Casas, Historia, 1, 146). E no fim de seu relato da quarta viagem: "Não fiz esta viagem para nela obter ouro e fortuna; é a verdade,
pois disso toda es perança já estava morta. Vim até Vossas Altezas com uma intenção pura e um grande zelo, e não minto" ("Carta Raris sima", 7.7.1503).
Qual é essa intenção pura? Colombo formula-a fre qüentemente no diário da primeira viagem: ele queria en contrar o Grande Can, ou imperador da China, cujo retrato
inesquecível tinha sido deixado por Marco Polo. "Estou de terminado a ir à terra firme e à cidade de Quisay entregar as cartas de Vossas Altezas ao Grande Can, pedir-lhe
res posta e retornar com ela" (21.10.1492). Este objetivo é em seguida ligeiramente afastado, já que as descobertas, por si só, já lhe dão bastante trabalho, mas
não é jamais esqueci do. Mas por que esta obsessão, que parece quase pueril? Porque, ainda de acordo com Marco Polo, "há muito tempo o imperador de Catai pediu sábios
para instruí-lo na fé de Cristo" ("Carta Rarissima", 7.7.1503), e Colombo quer fazer com que ele possa realizar este desejo. A expansão do cris tianismo é muito
mais importante para Colombo do que o ouro, e ele se explicou sobre isso, principalmente numa carta destinada ao papa. Sua próxima viagem será "para a glória da
Santíssima Trindade e da santa religião cristã", e para isso ele "espera a vitória do Eterno Deus, como ela sem pre me foi dada no passado"; o que ele faz é "grandioso
e exaltante para a glória e o crescimento da santa fé cristã". Portanto, seu objetivo é: "Espero em Nosso Senhor poder propagar seu santo nome e seu Evangelho no
universo" ("Carta ao Papa Alexandre VI", fevereiro de 1502).
A vitória universal do cristianismo é o que anima Co lombo, homem profundamente piedoso (nunca viaja aos
10
11
domingos), que justamente por isso considera-se eleito, en carregado de uma missão divina, e que vê por toda parte a intervenção divina, seja no movimento das ondas
ou no naufrágio de seu barco (numa noite de Natal!): "Por nume rosos e notáveis milagres Deus se revelou no decorrer desta navegação" ("Diário", 15.3.1493).
Além disso, a necessidade de dinheiro e o desejo de impor o verdadeiro Deus não se excluem. Os dois estão até unidos por uma relação de subordinação: um é meio,
e o outro, fim. Na verdade, Colombo tem um projeto mais preciso do que a exaltação do Evangelho no universo, e tanto a existência quanto a permanência deste projeto
re velam sua mentalidade. Qual um Dom Quixote atrasado de vários séculos em relação a seu tempo, Colombo queria partir em cruzada e liberar Jerusalém! Só que a idéia
é ex travagante em sua época e como, por outro lado, não há dinheiro, ninguém quer escutá-lo. Como um homem des provido e que gostaria de lançar uma cruzada podia
reali zar seu sonho, no século XV? É tão simples quanto o ovo de Colombo: basta descobrir a América e conseguir nela os fundos... ou melhor, ir à China pela via
ocidental 'direta', já que Marco Polo e outros escritores medievais garantiram que grande quantidade de ouro "nasce" lá.
A realidade deste projeto está amplamente comprova da. No dia 26 de dezembro de 1492, durante a primeira via gem, ele revela em seu diário que espera encontrar ouro,
e "em quantidade suficiente para que os Reis possam, em menos de três anos, preparar e empreender a conquista da Terra Santa. Foi assim", continua ele, "que manifestei
a Vos sas Altezas o desejo de ver os benefícios de minha atual empresa consagrados à conquista de Jerusalém, o que fez Vossas Altezas sorrirem, dizendo que isto
lhes agradava, e que mesmo sem este benefício este era o seu desejo". Mais tarde, ele relembra este episódio: "No momento em que to mei as providências para ir descobrir
as Índias, era na in tenção de suplicar ao Rei e à Rainha, nossos senhores, que eles se decidissem a gastar a renda que poderiam obter das Índias na conquista de
Jerusalém; e foi de fato o que eu
lhes pedi" ("Instituição de Morgado", 22.2.1498). Era pois esse o projeto que Colombo tinha apresentado à corte real, procurando obter o auxílio de que precisava
para a pri meira expedição. Quanto a Suas Altezas, não levavam isso muito a sério, e deviam reservar-se o direito de empregar o lucro do empreendimento, se lucro
houvesse, com ou tras finalidades.
Mas Colombo não esquece seu projeto, e este reapa rece numa carta ao papa: "Esta empresa foi feita no intuito de empregar o que dela se obtivesse na devolução da
Ter ra Santa à Santa Igreja. Depois de ali ter estado e visto a terra, escrevi ao Rei e à Rainha, meus senhores, dizendo- lhes que dentro de sete anos disporia de
cinqüenta mil ho mens a pé e cinco mil cavaleiros, para a conquista da Terra Santa e, durante os cinco anos seguintes, mais cinqüenta mil pedestres e outros cinco
mil cavaleiros, o que totaliza ria dez mil cavaleiros e cem mil pedestres para a dita con quista" (fevereiro de 1502). Colombo nem desconfia de que a conquista acontecerá,
mas numa direção completamente diferente, muito perto das terras que ele descobriu, e com muito menos guerreiros, aliás. Seu apelo não provoca, por tanto, muitas
reações: "A outra ilustre empresa chama, de braços abertos; até o presente momento, todos lhe são in diferentes" ("Carta Rarissima", 7.7.1503). Por isso, queren
do afirmar sua intenção mesmo após sua própria morte, ele institui um morgado e dá instruções a seu filho (ou a seus herdeiros): juntar o máximo de dinheiro possível
para, no caso de os Reis renunciarem ao projeto, poder "ir até lá só e tão poderoso quanto lhe for possível" (22.2.1498).
Las Casas deixou uma imagem célebre de Colombo, onde situa bem sua obsessão pelas cruzadas no contexto de sua profunda religiosidade: "Quando lhe traziam ouro ou
objetos preciosos, ele entrava em seu oratório, ajoelha va-se como as circunstâncias exigiam, e dizia: 'Agradece mos a Nosso Senhor que nos tornou dignos de descobrir
tantos bens'. Era o guardião mais zeloso da honra divina; ávido e desejoso de converter as pessoas, e de ver por to da parte semeada e propagada a fé de Jesus Cristo;
e par-
12
13
ticularmente dedicado para que Deus o tornasse digno de contribuir de algum modo para o resgate do Santo Sepul cro; e com esta devoçào e certeza de que Deus o guiaria
na descoberta deste mundo que ele prometia, tinha supli cado á Sereníssima Rainha Dona Isabel que lhe prometes se consagrar todas as riquezas que os Reis podiam
obter de sua descoberta ao resgate da terra e da Santa Casa de Jerusalém, o que a Rainha fez (Historia, 1, 2).
Não só os contatos com Deus interessam muito mais a Colombo do que os assuntos puramente humanos, como também sua forma de religiosidade é particularmente ar caica
(para a época). Nào é por acaso que o projeto das cruzadas tinha sido abandonado desde a Idade Média. Paradoxalmente, é um traço da mentalidade medieval de Colombo
que faz com que ele descubra a América e inau gure a era moderna. (Devo admitir, e até declarar, que o uso que faço dos aditivos "medieval" e 'moderno" não é nada
preciso. No entanto, são indispensáveis. Que sejam inicialmente entendidos em seu sentido mais corrente, até que eles adquiram, no decorrer das páginas seguintes,
um conteúdo mais particular.) Porém, como veremos, o pró prio Colombo não é um homem moderno, e este fato é pertinente no desenrolar da descoberta, como se aquele
que faria nascer um mundo novo já não pudesse mais fazer parte dele.
Há traços de mentalidade em Colombo, entretanto, que estão mais próximos de nós. Por um lado, ele submete tudo a um ideal exterior e absoluto (a religião cristã),
e todas as coisas terrestres não passam de meios em vista da realiza ção deste ideal. Mas, por outro lado, ele parece encontrar na descoberta da natureza, atividade
à qual ele se adapta melhor, um prazer que faz com que essa atividade se has te. Ela já não tem a mínima utilidade, e o meio torna-se fim. Assim como, para o homem
moderno, uma coisa, uma ação ou um ser são belos apenas quando justificam-se por si mesmos, para Colombo, 'descobrir" é uma ação intran sitiva. "O que quero é ver
e descobrir o máximo que puder", ele escreve a 19 de outubro de 1492. E a 31 de dezembro
de 1492: "Ele diz ainda que não teria desejado partir antes de ter visto toda aquela terra que se estende em direçào a les te e tê-la percorrido toda por sua costa."
Basta mencionar a existência de uma nova ilha para que ele seja tomado da vontade de visitá-la. No diário da terceira viagem, encon tram-se estas frases: "Ele diz
estar pronto a abandonar tudo para descobrir outras terras e ver seus segredos" (Las Ca sas, Historia, 1, 136). que ele mais queria, pelo que diz, era descobrir
mais" (ibid., 1, 146). Noutra ocasião, ele se pergunta: "Quanto lucro daqui se pode tirar, não escrevo, Certo é, Senhores Príncipes, que onde há tais terras deve
haver também uma infinidade de coisas lucrativas. Mas não me detenho em nenhum porto, porque quero ver todas as outras terras que puder, para relatá-lo a Vossas
Altezas" ("Diário", 27.11.1492). Os lucros que ali "deve" haver têm apenas um interesse secundário para Colombo. O que conta são as "terras" e sua descoberta. Esta,
na verdade, parece estar subordinada a um objetivo, que é o relato de viagem. Dir-se-ia que Colombo fez tudo para poder escrever rela tos inauditos como Ulisses.
Ora, o relato de viagem nào é, em si mesmo, o ponto de partida, e não somente o ponto de chegada, de uma nova viagem? O próprio Colombo nào tinha partido porque
tinha lido o relato de Marco Polo?
14
15
Colombo hermeneuta
Para provar que a terra que vê é mesmo o continente, e não outra ilha, Colombo faz o seguinte raciocínio (no diá rio da terceira viagem, transcrito por Las Casas):
"Estou convencido de que isto é uma terra firme, imensa, sobre a qual até hoje nada se soube. E o que me reforça a opinião é o fato deste rio tão grande, e do mar
que é doce; em se guida, são as palavras de Esdras em seu livro IV, capítulo 6, onde ele diz que seis partes do mundo são de terra seca e uma de água, este livro
tendo sido aprovado por Santo Am brósio em seu Hexameron e por Santo Agostinho (...) Além disso, asseguraram-me as palavras de muitos índios cani bais que eu tinha
apresado em outras ocasiões, os quais diziam que ao sul de seu país estava a terra firme" (Histo ria, 1, 138).
Três argumentos vêm apoiar a convicção de Colombo:
a abundância de água doce, a autoridade dos livros santos
e a opinião de outros homens encontrados. É claro que es tes três argumentos não devem ser postos no mesmo pla no, mas revelam a existência de três esferas que dividem
o
mundo de Colombo: uma é natural, a outra divina, a tercei 17
ra humana. Então talvez não seja por acaso que encontramos também três impulsos para a conquista: o primeiro huma no (a riqueza), o segundo divino, e o terceiro
ligado à apre ciação da natureza. E, em sua comunicação com o mundo. Colombo se comporta de maneira diferente segundo se dirige a (ou se dirigem a ele) a natureza,
Deus e os homens. Voltando ao exemplo da terra firme, se Colombo tem ra zão, é unicamente em funçào do primeiro argumento (e podemos ver, em seu diário, que este
só toma forma aos poucos, no contato com a realidade). Observando que a água é doce longe no mar, ele deduz, de modo clarividente, a potência do rio, e daí a distância
por ele percorrida, de modo que se trata de um continente. Por outro lado, é bem provável que ele não tenha entendido nada do que diziam os "índios canibais". Anteriormente,
na mesma viagem, ele relatava suas entrevistas assim: "Ele (Colombo) diz ter cer teza de que é uma ilha, pois é o que diziam os índios", e Las Casas comenta: "Parece,
pois, que ele não os compreen dia" (Historia, 1, 135). Quanto a Deus...
Efetivamente, não podemos pôr no mesmo plano es tas três esferas, como devia acontecer com Colombo. Para nós existem apenas dois intercâmbios reais: com a nature
za e com os homens. A relação com Deus não implica a comunicação, embora possa influenciar, e até predetermi nar, toda forma de comunicaçào. Este é justamente o
caso de Colombo: há, sem dúvida, relação entre a forma de sua fé em Deus e a estratégia de suas interpretações.
Quando dizemos que Colombo tem fé, o objeto é me nos importante do que a ação: sua fé é cristã, mas tem-se a impressão de que, se fosse muçulmana, ou judaica, ele
te ria agido do mesmo modo, O importante é a força da cren ça em si. "São Pedro saltou sobre o mar e caminhou sobre as águas enquanto sua fé o sustentou. Aquele
que tiver a fé do tamanho de um grão de joio será obedecido pelas monta nhas, Que aquele que tem fé peça, pois tudo lhe será dado. Batei, e se abrirá", ele escreve
no prefácio de seu Livro das profecias (1501). Além disso, Colombo não acredita unica mente no dogma cristão: acredita também (e não é o único
na época) em ciclopes e sereias, em amazonas e homens com caudas, e sua crença, tão forte quanto a de São Pedro, permite que ele os encontre. "Ele entendeu ainda
que, mais além, havia homens com um só olho e outros com focinho de cão" ("Diário", 4.11.1492). "O Almirante diz que na vés pera, a caminho do rio do ouro, viu três
sereias que salta ram alto, fora do mar, Mas elas não eram tão belas quanto se diz, embora de um certo modo tivessem forma humana de rosto" (9.1.1493). "Estas mulheres
não se dedicam a ne nhum exercício feminino, e sim aos do arco e da flecha, fabricadas, como é dito acima, de caniço, e elas se armam e se cobrem de lâminas de cobre
que têm em abundância" ("Carta a Santangel", fevereiro-março de 1493). "Restam em direção ao poente duas províncias, que não percorri, das quais uma, que eles chamam
de Avan, onde as pessoas nascem com uma cauda" (ibid.).
A crença mais surpreendente de Colombo é de ori gem cristã: refere-se ao Paraíso terrestre. Ele leu no Imago inundi de Pierre d'Ailly que o Paraíso terrestre devia
estar localizado numa região temperada além do equador. Não encontra nada durante sua primeira visita ao Caribe, sur preendentemente; porém, de volta aos Açores,
declara: "O Paraíso terrestre está no fim do Oriente, pois essa é uma regiào temperada ao extremo. E aquelas terras que ele acabava de descobrir são, segundo ele,
o fim do Oriente" (21.2.1493). O tema transformou-se em obsessão durante a terceira viagem, quando Colombo chega mais perto do equador. Inicialmente, ele crê perceber
uma irregularidade na forma redonda da terra: "Descobri que o mundo não era redondo da maneira como é descrito, mas da forma de uma pêra que seria toda bem redonda,
exceto no local onde se encontra a haste, que é o ponto mais elevado; ou então como uma bola bem redonda, sobre a qual, em um certo ponto, estaria algo como uma
teta de mulher, e a par te deste mamilo fosse a mais elevada e a mais próxima do céu, e situada sob a linha equinocial neste mar Oceano, no fim do Oriente" ("Carta
aos Reis", 31.8.1498).
Esta elevação (um mamilo sobre uma pêra!) será um ar gumento a mais para afirmar que o Paraíso terrestre está
18
19
ali. "Estou convencido de que aqui é o Paraíso terrestre, onde ninguém pode chegar se não for pela vontade divina (...) Nào concebo que o Paraíso terrestre tenha
a forma de uma montanha abrupta, como mostram os escritos a esse respeito, e sim que está sobre este pico, no ponto de que falei, que figura a haste da pêra, onde
subimos, pouco a pouco, por uma inclinação tomada de muito longe" (ibid.).
Podemos observar aqui como as crenças de Colombo influenciam suas interpretações. Ele não se preocupa em entender melhor as palavras dos que se dirigem a ele, pois
já sabe que encontrará ciclopes, homens com cauda e ama zonas. Ele vê que as "sereias" não são, como se disse, belas mulheres; no entanto, em vez de concluir pela
inexistência das sereias, troca um preconceito por outro e corrige: as sereias não são tão belas quanto se pensa. Durante a ter ceira viagem, num certo momento,
Colombo se pergunta sobre a origem das pérolas que os índios às vezes lhe tra zem. A coisa acontece na sua frente, mas o que ele relata em seu diário é a explicação
de Plínio, tirada de um livro:
"Próximo ao mar havia inumeráveis ostras presas aos ga lhos das árvores que cresciam no mar, com a boca aberta para receber o orvalho que cai das folhas, esperando
que caísse uma gota para dar origem às pérolas, como diz Plínio; e cita o dicionário intitulado Catholicon" (Las Casas, Historia, 1, 137). E o mesmo em relação ao
Paraíso terrestre: o signo que constitui a água doce (portanto, grande rio, e portan to, montanha) é interpretado, após uma breve hesitação, "conforme a opinião
dos ditos santos e sábios teólogos" (ibid.). "Tenho em minha alma por muito certo que lá on de eu disse se encontra o Paraíso terrestre, e me baseio para isso nas
razões e autoridades ditas acima" (ibid.). Colombo pratica uma estratégia "finalista" da interpretação, como os Pais da Igreja interpretavam a Bíblia: o sentido
final é dado imediatamente (é a doutrina cristã), procura-se o caminho que une o sentido inicial (a significação aparente das pala vras do texto bíblico) a este
sentido último. Colombo não tem nada de um empirista moderno: o argumento decisivo é o argumento de autoridade, não o de experiência. Ele sa be de antemão o que
vai encontrar; a experiência concre
ta está aí para ilustrar uma verdade que se possui, nào para ser investigada, de acordo com regras preestabelecidas, em vista de uma procura da verdade.
Apesar de sempre ser finalista, Colombo, como vimos, era mais perspicaz quando observava a natureza do que quando tentava compreender os indígenas. Seu comporta
mento hermenêutico não é exatamente o mesmo aqui e ali, como poderemos ver em detalhe.
"Desde a mais tenra infância vivi a vida dos marinhei ros, e o faço até hoje. Este ofício leva aqueles que a abra çam a querer conhecer os segredos deste mundo",
escreve Colombo no início do Livro das profecias (1501). Insistire mos aqui na palavra mundo (em oposição a "homens"):
aquele que se identifica com a profissão de marinheiro re laciona-se mais com a natureza do que com seus próximos; e em seu espírito a natureza tem certamente mais
afinidade com Deus do que os homens: ele escreve, rapidamente, na margem da Geografia de Ptolomeu: "Admiráveis são os impulsos tumultuosos do mar. Admirável é Deus
nas pro fundezas." Os escritos de Colombo, e particularmente o diá rio da primeira viagem, revelam uma atenção constante a todos os fenômenos naturais. Peixes e
pássaros, plantas e animais são as principais personagens das aventuras que conta; deixou-nos descrições detalhadas. "Eles pescaram com redes e pegaram um peixe,
entre muitos outros, que se pa recia realmente com um porco, não como o atum, mas, diz o Almirante, que era todo escamado, muito duro, e não ti nha nele nada de
mole exceto a cauda, os olhos e um ori ficio por baixo para expulsar os excrementos. Ele ordenou que fosse salgado para que os Reis o vissem" (16.11.1492). "Vieram
ao navio mais de quarenta pardais juntos e dois albatrozes, e num deles deu uma pedrada um moço da ca ravela. Veio à nau uma fragata, e também um pássaro bran co
semelhante a uma gaivota" (4.10.1492). "Vi muitas árvo res diferentes das nossas, e várias delas tinham ramos de tipos diferentes saindo de um mesmo tronco - um
ramo era de um tipo, e o outro de outro -' tão estranhos por sua diversidade que era certamente a coisa mais maravilhosa
20
21
do mundo. Por exemplo, um ramo tinha folhas como as da cana e outras como as do lentisco, e assim numa só árvo re havia folhas de cinco ou seis tipos e todas diferentes"
(16.10.1492). Durante a terceira viagem, ele faz escala nas ilhas do Cabo Verde, que na época serviam aos portugue ses como lugar de deportação para todos os leprosos
do reino. Supõe-se então que eles poderào curar-se comendo tartarugas e lavando-se com seu sangue. Colombo não pres ta a mínima atenção aos leprosos e a seus costumes
singu lares; mas inicia imediatamente uma longa descrição dos hábitos das tartarugas. Ao naturalista amador junta-se o etó logo experimentador, na célebre cena do
combate entre um pecari e um macaco, descrita por Colombo num mo mento em que sua situação é quase trágica e não se pode ria esperar que ele se concentrasse na observação
da natu reza: "Há inúmeros animais, pequenos e grandes, e muito diferentes dos nossos. Deram-me de presente dois porcos que um cão irlandês não ousava enfrentar.
Um arpoador tinha ferido um animal semelhante a um macaco, porém muito maior e com uma face de homem; lhe tinha atraves sado o corpo com uma flecha, do peito até
a cauda e, co mo ele estava furioso, tinha tido de cortar-lhe um braço e uma perna, O porco, assim que o viu, ficou eriçado e se pôs a fugir. Eu, ao ver isso, mandei
lançar o begare, como é chamado neste lugar, contra o outro, e quando ficou sobre ele, ainda que estivesse à morte e ainda tivesse a flecha no corpo, lançou a cauda
em volta do focinho do porco e a manteve assim, com força, enquanto, com a mão que lhe restava, agarrava-o pela nuca, como um inimigo. A grande novidade desta cena
e a beleza deste combate de caça le varam-me a escrever isto" ("Carta Rarissima", 7.7.1503).
Atento aos animais e às plantas, Colombo o é ainda mais a tudo que se refere à navegação, ainda que esta aten ção esteja mais ligada ao senso prático do marinheiro
do que à observação científica rigorosa. Concluindo o prefá cio de seu primeiro diário, dirige a si mesmo esta injunção:
"E, sobretudo, é muito importante que eu esqueça o sono e seja um navegador muito vigilante, porque assim deve
ser; o que exigirá grande esforço", e podemos dizer que ele obedece à risca: nenhum dia sem anotações referentes às estrelas, aos ventos, à profundidade do mar,
ao relevo da costa; os princípios teológicos não intervêm aqui. Quando Pinzón, comandante do segundo navio, desaparece à pro cura de ouro, Colombo passa o tempo
fazendo levanta mentos geográficos: "Esta noite toda esteve na corda, como dizem os marinheiros que é andar barlaventeando e não andar nada, para ver uma angra,
que é uma abertura entre as montanhas, que começou a ver ao pôr-do-sol, onde se mostravam duas montanhas enormes" ("Diário", 13.11.1492).
O resultado desta observação vigilante é que Colom bo consegue, em matéria de navegação, verdadeiras faça nhas (apesar do naufrágio de sua nave): sempre sabe es
colher os melhores ventos e as melhores velas; inaugura a navegação pelas estrelas e descobre a declinação magnética. Um de seus companheiros da segunda viagem,
que não procura ser lisonjeiro, escreve: "Durante as navegações bas tava-lhe olhar uma nuvem, ou, à noite, uma estrela, para saber o que ia acontecer e se haveria
mau tempo." Em ou tras palavras, sabe interpretar os sinais da natureza em função de seus interesses. Aliás, a única comunicação real mente eficaz que ele estabelece
com os indígenas baseia-se em sua ciência das estrelas: é quando, numa solenidade digna de Tintin, se aproveita do fato de conhecer a data de um eclipse iminente
da Lua; encalhado na costa jamaicana há oito meses, não consegue mais convencer os índios a trazer mantimentos gratuitamente; então, ameaça roubar-lhes a Lua, e
na noite de 29 de fevereiro de 1504 começa a cumprir a ameaça, diante dos olhos assustados dos caci ques... O sucesso é imediato.
Mas duas personagens coexistem em Colombo (para nós), e quando o oficio de navegador não está mais em jogo a estratégia finalista torna-se preponderante em seu sistema
de interpretação: não se trata mais de procurar a verdade, e sim de procurar confirmações para uma verda de conhecida de antemão (ou, como se diz, tomar desejos
por realidade). Por exemplo, durante toda a primeira tra
22
23
vessia (Colombo leva mais de um mês para ir das Canárias a Guanaani, a primeira ilha do Caribe que encontra), ele procura indícios de terra. E, evidentemente, encontra
tais indícios, logo, uma semana após sua partida: "Começamos a ver numerosos tufos de ervas muito verdes que pare ciam, segundo o Almirante, ter-se desligado da
terra há pouco tempo" (17.9.1492). "Do lado do norte apareceu uma grande obscuridade, o que significa que ela cobre a terra" (18.9.1492). "Houve algumas ondas sem
vento, o que é sinal evidente de proximidade da terra" (19.9.1492). "Vieram à nau capitânea dois albatrozes, e depois outro; o que foi um sinal de estar próximo
da terra" (20.9.1492). "Viram uma baleia, sinal de que estavam perto da terra, pois elas andam sempre perto da costa" (21.9.1492). Todos os dias Colombo vê "sinais"
e, no entanto, sabemos hoje que os sinais mentiam (ou que não havia sinais), já que a terra só foi atingida no dia 12 de outubro, ou seja, mais de vinte dias depois!
No mar, todos os sinais indicam a proximidade da terra, já que Colombo assim o deseja. Em terra, todos os sinais revelam a presença de ouro: aqui também sua convicção
já estava formada há muito tempo. "Ele diz ainda que achava que havia imensas riquezas, pedras preciosas e especia rias" (14.11.1492). "O Almirante presumia que
ali havia bons rios e muito ouro" (11.1.1493). Às vezes a afirmação desta convicção mistura-se, ingenuamente, com uma con fissão de ignorância: "Creio que há muitas
ervas e muitas árvores bastante apreciadas na Espanha para as tinturas, e como medicamentos e especiarias; mas não as conheço, o que me deixa deveras desgostoso"
(19.10.1492). "Há tam bém árvores de mil espécies, todas com frutos diferentes e todos tão perfumados que é uma maravilha, e estou pro fundamente desgostoso por
não conhecê-las, pois estou certo de que têm todas muito valor" (21.10.1492). Durante a terceira viagem, ele mantém o mesmo esquema de pen samento: acha que as terras
são ricas, pois deseja ardente mente que o sejam; sua convicção é sempre anterior à ex periência. "E ele ansiava em penetrar os segredos destas
terras, pois achava impossível que elas não contivessem coi sas de valor" (Las Casas, Historia, 1, 136).
Quais são os 'sinais" que lhe permitem confirmar suas convicções? Qual é o procedimento de Colombo herme neuta? Um rio lhe faz lembrar o Tejo. "Ele lembrou-se en
tão que na embocadura do Tejo, próximo ao mar, encon tra-se ouro, e pareceu-lhe certo que devia haver dele aqui" ("Diário", 25.11.1492): nào só uma vaga analogia
deste gê nero não prova nada, como também o próprio ponto de partida é falso: no Tejo não há ouro. Ou ainda: "O Almi rante diz que onde há cera deve haver milhares
de outras boas coisas" (29.11.1492): esta inferência nem se compara ao célebre "onde há fumaça há fogo"; e o mesmo serve para outra, onde a beleza da ilha leva Colombo
a concluir suas riquezas.
Um de seus correspondentes, Mosén Jaume Ferrer, ha via escrito em 1495: "A maioria das coisas boas vem das regiões muito quentes, cujos habitantes são negros, ou
pa pagaios Os negros e os papagaios são portanto conside rados como sinais (provas) de calor, e este último como sinal de riqueza. Deveria surpreender-nos, então,
o fato de Colombo nunca deixar de registrar a abundância de papa- gaios, o negrume da pele e a intensidade do calor? 'Os ín dios que subiam à nave tinham entendido
que o' Almirante desejava ter algum papagaio" (13.12.1492): agora sabemos por quê! Durante a terceira viagem, ele vai mais para o sul:
"Aí, as gentes são extremamente negras. E quando dai na veguei em direção ao Ocidente, o calor era extremo" ('Car ta aos Reis", 31.8.1498). Mas o calor é bem-vindo:
'Do calor que, diz o Almirante, eles suportaram nesse lugar, ele deduziu que, nessas Índias e por onde iam, devia haver muito ouro" ("Diário", 20.11.1492). Las Casas
faz uma ob servação justa sobre um outro exemplo semelhante: "É uma maravilha ver como, quando um homem deseja muito algo e se agarra firmemente a isso em sua imaginaçãd,
tem a impressão, a todo momento, de que tudo aquilo que ou ve e vê testemunha a favor dessa coisa" (Historia, 1, 44).
A procura da localização da terra firme (o continente) constitui um outro exemplo espantoso deste comporta-
r
24
25
mento. Desde a primeira viagem. Colombo registra em seu diário a informação pertinente: "Esta ilha Hispaniola (Haiti) e a outra ilha, Yamaye (Jamaica). estão a somente
dez dias de canoa da terra firme, o que pode significar de sessenta a setenta léguas, e lá as gentes se vestem" (6.1.1493). Ele tem, porém, suas convicções, ou seja,
que a ilha de Cuba é uma parte do continente (da Ásia), e decide eliminar qual quer informação que tenda a provar o contrário. Os índios encontrados por Colombo
diziam que essa terra (Cuba) era uma ilha; já que a informação não lhe convinha, ele recusava a qualidade de seus informantes. "E como são homens bestiais e que
pensam que o mundo inteiro é uma ilha, e que nem sabem o que é um continente, e não pos suem nem cartas nem documentos antigos, e só encon tram prazer em comer e
estar com as mulheres, disseram que era uma ilha (Bernaldez, transcrevendo o diário da segunda viagem). E possível nos perguntarmos em que, exatamente, o amor pelas
mulheres invalida a afirmação de que o país é uma ilha. De qualquer modo, no final desta segunda expediçào, assistimos a uma cena célebre e gro tesca, onde Colombo
se recusa definitivamente a verificar pela experiência se Cuba é uma ilha, e decide aplicar o ar gumento de autoridade em relação a seus companheiros:
todos descem à terra, e cada um pronuncia um juramento afirmando que "não tinha dúvida alguma de que fosse terra firme e não uma ilha, e que antes de muitas léguas,
nave gando pela dita costa, encontrariam um país de gente edu cada e conhecedora do mundo (...) Sob pena de dez mil maravedis (moeda espanhola) para quem dissesse
depois o contrário do que agora dizia, e a cada vez, em qualquer tempo; sob pena também de ter a língua cortada, e, para os grumetes e gentes desta espécie, que
nesse caso lhes sejam dadas cem chicotadas e que se lhes corte a língua" ("Jura mento sobre Cuba", junho de 1494). Estranho juramento esse, em que juram que encontrarão
gente civilizada
A interpretaçào dos sinais praticada por Colombo é de terminada pelo resultado ao qual ele deve chegar. Até sua façanha, a descoberta da América, relaciona-se ao
mesmo comportamento: ele não a descobre, encontra-a onde "sa
bia" que estaria (onde ele pensava estar a costa ocidental da Ásia). "Ele sempre tinha achado, no fundo de seu cora ção", relata Las Casas, 'quaisquer que fossem
as razões dessa opinião (eram a leitura de Toscaneili e das profecias de Esdras), que atravessando o oceano para além da ilha de Hierro, por uma distância de aproximadamente
setecentas e cinqüenta léguas, acabaria por descobrir a terra" (Histo ria, 1, 139). Já percorridas setecentas léguas, ele proíbe a navegação durante a noite, temendo
deixar escapar a ter ra, que ele sabe estar bem próxima. Esta convicção é bem anterior à viagem; Fernando e Isabel lembram-se disso numa carta que segue a descoberta:
"O que vós nos anunciastes realizou-se como se vós o tivésseis visto antes de dizê-lo a nós" (carta de 16,8.1494). O próprio Colombo, aposterio ri, atribui sua descoberta
a este conhecimento apriori, que identifica à vontade divina e às profecias (de fato bastante invocadas por ele nesse sentido): "Já disse que para a exe cução do
empreendimento das Índias, a razão, a matemá tica e o mapa-múndi não me foram de nenhuma utilidade. Tratava-se apenas da realização do que Isaias havia predi to"
("Prefácio" ao Livro das profecias, 1501). Do mesmo modo, Colombo descobre (na terceira viagem) o continen te americano propriamente dito porque procura, de maneira
bem ordenada, aquilo que chamamos de América do Sul, como revelam suas anotações no livro de Pierre d'Ailly: por razões de simetria, deve haver quatro continentes
no glo bo: dois ao norte e dois ao sul; ou, vistos no sentido con trário, dois a leste e dois a oeste. A Europa e a África ("Etió pia") formulam o primeiro par norte-sul;
a Ásia é o elemen to norte do segundo; resta descobrir, não, achar onde está localizado o quarto continente. Assim, a interpretação "fi nalista" não é obrigatoriamente
menos eficaz do que a interpretação empirista: os outros navegadores não ousa vam empreender a viagem de Colombo, porque não tinham a sua certeza.
Este tipo de interpretação, baseado na pré-ciência e na autoridade, nada tem de 'moderno". Porém, como vimos, esta atitude é compensada por outra, que nos é bem
mais
26
27
familiar; é a admiração intransitiva da Natureza, tão intensa que se libera de toda interpretação e de toda função: é urna apreciaçào da Natureza que já nào tem
nenhuma utilidade. Las Casas transcreve um trecho do diário de sua terceira viagem, que mostra Colombo preferindo a beleza à utilida de: "Ele diz que mesmo se não
houvesse lucros a obter, pela beleza dessas terras, (...) não deveríamos estimá-las menos" (Historia, 1, 131). E a enumeração das admirações de Colombo não teria
fim, "Toda esta terra é de monta nhas muito altas e muito belas, nem áridas nem rocho sas, mas muito acessíveis e com vales magníficos. Como as montanhas, os vales
são repletos de árvores altas e fres cas, que se tem grande satisfaçào em avistar" ("Diário", 26.11,1492). "Aqui, os peixes são tào diferentes dos nos sos, que é
uma maravilha. Há alguns que sào, como os galos, enfeitados das mais lindas cores do mundo: azuis, amarelos, vermelhos e de todas as cores. Outros são mati zados
de mil maneiras e suas cores são tão belas que não há quem nào fique maravilhado e extasiado em vê-los. Há também baleias" (16.10.1492). "Aqui e por toda ilha, as
árvores são verdes e as ervas também, como no mês de abril, na Andaluzia. O canto dos passarinhos é tal que pareceria que jamais o homem desejaria partir daqui.
Os bandos de papagaios escondem o sol. Pássaros e passari nhos são de tantas espécies, e tào diferentes dos nossos, que é uma maravilha" (21.10.1492). Até o vento
ali "sopra muito carinhosamente" (24.10.1492),
Para descrever sua admiração cia natureza, Colombo não pode evitar os superlativos, O verde das árvores é tão intenso que deixa de ser verde, "As árvores eram ali
tão vi çosas que suas folhas deixavam de ser verdes e ficavam escuras de tanto verdejar" (16.12,1492), "Veio da terra um perfume, tào bom e tão suave, das flores
ou das árvores, que era a coisa mais doce do mundo" (19.10. 1492), "Ele diz ainda que aquela ilha é a mais bela que os olhos jamais viram" (28.10.1492), "Ele disse
que nunca tinha visto coisa mais bela do que aquele vale no meio do qual corre o rio" (15.12.1492), "É certo que a beleza destas ilhas, com seus
montes e suas serras, suas águas e seus vales regados por rios caudalosos, é um espetáculo tal que nenhuma outra terra sob o sol pode parecer melhor ou mais magnífica"
("Relatório para Antonio de Torres", 30.1.1494).
Colombo tem consciência do que estes superlativos podem ter de inverossímil e, conseqüentemente, de pouco convincente; mas resolve correr o risco, já que era impos
sível proceder de outro modo. "Ele foi ver o porto e afir mou que entre todos os que já tinha visto nenhum se igua lava àquele. E pede desculpas, dizendo que tanto
elogiou os outros que já não sabe como elogiar aquele, e que teme ser acusado de tudo magnificar em demasia. Mas justifica seus elogios..." ("Diário", 21.12.1492).
E jura que não está exagerando: "Ele diz tanto e tais coisas da fertilidade, da beleza e da altitude das ilhas encontradas nesse porto, que pede aos Reis que não
se espantem com tantos elogios. pois lhes garante que não crê dizer destas coisas um cen tésimo" (14.11.1492). E deplora a pobreza de seu verbo:
"Dizia aos homens que o acompanhavam que, para fazer para os Reis uma relação de tudo quanto viam, mil línguas não bastaram para expressá-lo nem sua mão para escre
vê-lo, e que lhe parecia estar encantado" (27.11.1492).
A conclusão desta admiração ininterrupta é lógica: o desejo de não deixar este ápice de beleza. "Disse que era um grande prazer ver todo aquele verdor, aquelas matas
e pássaros que não podia decidir-se a deixar para retornar aos navios", lemos no dia 28 de outubro de 1492, e ele con clui, alguns dias depois: "Foi coisa tão maravilhosa
ver as árvores e o frescor, a água tão cristalina, os pássaros e a sua vidade dos lugares que ele diz acreditar que não quer mais partir daqui" (27.11.1492). As
árvores são as verdadeiras se reias de Colombo. Diante delas, ele esquece suas interpreta ções e sua busca de lucro, para reiterar, incansavelmente, o que não serve
para nada, não conduz a nada, e que, portan to, só pode ser repetido: a beleza. "Ele parava por mais tem po do que teria desejado, pelo desejo que tinha de ver e
o deleite que experimentava em olhar a beleza e o frescor das terras, onde quer que entrasse" (27.11.1492). Talvez encon
28
29
tre aí um motivo que animou todos os grandes viajantes, conscientemente ou não,
A observação atenta da natureza conduz a três direções diferentes: à interpretaçào puramente pragmátic# e eficaz, quando se trata de assuntos de navegação; à interpretação
finalista, em que os sinais confirmam as crenças e esperan ças que se têm; e, finalmente, a esta recusa de interpretação que é a admiração intransitiva da natureza,
a submissão absoluta à beleza, onde se gosta de uma árvore porque é bela, porque é, e não porque poderia ser utilizada como mastro de um navio, ou porque sua presença
promete riquezas. Em relaçào aos sinais humanos, o comportamen to de Colombo será, finalmente, mais simples.
De uns a outros, há solução de continuidade. Os si nais da natureza são indícios, associações estáveis entre duas entidades, e basta que uma esteja presente para
que se possa imediatamente inferir a outra. Os sinais humanos, ou seja, as palavras da língua, não são simples associações, não unem diretaniente um som a uma coisa,
passam por intermédio do sentido, que é uma realidade intersubjetiva. Primeiro fato que chama a atenção: Colombo, em matéria de linguagem, parece notar só os nomes
próprios, que, em certos aspectos, são os que mais se assemelham aos indí cios naturais. Observemos, pois, esta atençào aos nomes próprios, e, para começar, a preocupação
de Colombo em relação a seu próprio nome, a ponto de, como se sabe, mo dificar-lhe a ortografia várias vezes no decorrer de sua vida. Cedo aqui, mais uma vez, a
palavra a Las Casas, grande admirador do Almirante e fonte única de inumeráveis in formações a seu respeito, que revelará o sentido destas mu danças (Historia, 1,
2): "Mas este homem ilustre, renuncian do ao nome estabelecido pelo costume, quis chamar-se Colón, recuperando o vocábulo antigo, menos por esta razão (ser o nome
antigo) do que, devemos acreditar, mo vido pela vontade divina que o havia eleito para realizar o que seu nome e sobrenome significavam. A Providência di vina quer,
geralmente, que as pessoas por Ela designadas para servir recebam nomes e sobrenomes adequados à
tarefa que lhes é confiada, como se viu em muitos lugares na Escritura Santa: e o Filósofo diz, no capítulo IV de sua Metafísica: 'Os nomes devem convir às qualidades
e aos usos das coisas.' Por isso ele era chamado Cristobal, isto é, Christurn Ferens, que quer dizer portador do Cristo, e é assim que ele assinava freqüentemente;
pois em verdade foi o primeiro a abrir as portas do mar Oceano, para fazer passar nosso Salvador Jesus Cristo, até essas terras longín quas e remos até então desconhecidos
(...) Seu sobrenome foi Colón, o que quer dizer repovoador, nome que con vém àquele cujo esforço fez descobrir essas gentes, essas almas em número infinito que,
graças à pregação do Evan gelho. (...) foram e irão todos os dias repovoar a cidade gloriosa do Céu. Também lhe convém na medida em que foi o primeiro a fazer vir
gentes da Espanha (embora não as que deveria), para fundar colônias, ou populações no vas que, estabelecendo-se junto aos habitantes naturais (...), deviam constituir
uma nova (...) Igreja cristã e um Estado feliz."
Colombo (4) e, depois dele. Las Casas, assim como muitos de seus contemporâneos, acreditam, portanto, que os nomes. ou. pelo menos, os de pessoas excepcionais. devem
ser à imagem de seu ser. E Colombo tinha conser vado nele mesmo dois traços dignos de figurar até em seu nome: o evangelizador e o colonizador; e tinha razão. A
mesma atenção para com o nome, que beira o fetichismo, manifesta-se nos cuidados de que cerca sua assinatura; pois ele não assina, como qualquer um, seu nome, mas
uma si gla particularmente elaborada - tão elaborada, aliás, que ainda não se pode penetrar seu segredo. E não se conten ta em utilizá-la, impondo-a também a seus
herdeiros. Lê-se na instituição de morgado: Meu filho Don Diego e qual quer outra pessoa que herde este morgado, a partir do mo mento em que o herdar e dele tomar
posse, assinará minha própria assinatura, tal como é por mim utilizada no mo mento. ou seja. um X com um S acima; um M com um A romano abaixo, com traços e vírgulas,
tal qual traço-os ago ra, e que podem ser vistos em minhas assinaturas, que p0-
30
31
dem ser encontradas em grande número, e tal qual podem ser vistos pela presente" (22.2.1498).
Até os pontos e vírgulas são estabelecidos de ante mão! Esta atenção excessiva para com o próprio nome en contra um prolongamento natural em sua atividade de denominador,
durante as viagens. Como Adão no Éden, Colombo apaixona-se pela escolha dos nomes do mundo virgem que está vendo; e, assim como para ele mesmo, os nomes devem ser
motivados. A motivação é estabelecida de várias maneiras. No início, há uma espécie de diagra ma: a ordem cronológica dos batismos corresponde à ordem de importância
dos objetos associados aos nomes. A se qüência será: Deus, a Virgem Maria, o rei de Espanha, a rai nha, a herdeira real. "À primeira que encontrei (trata-se de ilhas),
dei o nome de San Salvador, em homenagem a Sua Alta Majestade, que maravilhosamente deu-me tudo isto. Os índios chamam esta ilha de Guanaani. À segunda ilha dei
o nome de Santa Maria de Concepción, à terceira, Fer nandina, à quarta, Isabela, à quinta, Juana, e assim a cada uma delas dei um novo nome" ("Carta a Santangel",
feve reiro-março de 1493).
Colombo sabe perfeitamente que as ilhas já têm no me, de uma certa forma, nomes naturais (mas em outra acepção do termo); as palavras dos outros, entretanto, não
lhe interessam muito, e ele quer rebatizar os lugares em função do lugar que ocupam em sua descoberta, dar-lhes nomes justos; a nomeação, além disso, equivale a
tomar posse. Mais tarde, os registros religioso e real já quase es gotados, recorre a uma motivação mais tradicional, por semelhança direta, que ele justifica em
seguida. "Dei a esse cabo o nome de Cabo Belo, porque é realmente belo" (19.10.1492). "Chamou-as de ilhas de Areia, pelo pouco fundo que tinham por seis léguas em
sua parte sul" (27.10.1492). "Viu um cabo coberto de palmeiras, e no meou-o Cabo das Palmeiras" (30.10.1492). "Há um cabo que avança muito no mar, às vezes alto
e às vezes baixo, e por isso ele nomeou-o Cabo Alto-e-Baixo" (19.12.1492). "Encontramos partículas de ouro nos aros dos barris (...).
O Almirante deu ao rio o nome de Rio do Ouro" (8.1.1493).
"Quando avistou a terra, foi um cabo que nomeou do Pai
e do Filho, porque sua extremidade leste é dividida em
duas pontas rochosas, uma maior do que a outra" (12.1.1493,
1, 195). "Chamei o local de Os Jardins, porque era o nome
que convinha..." ("Carta aos Reis", 31.8.1498).
As coisas devem ter os nomes que lhes convêm. Há dias em que esta obrigação deixa Colombo num estado de verdadeiro furor nominativo. Assim, a 11 de janeiro de 1493:
"Navegou quatro léguas em direção ao leste, até um cabo que chamou de Gurupês. De lá, a sudeste eleva-se o mon te que ele chamou de Monte da Prata, que diz estar
a oito léguas. Dezoito léguas a leste, quarta sudeste do Cabo Gu rupês encontra-se o cabo que ele chamou do Anjo. (...) Quatro léguas a leste, quarta sudeste do
Cabo do Anjo, há uma ponta que o Almirante chamou de Ponta do Ferro. Quatro léguas adiante, na mesma direção, uma outra ponta que nomeou Ponta Seca, e ainda seis
léguas além, o cabo que chamou de Cabo Redondo. Mais além, a leste, está o Cabo Francês . Ele parece ter tanto prazer nisso que há dias em que dá dois nomes sucessivos
ao mesmo lugar (por exemplo, no dia 6 de dezembro de 1492, um porto que de madrugada tinha sido nomeado Maria fica sendo São Nicolau no fim da tarde). Por outro
lado, se alguém quiser imitá-lo em sua ação de nomeador, ele anula a deci são para impor o nome que ele quer: durante sua fuga, Pin zón tinha nomeado um rio com
seu próprio nome (coisa que o Almirante nunca faz), mas Colombo apressa-se em rebatizá-lo "Rio de Graça". Nem os índios escapam da tor rente de nomes: os primeiros
homens levados à Espanha são rebatizados Don Juan de Castilia e Don Fernando de Aragón...
O primeiro gesto de Colombo em contato com as ter ras recentemente descobertas (conseqüentemente, o primei ro contato entre a Europa e o que será a América) é uma
espécie de ato de nominação de grande alcance: é uma de claração segundo a qual as terras passam a fazer parte do reino da Espanha. Colombo desce à terra numa barca
deco
32
33
rada com o estandarte real, acompanhado por dois de seus capitães, e pelo escrivão real, munido de seu tinteiro. Sob os olhares dos índios, provavelmente perplexos,
e sem se preocupar com eles, Colombo faz redigir um ato. "Ele lhes pediu que dessem fé e testemunho de que ele, diante de todos, tomava posse da dita ilha - como
de fato tomou - em nome do Rei e da Rainha, seus Senhores (11.10.1492). Que este tenha sido o primeiro ato de Colombo na Amé rica nos diz bastante da importância
que tinham para ele as cerimônias de nominação.
Como dissemos, os nomes próprios constituem um se tor muito particular do vocabulário: desprovidos de senti do, servem somente para denotar, mas não servem, direta
mente, para a comunicação humana; dirigem-se à nature za (o referente), não aos homens; sào, à semelhança dos índices, associações diretas entre seqüências sonoras
e seg mentos do mundo. A parte da comunicação humana que prende a atenção de Colombo é, pois, precisamente o se tor da linguagem que serve unicamente, pelo menos
num primeiro momento, para designar a natureza.
Quando Colombo se volta para o resto do vocabulário, ao contrário, mostra muito pouco interesse e revela ainda mais sua concepção ingênua da linguagem, já que sempre
vê os nomes confundidos às coisas: toda a dimensão de intersubjetividade, do valor recíproco das palavras (por oposição á sua capacidade denotativa), do caráter
huma no, e portanto arbitrário, dos signos, lhe escapa. Aqui está um episódio significativo, uma espécie de paródia do tra balho etnográfico: tendo aprendido o vocábulo
indígena "cacique", preocupa-se menos em saber o que significa na hierarquia, convencional e relativa, dos índios, do que em ver a que palavra espanhola corresponde
exatamente, co mo se fosse óbvio que os índios estabelecem as mesmas distinções que os espanhóis; como se o uso espanhol não fosse uma convenção entre tantas, e
sim o estado natural das coisas: "Até então, o Almirante não pudera compreen der se esta palavra (cacique) significava rei ou governador. Eles tinham também uma
outra palavra para os grandes,
que chamavam nitayno, mas ele não sabia se designava um fidalgo, um governador ou um juiz" ("Diário", 23.12.1492). Colombo nào duvida nem por um segundo de que os
ín dios, como os espanhóis, distinguem entre fidalgo, gover nador, e juiz; sua curiosidade limita-se ao exato equivalen te indígena destes termos. Para ele, todo
o vocabulário é semelhante aos nomes próprios, e estes decorrem das pro priedades dos objetos que designam: o colonizador deve chamar-se Colón. As palavras são -
e não são nada mais que isso - a imagem das coisas.
Não será nada surpreendente notar a pouca atenção que Colombo dá às línguas estrangeiras. Sua reação espon tânea, nem sempre explícita, mas subjacente a seu com
portamento, é que, no fundo, a diversidade lingüística não existe, já que a língua é natural, O que se torna ainda mais surpreendente na medida em que o próprio
Colombo é poliglota, e ao mesmo tempo desprovido de língua mater na: pratica tão bem (ou tão mal) o genovês quanto o latim, o português e o espanhol; mas as certezas
ideológicas sempre souberam superar as contingências individuais. Até sua convicção da proximidade da Ásia, que lhe dá a co ragem de partir, baseia-se num mal-entendido
lingüistico caracterizado. É opinião comum em sua época que a Terra é redonda; mas acredita-se, com razão, que a distância en tre a Europa e a Ásia pela via ocidental
é muito grande, tal vez até demais. Colombo aceita a autoridade do astrôno mo árabe Alfragamus, que indica com bastante correção a circunferência da Terra, mas exprime-a
em milhas árabes, de um terço superiores às milhas italianas, a que Colombo está acostumado. Este não pode conceber que as medidas sejam convenções, que o mesmo
termo tenha significados diferentes segundo as diferentes tradições (ou línguas, ou contextos); traduz então em milhas italianas, e a distância não parece estar
além de suas forças. E, apesar de a Ásia não estar onde ele pensa que está, tem como consolo a desco berta da América...
Colombo não reconhece a diversidade das línguas e, por isso, quando se vê diante de uma língua estrangeira,
34
35
só há dois comportamentos possíveis, e complementares:
reconhecer que é uma língua, e recusar-se a aceitar que seja diferente, ou então reconhecer a diferença e recusar-se a admitir que seja uma língua... Os índios que
encontra logo no início, a 12 de outubro de 1492, provocam uma reação do segundo tipo; ao vê-los, promete: "Se Deus as sim o quiser, no momento da partida levarei
seis deles a Vossas Altezas, para que aprendam a falar" (estes termos chocaram tanto os vários tradutores franceses de Colombo que todos corrigiram: "para que aprendam
nossa língua"). Mais tarde, consegue admitir que eles têm uma língua, mas não chega a conceber a diferença, e continua a escutar palavras familiares em sua língua,
e fala com eles como se devessem compreendê-lo, e censura-os pela má pronúncia de palavras ou nomes que pensa reconhecer. Com esta de formação de audição, Colombo
mantém diálogos engraçados e imaginários, dos quais o mais longo refere-se ao Grande Can, meta de sua viagem. Os índios dizem a palavra Ca riba, designando os habitantes
(antropófagos) do Caribe. Colombo entende caniba, ou seja, gente do Can. Mas en tende também que, segundo os índios, estas personagens têm cabeça de cão (do espanhol
can), com as quais, justa mente, comem-nos. E acha que os índios estão inventando histórias, censurando-os então por isso: "O Almirante acha va que estavam mentindo,
e acreditava que aqueles que os capturavam eram da senhoria do Grande Can" (26.11.1492).
Quando Colombo reconhece, enfim, a diferença de uma língua, gostaria que, pelo menos, fosse a de todas as outras; há, em suma, as línguas latinas de um lado, e as
línguas estrangeiras do outro. As semelhanças são grandes no interior de cada grupo, a julgar pela facilidade do pró prio Colombo para as primeiras, e a do especialista
em lín guas que traz com ele para as outras. Quando ouve falar de um grande cacique no interior das terras, que imagina ser o Can, envia, como emissário, "um certo
Luis de Torres que tinha vivido com o governador de Múrcia e tinha sido judeu e sabia, dizem, o hebraico, o caldeu e um pouco de árabe" (2.11.1492). É possível que
nos perguntemos em
que língua teriam sido feitas as negociações entre o enviado de Colombo e o cacique índio, aliás imperador da China; mas este último não compareceu ao encontro.
O resultado desta falta de atenção para com a língua do outro é fácil de prever: de fato, em todo o decorrer da primeira viagem, antes de os índios levados à Espanha
te rem aprendido a "falar", é a total incompreensão; ou, como diz Las Casas, na margem do diário de Colombo: "Estavam todos no escuro, pois não compreendiam o que
os índios diziam" (30.10.1492). Isto não chega a ser chocante, nem surpreendente; ao contrário, o que choca e surpreende é o fato de Colombo agir o tempo todo como
se entendesse o que lhe dizem, dando, simultaneamente, provas de sua in compreensàO. A 24 de outubro de 1492, por exemplo, es creve: 'Pelo que ouvi dos índios, (a
ilha de Cuba) é bas tante extensa, de grande comércio, e que havia nela ouro e especiarias e grandes naus e mercadores." Mas, duas li nhas abaixo, no mesmo dia,
escreve: 'não compreendo a linguagem deles". Portanto, o que ele "entende" e "escuta" é simplesmente um resumo dos livros de Marco Polo e Pierre d'Ailly. 'Ele entendeu
que vinham até ali navios de grande tonelagem, pertencenteS ao Grande Can, e que a terra firme estava a dez dias de navegação" (28.10.1492). "Repito, pois, o que
disse repetidas vezes: Caniba não é nada senão o povo do Grande Can, que deve ser vizinho deste." E continua com este comentário saboroso: "A cada dia que passa,
diz o Almirante, compreendemos melhor es tes índios, e com eles acontece o mesmo, embora várias vezes tenham tomado uma coisa por outra" (11.12.1492). Dispomos de
outro relato que ilustra a maneira pela qual seus homens faziam-se compreender pelos índios: "Os Cris tãos, achando que, se saíssem de suas chalupas em grupos de
dois ou três no máximo, os índios não teriam medo, avançaram em direção a eles de três em três, dizendo que não os temessem em sua língua que conheciam um pouco
pela conversa daqueles que traziam. No fim, todos os ín dios se puseram a fugir, de modo que não restou nem grande nem pequeno" (27.11.1492).
36
37
Colombo nem sempre é enganado por suas ilusões, e admite que não há comunicação (o que torna ainda mais problemáticas as "informações" que pensa obter em suas conversas):
"Não conheço a língua das gentes daqui, eles não me compreendem e nem eu nem nenhum de meus homens os entendemos" (27.11.1492) E diz ainda que só compreendia a língua
dos indígenas "por conjecturas" (15.1.1493) sabemos, no entanto, o quanto esse método é pouco seguro...
A comunicação nào-verbal não é nada melhor que a troca de palavras. Colombo prepara-se para desembarcar com seus homens. "Um dos índios (que estão diante dele) veio,
pelo rio, até a popa da barca e iniciou um longo dis curso, que o Almirante não compreendeu (o que em nada surpreende). Mas notou que os outros índios, de tempos
em tempos, levantavam as mãos ao céu e davam um grito.
O Almirante achava que eles lhe diziam que sua vinda lhes agradava (exemplo típico de wish thinking), mas viu que o índio que trazia consigo (este sim, compreende
a língua) mudava de cor, ficando amarelo como a cera, e tre mia muito, dizendo por sinais que era preciso que o Almi rante saísse do rio, porque queriam matá-los"
(3.12.1492). Resta saber se Colombo entendeu bem o que o segundo índio lhe dizia "por sinais". Eis um exemplo de emissão simbólica mais ou menos tão bem-sucedida
quanto a pri meira: "Eu desejava muito falar com eles, e já não tinha nada que lhes pudesse ser mostrado para que viessem, ex ceto um tamborim que mandei trazer
ao castelo de popa, para ser tocado e fazer dançar alguns jovens, pensando que eles viriam ver a festa. Mas assim que viram o tambo rim ser tocado e a dança, todos
abandonaram os remos, tomaram seus arcos, estenderam-nos, cada um cobrindo-se com o escudo, e começaram a atirar flechas sobre nós" ("Carta aos Reis", 31.8.1498).
Estes fracassos não se devem unicamente à ignorância da língua e dos costumes dos índios (embora Colombo pu desse ter tentado vencê-la): os intercâmbios com os euro
peus também não são bem-sucedidos. Assim, voltando da
primeira viagem, nos Açores, Colombo comete um erro após outro em sua comunicação com um capitão português que lhe era hostil. Crédulo demais no início, vê seus
homens detidos, quando esperava a melhor das recepções; dissimu lador grosseiro em seguida, não consegue atrair o capitào a seu navio, para prendê-lo. Sua percepção
dos homens à sua volta não é muito clarividente: aqueles em quem deposita toda confiança (como Roldán, ou Hojeda) voltam-se em se guida contra ele, ao passo que
ele negligencia pessoas que lhe são realmente dedicadas, como Diego Mendez.
Colombo não é bem-sucedido na comunicação huma na porque não está interessado nela. Lê-se em seu diário, a 6 de dezembro de 1492, que os índios que havia trazido
a bordo de seu barco tentam escapar e inquietam-se ao ver-se longe de sua ilha. "Aliás ele os compreendia tão mal quanto eles a ele, e tinha o maior temor do mundo
das gentes desta ilha. Assim, para conseguir falar com os habi tantes desta ilha, teria sido necessário permanecer alguns dias neste porto. Mas ele não o fazia,
para ver mais terras e duvidando que o bom tempo durasse." Tudo está aí, no encadeamento de algumas frases: a pouca percepção que Colombo tem dos índios, mistura
de autoritarismo e con descendência; a incompreensão de sua língua e de seus si nais; a facilidade com que aliena a vontade do outro visan do a um melhor conhecimento
das ilhas descobertas; a pre ferência pela terra, e não pelos homens. Na hermenêutica de Colombo, estes não têm lugar reservado.
38
39
Colombo e os índios
Colombo fala dos homens que vê unicamente porque estes, afinal, também fazem parte da paisagem. Suas men ções aos habitantes das ilhas aparecem sempre no meio de
anotações sobre a Natureza, em algum lugar entre os pás saros e as árvores. "No interior das terras, há muitas minas de metais e inúmeros habitantes" ("Carta a Santangel",
fe vereiro-março de 1493). "Até então, ia cada vez melhor, na quilo que tinha descoberto, pelas terras como pelas flores tas, plantas, frutos, flores e gentes" ("Diário",
25.11.1492). "As raízes ali eram tão grossas quanto as pernas, e todos, diz, eram fortes e valentes" (16.12.1492): vemos claramen te como são introduzidas as pessoas,
em função de uma comparação necessária à descrição das raízes. "Notaram que as mulheres casadas usavam panos de algodão, mas não as meninas, algumas já com dezoito
anos. Havia ainda cães mastins e perdigueiros. Encontraram também um homem que tinha no nariz uma pepita de ouro do tamanho de um meio castelhano (17.10.1492): esta
referência aos cães en tre observações sobre as mulheres e os homens indica bem o registro em que estavam inseridos.
41
A primeira referência aos índios é significativa: "Então viram gentes nuas.,." (11.10.1492). É bastante revelador que a primeira característica desta gente que chama
a aten ção de Colombo seja a falta de vestimentas - que, por sua vez, são simbolos de cultura (daí o interesse de Colombo pelas pessoas vestidas, que poderiam aproximar-se
mais do que se sabe do Grande Can; e fica um pouco decepcio nado por encontrar apenas selvagens). A mesma constatação reaparece: 'Vão completamente nus, homens e
mulheres, como suas mães os pariram" (6.11.1492). "Este rei e todo os seus andavam nus como tinham nascido, assim como suas mulheres, sem nenhum embaraço' (16.12.1492):
as mulheres, pelo menos, podiam ser mais cuidadosas. Suas observações limitam-se, freqüentemente, ao aspecto físico das pessoas: sua estatura, cor da pele (mais
apreciada na medida em que é mais clara, ou seja, mais parecida). "To dos são como os canarinos, nem negros nem brancos" (11.10.1492). "São mais claros que os de
outras ilhas, Entre outros, tinham visto jovens tão brancas quanto é possível ser na Espanha" (13,12.1492). "Há belissimos corpos de mulheres" (21.12,1492). E conclui,
com surpresa, que ape sar de nus os índios parecem mais próximos dos homens do que dos animais, "Todas as gentes das ilhas e lá da terra firme, embora tenham aparência
animalesca e andem nus ('..) parecem ser bastante razoáveis e de inteligência aguçada" (Bernaldez),
Fisicamente nus, os índios também são, na opinião de Colombo, desprovidos de qualquer propriedade cultural: ca racterizam-se, de certo modo, pela ausência de costumes,
ritos e religião (o que tem uma certa lógica, já que, para um homem como Colombo, os seres humanos passam a vestir-se após a expulsão do paraíso, e esta situa-se
na origem de sua identidade cultural). Além disso, Colombo tem, como vimos, o hábito de ver as coisas segundo sua conveniência, mas é significativo que ele seja
assim levado à imagem da nudez espiritual, "Pareceu-me que eram gente muito desprovida de tudo", escreve no primeiro encontro, e ainda: "Pareceu-me que não pertenciam
a nenhuma seita" (11,10.1492). "Estas
gentes são muito pacificas e medrosas, nuas, como já disse, sem armas e sem leis" (4,11,1492), "Não sào de nenhuma seita, nem idólatras" (27,11,1492). Já desprovidos
de língua, os índios se vêem sem lei ou religião; e, se possuem cultu ra material, esta não atrai a atenção de Colombo, não mais do que, anteriormente, sua cultura
espiritual: "Traziam pe lotas de algodão fiado, papagaios, lanças, e outras coisinhas que seria tedioso enumerar" (13.10,1492): o importante, claro, é a presença
dos papagaios. Sua atitude em relação a esta outra cultura é, na melhor das hipóteses, a de um colecionador de curiosidades, e nunca vem acompanhada de uma tentativa
de compreender: observando, pela primei ra vez, construções em alvenaria (durante a quarta viagem, na costa de Honduras), contenta-se em ordenar que se que bre delas
um pedaço, para guardar como lembrança.
É de esperar que todos os índios, culturalmente vir gens, página em branco à espera da inscrição espanhola e cristã, sejam parecidos entre si, "Todos pareciam-se
com aqueles de que já falei, mesma condição, também nus, e da mesma estatura" (17.10.1492). "Vieram muitos deles, se melhantes aos das outras ilhas, igualmente nus
e pintados" (22.10.1492), "Estes têm a mesma natureza, e os mesmos hábitos que os que até agora encontramos" (1.11,1492), "São, diz o Almirante, gente semelhante
aos índios de que já falei, de mesma fé" (3.12,1492). Os índios se parecem por estarem nus, privados de características distintivas.
Dado este desconhecimento da cultura dos índios e sua assimilação à natureza, não se pode esperar encontrar nos escritos de Colombo descrições detalhadas da popula
ção. A imagem que Colombo nos dá dos índios obedece, no início, às mesmas regras que a descrição da natureza:
decidido a tudo admirar, começa, então, pela beleza física dos índios, "Eram todos muito bem feitos, belíssimos de corpo e muito harmoniosos de rosto" (11,10,1492).
"E to dos de boa estatura, gente muito bonita" (13.10,1492). "Eram aqueles os mais belos homens e as mais belas mulheres que tinham encontrado até então" (16,12.1492).
Um autor como Pierre Martyr, que reflete exatamente as impressões (ou os fantasmas) de Colombo e de seus pri
42
43
meiros companheiros, pinta cenas idilicas. Eis que as ín dias vêm saudar Colombo: "Todas eram belas. Era como se víssemos aquelas esplêndidas náiades ou ninfas das
fon tes, tão decantadas pela Antiguidade. Tendo nas mãos feixes de palmas que seguravam ao executar suas danças, que acompanhavam de cantos, dobraram os joelhos
e os apre sentaram ao adelantado" (1, 5; cf. fig. 3).
Esta admiração, decidida de antemão, estende-se também à moral. Colombo declara de cara que são gente boa, sem se preocupar em fundamentar sua afirmação. "São as
melhores gentes do mundo, e as mais pacificas" (16.12.1492). "O Almirante diz que não crê que um homem jamais tenha visto gente de coração tão bom" (21.12.1492).
'Não creio que haja no mundo homens melhores, assim como nào há terras melhores" (25.12.1492): a fácil ligação entre homens e terras indica bem o espírito com que
es creve Colombo, e a pouca confiança que podemos depo sitar nas qualidades descritivas de suas observações. Além disso, no momento em que conhecer melhor os índios,
cairá no outro extremo, o que não tornará sua informaçào mais digna de fé: vê-se, náufrago na Jamaica, "cercado por um milhão de selvagens cheios de crueldade, e
que nos são hostis" ("Carta Rarissima", 7.7.1503). Sem dúvida, o que mais chama a atenção aqui, é o fato de Colombo só en contrar, para caracterizar os índios, adjetivos
do tipo bom/ mau, que na verdade não dizem nada: além de depende rem do ponto de vista de cada um, são qualidades que correspondem a extremos e não a características
estáveis, porque relacionadas à apreciação pragmática de uma situa ção, e não ao desejo de conhecer.
Dois traços dos índios parecem, à primeira vista, me nos previsíveis do que os outros: são a "generosidade" e a "covardia". Ao ler as descrições de Colombo, percebemos
que estas afirmações informam mais sobre o próprio do que sobre os índios. Na falta das palavras, índios e espanhóis trocam, desde o primeiro encontro, pequenos
objetos; e Colombo não se cansa de elogiar a generosidade dos ín dios, que dão tudo por nada. Uma generosidade que, às ve zes, parece-lhe beirar a burrice: por que
apreciam igual 44
mente um pedaço de vidro e uma moeda? Uma moeda pe quena e uma de ouro? "Dei", escreve, "muitas outras coisas de pouco valor que lhes causaram grande prazer" ("Diá
rio", 11.10.1492). "Tudo o que têm, dão em troca de qual quer bagatela que se lhes ofereça, tanto que aceitam na troca até mesmo pedaços de tigela e taças de vidro
que bradas" (13.10.1' "Alguns tinham pedaços de ouro no nariz, que de bom grado trocavam por (...) [ que valem tão pouco que não valem nada" (22.11.1492). "Seja
coisa de valor OU coisa de baixo preço, qualquer que seja o objeto que se lhes dá em troca e qualquer que seja seu va lor, ficam satisfeitos" ("Carta a Santangel",
fevereiro-março de 1493). Colombo não compreende que os valores são convenções - a mesma incompreensão que mostrou em relação às línguas, como vimos - e que o ouro
não é mais precioso do que o vidro "em si", mas somente no sistema
Fig. 3- Colombo desembarca no Haiti
45
europeu de troca. E, quando conclui a descrição das trocas dizendo: "Até pedaços de barris quebrados aceitavam, dan do tudo o que tinham, como bestas idiotas!" ("Carta
a San tangel", fevereiro-março de 1493), temos a impressão de que é ele o idiota: um sistema de troca diferente significa, para ele, a ausência de sistema, e daí
conclui pelo caráter bestial dos índios.
O sentimento de superioridade gera um comportamento protecionista: Colombo nos diz que proíbe seus marinheiros de efetuarem trocas, segundo ele, escandalosas. No
entanto, vemos o próprio Colombo oferecer presentes estranhos, que hoje associamos aos "selvagens" (mas foi Colombo o primeiro a ensiná-los a apreciar e exigir tais
presentes). "Mandei procurá-lo, dei-lhe um gorro vermelho, algumas miçangas de vidro verde, que pus em seu braço, e um par de guizos que prendi a suas orelhas" ("Diário",
15.10.1492). "Dei-lhe um belissimo colar de âmbar que trazia no pesco ço, um par de calçados vermelhos e um frasco de água de flor de laranjeira. Alegrou-se muito
com isso" (18.12.1492). "O senhor já trazia camisa e luvas que o Almirante lhe ti nha dado" (26.12.1492). Compreende-se que Colombo fique chocado com a nudez do
outro, mas luvas, um gorro ver melho e sapatos seriam, nessas circunstâncias, presentes mais úteis do que taças de vidro quebradas? Em todo caso, os chefes índios
poderão vir visitá-los vestidos... Veremos que depois os índios descobrirão outros usos para os pre sentes espanhóis, embora sua utilidade continue não sendo demonstrada.
'Como não tinham vestimentas, os indíge nas se perguntaram de que poderiam servir agulhas, e os espanhóis satisfizeram sua engenhosa curiosidade, mos trando-lhes
por gestos que as agulhas servem para arran car os espinhos que freqüentemente lhes penetram a pele, ou para limpar os dentes; e assim começaram a fazer delas muito
caso" (Pierre Martyr, 1, 8).
É com base nessas observações e trocas que Colom bo declara que os índios são as pessoas mais generosas do mundo, dando assim urna contribuição importante ao mito
do bon sauvage. "Não cobiçam os bens de outrem"
(26.12.1492). "São a tal ponto desprovidos de artifício e tão generosos com o que possuem, que ninguém acreditaria a menos que o tivesse visto" ("Carta a Santangel",
feverei ro-março de 1493). "E que não se diga, diz o Almirante, que dão generosamente porque o que davam pouco valia, pois os que davam urna pepita de ouro e os
que davam a cabaça de água agiam do mesmo modo, e com a mesma liberalidade. E é fácil saber, diz o Almirante, quando se dá uma coisa de coração" ("Diário", 21.12.1492).
A coisa é, na verdade, menos simples do que parece. Colombo pressente isso quando, em sua carta a Santangel, recapitula sua experiência: "Não pude saber se possuem
bens privados, mas tive a impressão de que todos tinham direitos sobre o que cada um possuía, especialmente no que se refere aos víveres" (fevereiro-março de 1493).
Será que uma outra relação com a propriedade privada explicaria estes comportamentos "generosos"? Fernando, o filho, diz algo nesse sentido quando relata um episódio
da segunda viagem: "Alguns índios que o Almirante tinha trazido de Isabela entraram nas cabanas (que pertenciam aos índios locais) e serviram-se de tudo o que era
de seu agrado; os proprietários não deram o menor sinal de aborrecimento, como se tudo o que possuíssem fosse propriedade comum. Os indígenas, achando que tínhamos
o mesmo costume, no início pegaram dos cristãos tudo o que era de seu agra do; mas notaram seu erro rapidamente" (51). Colombo, nesse momento, esquece sua própria
impressão, e declara logo depois que os índios, longe de serem generosos, são todos ladrões (inversão paralela àquela que os tinha trans formado de melhores homens
do mundo em selvagens vio lentos). Imediatamente, impõe-lhes castigos cruéis, os mes mos que se costumava então aplicar na Espanha: "Como na viagem que fiz a Cibao,
ocorreu que algum índio rou bou, se fosse descoberto que alguns deles roubam, casti gai-os cortando-lhes o nariz e as orelhas, pois são partes do corpo que não se
pode esconder" ("Instruções a Mosen Pedro Margarite", 9.4.1494).
O discurso sobre a "covardia" encaminha-se do mes mo modo. No início, é a condescendência risonha: "Não
46
47
têm armas e são tão medrosos que um dos nossos bastaria para fazer fugir cem deles, mesmo brincando" ("Diário", 12.11.1492). "O Almirante garante aos Reis que com
dez homens faríamos fugir dez mil deles, a tal ponto são co vardes e medrosos" (3.12.1492). "Não possuem nem ferro, nem aço, nem armas, e não são feitos para isso;
não por que não sejam saudáveis, e de boa estatura, mas porque são prodigiosamente medrosos" ("Carta a Santangel", feve reiro-março de 1493). A caça aos índios pelos
cães, outra "descoberta" de Colombo, baseia-se numa observação se melhante: "Pois, contra os índios, um cão equivale a dez homens" (Bernaldez). Por isso, Colombo
deixa tranqüila- mente parte de seus homens em Hispaniola, no final da primeira viagem. Ao voltar, um ano depois, é forçado a admitir que foram todos mortos por
aqueles índios medro sos e ignorantes das armas. Teriam eles se organizado em bandos de mil para acabar com cada um dos espanhóis? Então, cai no outro extremo, deduzindo,
de algum modo, a coragem a partir da covardia. "Não há gente pior do que os covardes que nunca arriscam suas vidas no confronto direto, e sabereis que se os índios
encontrarem um ou dois homens isolados, não é de espantar que os matem" ("Ins truções a Mosen Pedro Margarite", 9.4.1494); o rei deles, Caonabo, é "homem tão mau
quanto audacioso" ("Rela tório para Antonio de Torres", 30.1.1494). Ao que tudo indica, Colombo não compreende os índios melhor agora:
na verdade, nunca sai de si mesmo.
É verdade que, num certo momento de sua carreira, Colombo faz um esforço suplementar. Acontece durante a segunda viagem, quando pede ao frei Ramón Pane que descreva
detalhadamente os costumes e crenças dos índios; e ele mesmo deixa, em prefácio a esta descrição, uma pá gina de observações "etnográficas". Começa por uma decla
ração de princípio: "Não encontrei entre eles nenhuma idolatria e nenhuma outra religião", tese que mantém, ape sar dos exemplos que ele mesmo dá em seguida. Descreve
várias práticas "idólatras", dizendo, no entanto: "Nenhum de nossos homens pôde compreender as palavras que pro
nunciavam." Sua atenção volta-se, então, para uma fraude:
um ídolo falante era na verdade um objeto oco, ligado por um tubo a outro cômodo da casa, onde ficava o assistente do mágico. O pequeno tratado de Ramón Pane (preserva
do na biografia de Francisco Colombo, capítulo 62) é bem mais interessante, apesar do autor, que não se cansa de repetir: "Como os índios não possuem nenhum alfabeto
ou escrita, não dizem bem seus mitos, e me é impossível transcrevê-los corretamente; temo colocar o início no fim, e vice-versa" (6). "Como escrevi às pressas e
não tinha pa pel suficiente, não pude colocar cada coisa em seu devido lugar" (8). "Não consegui saber mais nada acerca disso, e o que escrevi tem pouco valor" (11).
Será que podemos adivinhar, através das anotações de Colombo, como os índios percebem os espanhóis? Dificil mente. Aqui também, toda a informação é viciada, porque
Colombo decidiu tudo de antemão: e já que o tom, duran te a primeira viagem, é de admiração, os índios também devem ser admirativos. "Disseram-se muitas outras coisas
que não pude compreender, mas pude ver que estava ma ravilhado com tudo" ("Diário", 18.12.1492): apesar de não entender o que dizem, Colombo sabe que o "rei" indígena
está em êxtase diante dele. É possível, como diz Colombo, que os índios tenham considerado a possibilidade de os espanhóis serem seres de origem divina; o que daria
uma boa explicação para o medo inicial, e seu desaparecimen to diante do comportamento indubitavelmente humano dos espanhóis. "São crédulos, sabem que há um Deus
no céu, e estão convencidos de que viemos de lá" (12.11.1492). "Achavam que todos os cristãos vinham do céu, e que o reino dos Reis de Castela ali se encontrava,
e não neste mundo' (16.12.1492). "Ainda agora, depois de tanto tempo comigo, e apesar de numerosas conversas, continuam con vencidos de que venho do céu" ("Carta
a Santangel", feve reiro-março de 1493). Voltaremos a esta crença quando for possível examiná-la mais a fundo; observemos, entretanto, que, para os índios do Caribe,
o oceano podia parecer tão abstrato quanto o espaço que separa o céu e a terra.
48
49
O lado humano dos espanhóis é a sede que têm de bens terrestres: o ouro, como vimos desde o início, e, em seguida, as mulheres. Nas palavras de um índio, relatadas
por Colombo: 'Um dos índios que vinham com o Almi rante falou com o rei dizendo-lhe que os cristãos vinham do céu e andavam à procura de ouro" ("Diário', 16.12.1492).
Esta frase é verdadeira em mais de um sentido. Pode-se dizer, simplificando até a caricatura, que os conquistadores espanhóis pertencem, historicamente, à época
de transição entre uma Idade Média dominada pela religião e a época moderna, que coloca os bens materiais no topo de sua es cala de valores. Também na prática, a
conquista terá estes dois aspectos essenciais: os cristãos vêm ao Novo Mundo imbuidos de religiào, e levam, em troca, ouro e riquezas.
A atitude de Colombo para com os índios decorre da percepção que tem deles. Podemos distinguir, nesta última, duas componentes, que continuarão presentes até o século
seguinte e, praticamente, até nossos dias, em todo o colo nizador diante do colonizado. Estas duas atitudes já tinham sido observadas na relação de Colombo com a
língua do outro. Ou ele pensa que os índios (apesar de não utilizar estes termos) são seres completamente humanos com os mesmos direitos que ele, e aí considera-os
não somente iguais, mas idênticos e este comportamento desemboca no assimilacionismo, na projeção de seus próprios valores so bre os outros ou então parte da diferença,
que é imediata mente traduzida em termos de superioridade e inferioridade (no caso, obviamente, são os índios os inferiores): recusa a existência de uma substância
humana realmente outra, que possa não ser meramente um estado imperfeito de si mesmo. Estas duas figuras básicas da experiência da alteri dade baseiam-se no egocentrismo,
na identificação de seus próprios valores com os valores em geral, de seu eu com o universo; na convicção de que o mundo é um.
Por um lado, Colombo quer que os índios sejam como ele e, como os espanhóis, é assimilacionista de modo in consciente e ingênuo. Sua simpatia pelos índios traduz-se.
"naturalmente", no desejo de vê-los adotar seus próprios
costumes. Decide levar alguns índios para a Espanha, para que "ao retornarem sejam intérpretes dos cristãos, e ado tem nossos costumes e nossa fé" (12.11.1492).
E ainda "de vemos fazer com que construam cidades, ensiná-los a an dar vestidos e adotar nossos costumes" (16.12,1492). "Vossas Altezas devem ficar satisfeitas,
pois em breve terão feito deles cristãos e lhes terão instruído nos bons costumes de seu reino" (24.12.1492). O desejo de fazer com que os ín dios adotem os costumes
dos espanhóis nunca vem acom panhado de justificativas; afinal, é algo lógico.
Na maior parte do tempo, este projeto de assimilação confunde-se com o desejo de cristianizar os índios, espa lhar o Evangelho. Sabemos que esta intenção fundamenta
o projeto inicial de Colombo, apesar de a idéia ser um pou co abstrata no início (nenhum padre acompanha a primei ra expedição). A intenção começa a concretizar-se
assim que ele vê os índios. Logo depois de tomar posse das no vas terras, através de ato notarial devidamente lavrado, de clara: "Entendi que eram gente que se entregaria
e se con verteria com muito mais facilidade à nossa Santa Fé pelo amor do que pela forçaS.." (11.10.1492), O "entendimento" de Colombo é, evidentemente, uma decisão
tomada de an temão; e refere-se aqui aos meios que devem ser utiliza dos e não ao fim que deve ser atingido. Este último nem precisa ser afirmado, já que é óbvio.
Colombo volta cons tantemente à idéia de que a conversão é o principal obje tivo da expedição, e reafirma a esperança de que os reis de Espanha aceitem os índios
como vassalos, sem nenhu ma discriminação. "E digo que Vossas Altezas não devem permitir que nenhum estrangeiro tenha qualquer relação com esse país e não ponha
nele os pés se não for católico cristão, pois a expansão e glória da religião cristã são fina lidade e princípio desta empresa, e que não admitam nessas regiões
ninguém que não seja bom cristão" (27.11.1492). Este tipo de comportamento implica, entre outras coisas, o respeito pela vontade individual dos índios, já que são
equiparados aos cristãos. "Como já considerava aquela gente como vassalos dos Reis de Castela, e não via razão
r
50
51
em ofendê-los, concordou em deixá-lo [ índio idoso]"
(18.12.1492).
Esta visão de Colombo é facilitada pela capacidade que tem em ver as coisas como lhe convém. Neste caso, parti cularmente, os índios já sào, a seu ver, dotados de
qualida des cristãs, e já desejam a conversão. Vimos que, segundo ele, os índios não pertenciam a nenhuma 'seita", eram vir gens em matéria de religião e, na verdade,
já tinham uma predisposição ao cristianismo. E as virtudes que imagina encontrar neles sào virtudes cristãs: "Estas gentes não são de nenhuma seita, nem idólatras,
e sim muito mansos e ignorantes do que é o mal, não sabem matar-se uns aos outros (...) Estão sempre dispostos a recitar qualquer ora ção que lhes ensinarmos, e
fazem o sinal da cruz. E Vossas Altezas devem decidir-se a fazer deles cristãos" (12.11.1492). "Amam o próximo como a si mesmos", escreve na noite de Natal (25.12.1492).
É evidente que esta imagem só pode ser obtida através da supressão de todos os traços dos ín dios que poderiam contradizê-la - supressão no discurso sobre eles e
também, se for o caso, na realidade. Durante a segunda expediçào, os religiosos que acompanham Colom bo começam a converter os índios; mas falta muito para que todos
se curvem e se ponham a venerar as imagens santas. "Depois de terem deixado a capela, esses homens jogaram as imagens ao solo, cobriram-nas com um punhado de terra
e urinaram sobre elas"; vendo isto, Bartolomeu, irmão de Colombo, decide puni-los de modo bem cristão:
"Como lugar-tenente do vice-rei e governador das ilhas, levou aqueles homens maus à justiça, e, uma vez definido o crime, fez com que fossem queimados em público"
(Ra món Pane in F. Colombo, 62, 26).
Seja como for, sabemos atualmeqte que a expansão espiritual está indissoluvelmente ligada à conquista mate rial (é necessário dinheiro para fazer cruzadas); e surge
aí a primeira falha num programa que implicava a igualdade dos parceiros: a conquista material (e tudo o que ela impli ca) será ao mesmo tempo resultado e condição
da expan são espiritual. Colombo escreve: "Creio que, se começarmos,
em breve Vossas Altezas conseguirão converter à nossa Santa Fé uma multidào de povos, ganhando grandes terri tórios e riquezas, assim como todos os povos da Espanha,
pois há sem dúvida nestas terras grandes quantidades de ouro" (12.11.1492). Esta conexão torna-se quase automáti ca para ele: "Vossas Altezas têm aqui um outro mundo
onde pode expandir-se muito nossa Santa Fé e de onde se pode tirar muito proveito" ("Carta aos Reis", 31.8.1498). O proveito tirado pela Espanha é incontestável:
"Pela vonta de divina, pus deste modo um outro mundo sob a autori dade do Rei e da Rainha, nossos senhores, e assim a Es panha, que diziam ser tão pobre, tornou-se
o mais rico dos remos" ("Carta à Ama-de-leite", novembro de 1500).
Colombo age como se entre as duas ações se estabe lecesse um certo equilíbrio: os espanhóis dão a religião e tomam o ouro. Porém, além de a troca ser bastante assimé
trica, e não necessariamente interessante para a outra parte, as implicações desses dois atos se opõem. Propagar a reli gião significa que os índios são considerados
como iguais (diante de Deus). E se eles não quiserem entregar suas riquezas? Entào será preciso subjugá-los, militar e politica mente, para poder tomá-las à força;
em outras palavras, colocá-los, agora do ponto de vista humano, numa posição de desigualdade (de inferioridade). E Colombo não hesita nem um pouco em falar da necessidade
de subjugá-los, sem perceber a contradição existente entre o que cada uma de suas ações implica, ou, pelo menos, a descontinuidade que estabelece entre divino e
humano. Por essa razão notou que eram medrosos e desconheciam o uso das armas. "Com cinqüenta homens Vossas Altezas podiam dominar todos eles e fariam deles o que
quisessem" ("Diário", 14.10. 1492):
ainda é o cristão que fala? Ainda se trata de igualdade? Par tindo pela terceira vez para a América, pede permissão para levar com ele voluntários criminosos que
sejam por isso perdoados: ainda é o projeto evangelizador?
"Minha vontade, escreve Colombo na primeira viagem, era nào passar por nenhuma ilha sem dela tomar posse" (15.10.1492); na época, chega a oferecer uma ilha aqui
e
52
53
outra ali a algum de seus companheiros. No início, os índios não deviam entender muito dos ritos que Colombo executava em companhia de seus notários. Quando as coi
sas começaram a se esclarecer, não ficam exatamente en tusiasmados. "Fundei ali um povoado e dei vários presen tes [ gorro vermelho? Colombo nào informa] ao qui
bian - assim chamam o senhor da terra - mas bem sabia que a concórdia não duraria. São realmente gente muito rús tica [ que não desejam se submeter aos espa nhóis],
e meus homens são bastante importunos; enfim eu tomava posse de terras pertencentes a esse quibian [ gunda etapa da troca: dão-se luvas, tomam-se terras]. Ao ver
as casas feitas e o ardor de nosso tráfico, ele resolveu queimar tudo e matar-nos" ("Carta Rarissima", 7.7.1503). A continuação desta história é ainda mais sinistra.
Os espa nhóis conseguem prender a família do quibian e querem usá-la como refém; alguns dos índios, no entanto, conse guem escapar. 'Os prisioneiros restantes foram
tomados de desespero, pois não tinham escapado com seus companhei ros, e no dia seguinte descobriu-se que tinham se enforca do aos barrotes da ponte, com as cordas
que puderam encontrar, dobrando os joelhos por não haver espaço sufi ciente para se enforcarem como se deve." Fernando, o filho de Colombo, que relata este episódio,
presenciou-o; tinha apenas quatorze anos, e pode-se pensar que a reação de seu pai foi igual à sua: "Para nós, que estávamos a bordo, a morte deles não era uma grande
perda, mas agravou bas tante a situação dos homens em terra; o quibian teria fica do feliz em fazer a paz em troca de seus filhos, mas agora, que já não tínhamos
reféns, havia razões para temer que fizesse guerra ainda mais cruel contra nossa vida" (99).
Eis que a guerra substitui a paz, mas pode-se pensar que Colombo nunca tenha posto completamente de lado este meio de expansão, já que desde a primeira viagem acaricia
um projeto particular. "Parti essa manhã", nota já a 14 de outubro de 1492, "para procurar um local onde pu desse ser construída uma fortaleza". "Porque aqui há
um cabo rochoso bastante elevado, poderíamos construir uma
fortaleza" (5.11.1492). Sabemos que realizará este sonho após o naufrágio de sua nau, e aí deixará seus homens. Mas a fortaleza, mesmo que revele não ser particularmente
efi caz, não seria um passo em direção à guerra, logo à sub missão e à desigualdade?
Assim, gradativamente, Colombo passará do assimila cionismo, que implica uma igualdade de princípio, à ideo logia escravagista e, portanto, à afirmação da inferioridade
dos índios. Isto já podia ser notado em alguns julgamentos sumários que surgem desde os primeiros contatos. "Devem ser bons servidores e industriosos" (11.10.1492).
"Servem para obedecer" (16.12.1492). Para manter sua coerência, Colombo estabelece distinções sutis entre índios inocentes, cristàos em potencial, e índios idólatras,
praticantes do ca nibalismo; ou índios pacíficos (que se submetem ao poder dele) e índios belicosos, que merecem por isso ser punidos; mas o importante é que aqueles
que ainda não são cristãos só podem ser escravos: não há uma terceira possibilidade. Imagina então que os navios que transportam rebanhos de animais de carga no
sentido Europa-América sejam carre gados de escravos no caminho de volta, para evitar que retornem vazios e enquanto não se acha ouro em quanti dade suficiente,
e a equivalência implicitamente estabele cida entre animais e homens não é, sem dúvida, gratuita. "Os transportadores poderiam ser pagos em escravos cani bais, gente
feroz mas saudável e de ótimo entendimento, os quais, arrancados de sua desumanidade serão, cremos, os melhores escravos que há" ("Relatório para Antonio de Torres",
30.1.1494).
Os Reis da Espanha não aceitam esta sugestão de Co lombo: preferem ter vassalos em vez de escravos; súditos que possam pagar impostos, em vez de seres que pertencem
a alguém; mas Colombo não renuncia a seu projeto, e ain da escreve, em setembro de 1498: "Daqui poderíamos enviar, em nome da Santíssima Trindade, tantos escravos
quantos se possam vender, e também brasil [ Se as infor mações de que disponho são boas, dizem que poderiam ser vendidos quatro mil escravos, que poderiam valer
vinte
r
milhões ou mais" ('Carta aos Reis', setembro de 1498). Os deslocamentos podem apresentar alguns problemas no início, mas estes serão rapidamente resolvidos. "É verdade
que muitos deles morrem no momento, mas não será sem pre assim. Os negros e os canarinos tinham começado da mesma maneira" (ibid.). Dirige seu governo da ilha de
His paniola nesse sentido, e uma outra carta, endereçada aos reis, de outubro de 1498, é resumida por Las Casas assim:
"De tudo o que diz, deduz-se que o lucro que pretendia dar aos espanhóis que ali se encontravam consistia em lhes dar escravos para serem vendidos em Castela" (Historia,
1, 155). No espírito de Colombo, a propagação da fé e a escravização estão intimamente ligadas.
Michele de Cuneo, membro da segunda expedição, dei xou um dos raros relatos que descrevem detalhadamente como se dava o tráfico de escravos no início; relato que
não permite ilusões quanto à percepção que se tem dos índios. (...)"Quando nossas caravelas tiveram de partir para a Espanha, reunimos em nosso acampamento mil e
seiscentas pessoas, machos e fêmeas desses índios, dos quais embarcamos em nossas caravelas, a 17 de fevereiro de 1495, quinhentas e cinqüenta almas entre os melhores
machos e fêmeas. Quanto aos que restaram, foi anunciado nos arredores que quem quisesse poderia pegar tantos de les quantos desejasse; o que foi feito. E, quando
todos es tavam servidos, sobravam ainda quatrocentos, aproxima damente, a quem demos permissão para ir aonde quises sem. Entre eles havia muitas mulheres com crianças
de colo. Como temiam que voltássemos para pegá-las, e para esca par de nós mais facilmente, deixaram os filhos em qual quer lugar no chão e puseram-se a fugir como
desespera das; e algumas fugiram para tão longe que foram parar a sete ou oito dias de nosso acampamento em Isabela, além das montanhas e atrás de imensos rios;
o que faz com que, de agora em diante, só os alcançaremos com grande esfor ço." Assim começa a operação; eis aqui seu desenlace:
Mas quando atingimos as águas que cercam a Espanha, uns duzentos dos índios morreram, creio que por causa do
ar ao qual não estavam habituados, mais frio do que o deles. Foram jogados no mar (...). Desembarcamos todos os escravos, a metade deles doente."
Mesmo quando não se trata de escravidão, o compor tamento de Colombo implica o não-reconhecimento do di reito dos índios à vontade própria; implica que os conside
ra, em suma, como objetos vivos. Assim, em seus impulsos de naturalista, sempre quer trazer á Espanha espécimes de todos os gêneros: árvores, pássaros, animais e
índios; não lhe ocorre a idéia de pedir a opinião deles. "Diz que gos taria de prender uma meia dúzia de índios para levá-los con sigo; mas diz que não pode pegá-los
porque todos tinham partido antes do anoitecer. Mas no dia seguinte, terça-feira, 8 de agosto, doze homens vieram numa canoa até a cara vela: foram todos aprisionados
e levados à nau do Almi rante, que escolheu seis deles e enviou à terra os outros seis" (Las Casas, Historia, 1, 134). O número já tinha sido fixado:
meia dúzia; os indivíduos não contam, são contados. Numa outra ocasião ele quer mulheres (não por lubricidade, mas para ter uma amostra de cada coisa). "Enviei alguns
ho mens a uma casa na margem oeste do rio. Eles me trouxe ram sete cabeças de mulheres, jovens e adultas, e três crian ças" ("Diário", 12.11.1492). Ser índio, e
ainda por cima mu lher, significa ser posto, automaticamente, no mesmo nível que o gado.
As mulheres: se Colombo só se interessa por elas en quanto naturalista, o mesmo não acontece com os outros. Vamos ler o relato que Michele de Cuneo, fidalgo de Sa
vona, faz de um episódio da segunda viagem - uma histó ria entre mil, mas que tem a vantagem de ser contada por seu protagonista. "Quando estava na barca, capturei
uma mulher caribe belíssima, que me foi dada pelo dito senhor Almirante e com quem, tendo-a trazido à cabina, e estan do ela nua, como é costume deles, concebi o
desejo de ter prazer. Queria pôr meu desejo em execução, mas ela não quis, e tratou-me com suas unhas de tal modo que eu teria preferido nunca ter começado. Porém,
vendo isto (para contar-te tudo, até o fim), peguei uma corda e amarrei-a
56
57
bem, o que a fez lançar gritos inauditos, tu não terias acre ditado em teus ouvidos. Finalmente, chegamos a um tal acordo que posso dizer-te que ela parecia ter
sido educa da numa escola de prostitutas."
Este relato é revelador em vários aspectos. O europeu acha as mulheres índias bonitas; não lhe ocorre, evidente mente, a idéia de pedir a ela consentimento para
"pôr seu desejo em execução". Dirige esse pedido ao Almirante, que é homem e europeu como ele, e que parece dar mulheres a seus compatriotas com a mesma facilidade
com que dis tribui guizos entre os chefes indígenas. Michele de Cuneo escreve, é claro, para um outro homem, e prepara cuida dosamente o prazer da leitura para seu
destinatário, pois, para ele, trata-se de uma história de puro prazer. No início, ele se coloca no papel ridículo de macho humilhado; mas faz isso unicamente para
tornar ainda maior a satisfação de seu leitor em ver a ordem finalmente estabelecida com o trunfo do homem branco. Último olhar cúmplice: nosso fi dalgo omite a
descrição da "execução", mas faz com que seja deduzida a partir de seus efeitos, aparentemente além de sua expectativa, e que permitem, além disso, num sal to surpreendente,
a identificação da índia a uma prostituta:
surpreendente, pois aquela que recusava violentamente a solicitação sexual se vê assimilada à que faz desta solicita ção sua profissão. Mas não é esta a verdadeira
natureza de toda mulher, que um número suficiente de palmadas basta para revelar? A recusa só podia ser hipócrita; arranhe a mulher arisca, e descobrirá a prostituta.
As mulheres índias são mulheres, ou índios ao quadrado; nesse sentido, tor nam-se objeto de uma dupla violentação.
Como Colombo pode estar associado a estes dois mi tos aparentemente contraditórios, um onde o outro é um "bom selvagem" (quando é visto de longe), e o outro onde
é um 'cão imundo", escravo em potencial? É porque am bos têm uma base comum, que é o desconhecimento dos índios, a recusa em admitir que sejam sujeitos com os mes
mos direitos que ele, mas diferentes. Colombo descobriu a América, mas não os americanos,
Toda a história da descoberta da América, primeiro epi sódio da conquista, é marcada por esta ambigüidade: a alteridade humana é simultaneamente revelada e recusada.
O ano de 1492 já simboliza, na história da Espanha, este duplo movimento: nesse mesmo ano o país repudia seu outro interior, conseguindo a vitória sobre os mouros
na derradeira batalha de Granada e forçando os judeus a dei xar seu território; e descobre o outro exterior, toda essa Amé rica que virá a ser latina. Sabemos que
o próprio Colombo liga constantemente os dois eventos: "No corrente ano de 1492, depois que Vossas Altezas puseram fim na guerra contra os mouros (...), nesse mesmo
mês, (...) Vossas Al tezas (...) pensaram em enviar-me, a mim, Cristóvão Co lombo, às ditas paragens da Índia. (...) Assim, após terem expulsado todos os judeus
para fora de vossos remos e domínios, Vossas Altezas nesse mesmo mês de janeiro or denaram-me que partisse com armada suficiente às ditas terras da Índia", escreve
no início do diário da primeira viagem. A unidade destes dois movimentos, onde Colom bo tende a ver a internação divina, está na propagação da fé cristã. "Espero
em Nosso Senhor que Vossas Altezas se decidirão a enviar rapidamente [ para unir à Igre ja tão grandes povos e convertê-los, assim como Elas des truíram aqueles
que não queriam confessar o Pai, o Filho e o Espírito Santo" (6.11.1492). Mas também podemos ver as duas ações como orientadas em sentidos opostos, e com plementares:
uma expulsa a heterogeneidade do corpo da Espanha, a outra a introduz irremediavelmente.
A seu modo, Colombo participa deste duplo movimen to. Não percebe o outro, como vimos, e impõe a ele seus próprios valores; mas o termo que usa mais freqüeníemen
te para referir-se a si mesmo e que é utilizado também por seus contemporâneos é: o Estrangeiro; e se tantos países buscaram a honra de ser a sua pátria, é porque
ele nào tinha nenhuma.
r
58
59
II
Conquistar
As razões da vitória
O encontro entre o Velho e o Novo Mundo, que a des coberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular: é uma guerra, ou melhor, como se dizia então,
a Conquista. Um mistério continua ligado à conquista; trata-se do resultado do combate. Por que esta vitória fulgurante, se os habitantes da América são tão superiores
em número a seus adversários, e lutam em seu próprio solo? Se nos limi tarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante
do mundo pré-co lombiano: como explicar que Cortez, liderando algumas centenas de homens, tenha conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de várias centenas
de milhares de guerreiros? Tentarei encontrar uma resposta na abundan te literatura que esta fase da conquista, já na época, suscitou:
os relatórios do próprio Cortez; as crônicas espanholas, das quais a mais digna de atenção é a de Bernal Díaz dcl Cas tillo; e, finalmente, os relatos indígenas,
transcritos por mis sionários espanhóis ou redigidas pelos próprios mexicanos.
Em relação ao uso que sou levado a fazer dessa litera tura, coloca-se uma questão preliminar, que nào precisava
63
ser considerada no caso de Colombo. Os escritos deste úl timo podiam conter, tecnicamente falando, falsidades; isto não diminuía em nada seu valor, já que eu podia
interro gá-los principalmente enquanto atos, e não enquanto des crições. Ora, o assunto aqui já não é mais a experiência de um homem, que escreveu, e sim um acontecimento
em si não-verbal, a conquista do México; os documentos anali sados já não valem unicamente (ou tanto quanto no outro caso) enquanto gestos, mas como fontes de informações
sobre uma realidade da qual não fazem parte. O caso dos textos que exprimem o ponto de vista dos índios é parti cularmente grave: dada a inexistência de escuta indígena,
são todos posteriores à conquista e, portanto, influencia dos pelos conquistadores; voltarei a isto no último capítu lo deste livro. De modo geral, tenho uma desculpa
e uma justificativa a formular. A desculpa: se renunciarmos a essa fonte de informações, não poderemos substituí-la por ne nhuma outra, a menos que renunciemos a
toda e qualquer informação desse tipo. O único remédio é não ler esses textos como enunciados transparentes e tentar, ao mesmo tempo, levar em conta o ato e as circunstâncias
de sua enunciaçào. Quanto à justificativa, poderia ser expressa na linguagem dos retóricos antigos: as questões aqui levanta das remetem menos ao conhecimento do
verdadeiro do que ao do verossímil. Explico-me: um fato pode não ter acon tecido, contrariamente às alegações de um cronista. Mas o fato de ele ter podido afirmá-lo,
de ter podido contar com a sua aceitação pelo público contemporâneo, é pelo me nos tão revelador quanto a simples ocorrência de um even to, a qual, finalmente, deve-se
ao acaso. A recepção dos enunciados é mais reveladora para a história das ideologias do que sua produção; e quando um autor comete um en gano ou mente, seu texto
não é menos significativo do que quando diz a verdade; o que importa é que o texto possa ser recebido pelos contemporâneos, ou que seu pro dutor tenha acreditado
nele. Nessa perspectiva, a noção de "falso" é não pertinente.
As grandes etapas da conquista do México são bem conhecidas. A expedição de Cortez, em 1519, é a terceira
que chega à costa mexicana; é composta de algumas cente nas de homens. Cortez é enviado pelo governador de Cuba; mas após a partida dos navios este último muda de
idéia e tenta revocar Cortez. Este desembarca em Vera Cruz e decla ra estar sob a autoridade direta do rei de Espanha. Ao saber da existência do império asteca,
inicia uma lenta progressão em direção ao interior, tentando conseguir a adesão das po pulações cujas terras atravessa, com promessas ou com guerra. A batalha mais
difícil é travada contra os tiaxcaltecas que, a partir de então, seriam seus melhores aliados. Cortez chega finalmente à Cidade do México, onde é bem recebido; após
algum tempo, decide prender o soberano asteca, e consegue fazê-lo. Fica então sabendo da chegada de uma nova expedição espanhola à costa, enviada pelo governador
de Cuba e dirigida contra ele; os recém-chegados são mais numerosos do que seus soldados. Cortez parte com alguns dos seus ao encontro desse exército, enquanto os
outros ficam na Cidade do México para guardar Montezuma, sob o comando de Pedro de Alvarado. Cortez ganha a batalha contra seus compatriotas, prende o chefe, Panfilo
de Nar vaez, e convence os outros a se colocarem sob suas ordens. Mas fica sabendo que, durante a sua ausência, as coisas se complicaram na Cidade do México: Alvarado
massacrou um grupo de mexicanos durante uma festa religiosa, e a guerra começou. Cortez retorna à capital e se une a suas tropas na fortaleza sitiada; Montezuma
morre nesse mo mento. Os ataques dos astecas são tão insistentes que ele decide deixar a cidade à noite; sua partida é descoberta, e na batalha que se segue metade
de seu exército é aniqui lada: é a Noche Triste. Cortez se retira para Tlaxcala, recu pera as forças e volta para sitiar a Cidade do México; corta todas as vias
de acesso e ordena a construção de bergan tins rápidos (a cidade encontrava-se, então, no meio dos la gos). Após alguns meses de sítio, a Cidade do México caj; a
conquista terá durado aproximadamente dois anos.
1. Seria mais correto falar em mexicas em vez de "astecas", e grafar o nome de seu "imperador" Motecuhzoma, Mas optei por me ater ao uso comum.
64
65
Retomemos, para começar, as explicações geralmente propostas para a vitória fulgurante de Cortez. Uma primei ra razão é o comportamento ambíguo, hesitante, do pró
prio Montezuma, que não opõe a Cortez quase nenhuma resistência (o que está relacionado, portanto, à primeira fase da conqujsta, até a morte dele); este comportamento
talvez tenha, além dos motivos culturais aos quais voltarei, razões mais pessoais: em vários aspectos difere do com portamento de outros dirigentes astecas. Bernal
Díaz, trans crevendo as palavras dos dignitários de Cholula, descre ve-o assim: 'Os papas responderam que, na realidade, Mon tezuma, sabendo que devíamos ir até
a sua capital, comu nicava-se com eles todos os dias a esse respeito, mas sem determinar claramente o que desejava; que um dia orde nava que, se chegássemos, fôssemos
recebidos com todo o respeito e guiados até a Cidade do México; que no outro dia dizia que não queria que fôssemos à sua capital; e que, finalmente, há pouco tempo
seus deuses Tezcatlipoca e Huitzilopochtli, em quem eles têm grande devoção, tinham aconselhado matar-nos ali em Cholula ou levar-nos amar rados à Cidade do México"
(83). Tem-se a impressão de que é realmente ambigüidade, e não simples inabilidade, quan do os mensageiros de Montezuma anunciam simultanea mente aos espanhóis que
o reino dos Astecas lhes é dado de presente e pedem que não venham à Cidade do Mé xico, mas que voltem para a terra deles; veremos que Cor tez contribui conscientemente
para alimentar essa hesitação.
Em certas crônicas, Montezuma é descrito como um homem melancólico e resignado; afirma-se também que é corroído pela má consciência, expiando em sua pessoa um episódio
pouco glorioso da história asteca mais remota: os astecas se comprazem em se apresentar como sucessores legítimos dos toltecas, a dinastia anterior, quando, na ver
dade, são usurpadores, recém-chegados. Este complexo de culpa nacional teria feito com que ele imaginasse que os, espanhóis eram descendentes diretos dos antigos
tolte cas, que teriam vindo recuperar seus bens? Veremos que, neste caso também, a idéia é em parte sugerida pelos es-
panhóis, e é impossível afirmar com certeza que Montezu ma acreditasse nisso.
Tendo os espanhóis chegado à sua capital, o compor tamento de Montezuma é ainda mais singular. Não somente ele se deixa prender por Cortez e seus homens (essa revi
são é a decisão mais surpreendente de Cortez, juntamente com a de "queimar" - na realidade, fazer encalhar - seus próprios navios: com o punhado de homens que tem
prende o jmperador asteca, cercado pelo poderoso exército asteca); como também, uma vez preso, só se preocupa em evitar qualquer derramamento de sangue. Contrariamente
ao que fará, por exemplo, o último imperador asteca, Cuauhtemoc, procura impedir por todos os meios que a guerra se instale em sua cidade: prefere abandonar seu
poder, seus privilégios e suas riquezas. Mesmo durante a breve ausência de Cortez, quando este vai enfrentar a ex pedição punitiva enviada contra ele, não tentará
se apro veitar da situação para livrar-se dos espanhóis. 'Achamos que Montezuma estava arrependido Ido começo das hosti lidadesi e que se tivesse sido autor e conselheiro
delas, na opinião da maior parte dos soldados de Pedro de Alvarado, todos teriam sido massacrados, Mas na verdade Montezu ma procurava apaziguar seus súditos e pedia
que cessas sem seus ataques" (Bernal Díaz, 125). A história ou a lenda (pouco importa), transcrita pelo jesuíta Tovar, chega a apre sentá-lo, às vésperas de sua
morte, pronto a converter-se ao cristianismo; mas, cúmulo da ironia, o padre espanhol, ocupado em juntar ouro, não tem tempo para isso. "Dizem que ele pediu o batismo
e converteu-se à verdade do Santo Evangelho e, embora lá houvesse um padre, supõe-se que estivesse mais preocupado em procurar riquezas do que em catequizar o pobre
rei" (Tovar, p. 83).
Infelizmente, faltam documentos que teriam permitido penetrar o universo mental pessoal desse estranho impera dor: diante dos inimigos, prefere não usar seu imenso
poder, como se não tivesse certeza de querer vencer; como diz Gomara, capelão e biógrafo de Cortez: "Nossos espanhóis nunca puderam saber a verdade, porque na época
não com-
66
67
preendiam a língua, e depois já não vivia nenhuma pessoa com quem Montezuma pudesse ter compartilhado seu segredo" (107). Os historiadores espanhóis da época pro
curaram em vão a resposta para essas perguntas, vendo em Montezuma um louco ou um sábio. Pierre Martyr, cronista que ficou na Espanha, tende a optar pela segunda
solução:
"Ele parecia obedecer a injunções muito mais duras do que as regras de gramática ditadas às criancinhas, e supor tava tudo com paciência, para evitar um levante
de seus súditos e seus grandes. Qualquer coisa lhe parecia menos difícil de suportar do que uma revolta de seu povo. É como se ele quisesse imitar Diocleciano, que
preferiu tomar veneno a tomar de novo as rédeas do império ao qual tinha abdicado" (V, 3). Gomara às vezes o despreza:
"Montezuma deve ter sido um homem fraco e de pouca coragem, para ter-se deixado prender assim e, mais tarde, preso, por nunca ter tentado fugir, mesmo quando Cortez
lhe oferecia a liberdade e seus próprios homens suplicavam que a aceitasse" (89). Porém, em outras ocasiões, confessa sua perplexidade e a impossibilidade de chegar
a uma con clusão: "A covardia de Montezuma, ou o amor que sentia por Cortez e pelos espanhóis (91), ou, ainda, "Em minha opinião, ou era muito sábio, passando pelas
coisas assim, ou tão néscio que não as sentia" (107). Continuamos nessa hesitação.
A personagem Montezuma tem certamente algo a ver com esta não-resistência ao mal. No entanto, esta explica ção é válida unicamente para a primeira metade da cam
panha de Cortez, pois Montezuma morre no decorrer dos acontecimentos, de modo tão misterioso quanto tinha vivi do (provavelmente apunhalado por seus carcereiros
espa nhóis); e seus sucessores na liderança do estado asteca de clararão, imediatamente, uma guerra feroz e impiedosa aos espanhóis. Entretanto, durante a segunda
fase da guerra, um outro fator começa a ter papel decisivo: a exploração que Cortez faz das dissensões internas entre as diversas popu lações que ocupam o solo mexicano.
Sai-se muito bem nisso: ao longo de toda a campanha, sabe aproveitar-se das
lutas internas entre facções rivais e, na fase final, comanda um exército de tlaxcaltecas e outros índios aliados numeri camente comparável ao dos mexicanos; nesse
exército, os espanhóis são apenas, de certo modo, apoio logístico, ou força de comando: suas unidades parecem ser compostas, freqüentemente, por dez cavaleiros espanhóis
e dez mil combatentes índios a pé! Os contemporâneos já percebiam isso: segundo Motolinia, franciscano e historiador da "No va Espanha", 'os conquistadores dizem
que os tlaxcaltecas merecem que Sua Majestade lhes conceda muitos favores, e que se não fosse pelos tlaxcaltecas, eles teriam sido mor tos, quando os astecas expulsaram
os cristãos da Cidade do México, e os tlaxcaltecas os acolheram" (III, 16). E, de fato, durante vários anos os tlaxcaltecas desfrutam de vá rios privilégios concedidos
pela coroa: dispensados de im postos, tornam-se freqüentemente os administradores das regiões recém-conquistadas.
Ao ler a história do México, não podemos evitar a per gunta: por que os índios não resistem mais? Será que não se dão conta das ambições colonizadoras de Cortez?
A res posta desloca a pergunta: os índios das regiões atravessa das por Cortez no início não ficam muito impressionados com suas intenções colonizadoras, porque
esses índios já foram conquistados e colonizados - pelos astecas. O Mé xico de então não é um estado homogêneo, e sim um con glomerado de populações subjugadas pelos
astecas, que ocupam o topo da pirâmide. Desse modo, longe de encar nar o mal absoluto, Cortez freqüentemente aparecerá como um mal menor, como um libertador, mantidas
as propor ções, que permite acabar com uma tirania particularmente detestável, porque muito mais próxima.
Sensibilizados como estamos aos danos causados pelo colonialismo europeu, temos dificuldade em compreender por que os índios não se revoltam imediatamente, enquan
to é tempo, contra os espanhóis. Mas os conquistadores só atrapalharam os astecas. Podemos ficar escandalizados ao saber que os espanhóis só procuram ouro, escravos
e mu lheres. "Só se preocupavam, na verdade, em procurar uma
68
69
boa índia e conseguir algum sangue", escreve Bernal Díaz (142), que conta a seguinte anedota: depois da queda da Cidade do México, "Cuauhtemoc e todos os seus capitães
queixam-se a Cortez que alguns de nossos chefes que es tavam nos bergantins, assim como vários dos que tinham combatido em guerra, tinham levado as filhas e mulheres
de muitos personagens importantes. Pediram a devolução delas. Cortez respondeu que seria difícil para ele tomá-las dos camaradas que já as tinham, mas que seriam
procuradas, e levadas até ele; que veria se eram cristãs, ou se queriam voltar para as suas casas com os pais e maridos, e que en tão mandaria devolvê-las rapidamente".
O resultado da in vestigação não surpreende: "A maior parte delas não quis seguir nem pai, nem mãe, nem marido; mas, ao contrário, escolheram ficar com os soldados
com quem estavam. Outras se esconderam; outras declararam que não queriam mais ser idólatras. Algumas até estavam grávidas; de modo que somente três foram, Cortez
tendo dado ordem expres sa de deixá-las partir" (157).
Mas é justamente disso que reclamavam os índios das outras partes do México quando reclamavam dos danos causados pelos astecas: "Os habitantes dessas aldeias (...)
queixam-se muito de Montezuma e de seus coletores de impostos, que lhes roubavam tudo o que tinham, e que se suas mulheres e filhas fossem formosas, violentavam-nas
diante deles e de seus maridos, e roubavam-nas, e que obri gavam-nos a trabalhar como se fossem escravos, e pedras e lenha e muitos outros serviços de semear milharais
(...) e muitas outras queixas" (Bernal Díaz, 86).
O ouro e as pedras preciosas, que atraem os espa nhóis, já eram recolhidos como imposto pelos funcioná rios de Montezuma; parece impossível rejeitar esta alega ção
como pura invenção dos espanhóis, visando legitimar sua conquista, embora fosse também isso: muitos testemu nhos concordam nesse sentido. O Codex Florentino repre
senta aos chefes das tribos vizinhas queixando-se a Cortez da opressão exercida pelos mexicanos: "Pois Montezuma e os mexicanos causaram grande desgosto e os mexicanos
trouxeram problemas. Vieram causar a miséria à nossa vista, pois nos obrigaram a todos os tipos de impostos" (XII, 26). E Diego Durán, dominicano simpatizante e
mestiço cultural, por assim dizer, descobre a semelhança justa quando acusa os astecas: "Se os anfitriões fossem inatenciosos ou indiferen tes, os astecas roubavam
e saqueavam as aldeias, despiam as pessoas de suas roupas, surravam-nos, tomavam-lhes tudo o que tinham e os desonravam; destruíam-lhes as sementes e inflingiam-lhes
mil injúrias e penas. Todo o país tremia diante deles. Onde quer que chegassem, tudo aquilo de que precisavam lhes era dado; mas mesmo quando eram bem tratados,
agiam assim (...) Era o povo mais cruel e mais demoníaco que se possa imaginar, devido á maneira como tratavam seus vassalos, que era bem pior do que a maneira como
os espanhóis trataram-nos e tratam-nos" (III, 19). 'Faziam todo o mal que podiam, como os espa nhóis fazem hoje se ninguém os detiver" (III, 21).
Há muitas semelhanças entre conquistadores antigos e novos, e estes últimos sentiram isso, já que eles mesmos descreveram os astecas como invasores recentes, conquis
tadores como eles. Mais especificamente, e aqui também a semelhança se mantém, a relação com o predecessor é de continuidade implícita, e às vezes inconsciente,
acompa nhada da negação desta relação. Os espanhóis queimarão os livros dos mexicanos para apagar a religião deles; des truirão os monumentos, para fazer desaparecer
qualquer lembrança de uma grandeza antiga. Mas, cem anos antes, durante o reinado de Itzcoatl, os próprios astecas tinham destruído todos os livros antigos, para
poderem escrever a história a seu modo. Ao mesmo tempo, os astecas, como vimos, gostam de aparecer como continuadores dos tolte cas; e os espanhóis freqüentemente
optam por uma certa fidelidade ao passado, seja em religião ou política; são as similados enquanto assimilam. Fato simbólico entre outros, a capital do novo estado
será a do México vencido. "Consi derando que Tenochtitlán tinha sido tão grande e tão céle bre, pareceu-nos bom repovoá-la (...) Se no passado ela foi capital e
rainha de todas estas províncias, continuará
j
70
71
sendo doravante" (Cortez, 3). Cortez procura algum modo de constituir para si uma legitimidade, não mais diante do rei da Espanha, o que tinha sido uma de suas grandes
preocupações durante a campanha, mas diante da popula ção local, assumindo a continuidade do reino de Montezu ma. O vice-rei de Mendoza reutilizará os registros
fiscais do império asteca.
O mesmo acontece no âmbito da religião: de fato, a conquista religiosa muitas vezes consiste em tirar de um lugar certas imagens e colocar outras em seu lugar -
pre servando, e isto é essencial, os locais de culto, acendendo diante deles as mesmas ervas aromáticas. Cortez conta: "Fiz com que fossem tirados de seus lugares
e jogados pelas escadarias os ídolos mais importantes, em que eles acredi tavam mais; fiz com que limpassem as capelas onde se encontravam, pois estavam cheias do
sangue dos sacrifí cios e nelas pus as imagens de Nossa Senhora e de outros santos" (2). E Bernal Díaz confirma: "Foi então ordenado que no futuro se incensasse
com incenso indígena a ima gem de Nossa Senhora e o Crucifixo" (52). "É justo que o que serviu ao culto do demônio seja transformado em templo para o serviço de
Deus", escreve por sua vez o frei Lorenzo de Bienvenida. Os padres e frades cristãos ocupa rão exatamente o espaço que, antes da repressão, ocupavam os profissionais
do culto religioso indígena, que os espa nhóis aliás chamavam pelo nome de papas (contaminação do termo indígena que os designava e da palavra "papa"); Cortez torna
explícita a continuidade: "O respeito e a aco lhida que eles los índios] dão aos padres são conseqüência das ordens do Marquês dcl Vaile, Don Hernán Cortez, pois
desde o início ordenou-lhes que obedecessem aos padres, assim como sempre tinham feito em relação aos ministros de seus ídolos" (Motolinia, III, 3).
Às reticências de Montezuma durante a primeira fase da conquista, ás divisões internas entre os mexicanos na segunda, freqüentemente acrescenta-se um outro fator:
a superioridade dos espanhóis em matéria de armas, Os as tecas não conheciam a metalurgia, e por isso suas espadas
e armaduras são menos eficazes; as flechas (não envene nadas) não valem os arcabuzes e canhões dos espanhóis; nos deslocamentos, estes últimos são bem mais rápidos:
dis põem, em terra, de cavalos, ao passo que os astecas sem pre andam a pé e, na água, sabem construir bergantins, cuja superioridade em relação às canoas indígenas
tem um papel decisivo na fase final do sítio da Cidade do México; e, finalmente, os espanhóis, sem saber, inauguram também a guerra bacteriológica, ao trazer a varíola,
que provoca muitas baixas no exército adversário. No entanto, estas su perioridades, em si incontestáveis, não explicam tudo, se levarmos também em conta a relação
numérica entre os dois campos. E, além disso, os arcabuzes são, na verdade, poucos, e os canhões, pouquíssimos, e a sua potência não se compara à de uma bomba moderna;
e mais ainda, a pól vora está quase sempre molhada. O efeito das armas de fogo e dos cavalos não pode ser diretamente calculado pelo número de vítimas.
Não procurarei negar a importância desses fatores, e sim encontrar neles algo em comum, que permita articu lá-los e compreendê-los, acrescentando a eles vários outros,
que parecem ter passado desapercebidos. Ao fazê-lo, serei levado a tomar ao pé da letra uma resposta sobre as razões da conquista-derrota que se encontra nas crônicas
indíge nas e que foi negligenciada até agora no Ocidente, tomada sem dúvida por pura fórmula poética. Com efeito, a res posta dos relatos indígenas, que é uma descrição
mais do que uma explicação, consistiria em dizer que tudo aconte ceu porque os maias e os astecas perderam o controle da comunicação. A palavra dos deuses tornou-se
ininteligível, ou então os deuses se calaram. "A compreensão está per dida, a sabedoria está perdida" (Chilam Balam, 22). "Não havia mais nenhum grande mestre, ou
grande orador, ou sacerdote supremo, quando os soberanos mudaram, ao chegarem" (ibid., 5). O livro maia de Chílam Balam é cor tado por esta pergunta lancinante,
incansavelmente formu lada, porque já não podia obter resposta: "Qual será o pro feta, qual será o sacerdote que dará o verdadeiro sentido
72
73
às palavras deste livro?" (24). Os astecas, por sua vez, des- Montezuma e os signos crevem o início de seu próprio fim como um silêncio que
cai: os deuses nào lhes falam mais. "Eles pediram aos deu ses que lhes concedessem favores e a vitória sobre os es panhóis e outros inimigos. Mas devia ser tarde
demais, por que não obtiveram mais nenhuma resposta em seus orá culos; então consideraram os deuses mudos ou mortos" (Durán, III, 77).
Teriam os espanhóis triunfado sobre os índios com a
ajuda dos signos?
Os índios e os espanhóis praticam a comunicação de maneiras diferentes. Mas o discurso da diferença é um dis curso difícil. Já notamos, em relação a Colombo: o postu
lado da diferença leva facilmente ao sentimento de supe rioridade, e o postulado da igualdade ao de indiferença, e é sempre difícil resistir a esse duplo movimento,
ainda mais que o resultado final desse encontro parece indicar, sem sombra de dúvida, o vencedor: não seriam os espanhóis su periores, além de diferentes? A verdade,
ou aquilo que, para nós, ocupará seu lugar não é, porém, tão simples,
Diremos, desde já, que não há, evidentemente, nenhu ma inferioridade "natural" dos índios no plano lingüístico ou simbólico: vimos, por exemplo, que na época de
Colom bo eram eles que aprendiam a língua do outro e, durante as primeiras expedições em direção à Cidade do México, são também dois índios, chamados pelos espanhóis
de Ju lian e Melchior, que servem de intérpretes.
Mas há, certamente, muito mais. Sabemos, graças aos
textos da época, que os índios dedicam grande parte de seu
tempo e forças à interpretação das mensagens, e que essa
74 75
interpretação tem formas extremamente elaboradas, rela cionadas às diversas espécies de adivinhação. A primeira delas é a adivinhação cíclica (nossa astrologia é
um exem plo deste tipo). Os astecas dispõem de um calendário reli gioso, composto de treze meses com duração de vinte dias; cada um desses dias possui um caráter
próprio, propício ou nefasto, que é transmitido aos atos realizados nesse dia e, principalmente, às pessoas que nele nasceram. Saber a data de nascimento de alguém
é conhecer seu destino; por isso, assim que nasce uma criança, procura-se o intérprete profissional, que é, ao mesmo tempo, o sacerdote da co munidade (cf. fig.
4).
"Quando nascia um menino ou uma menina, o pai ou pais do bebê iam imediatamente à casa dos astrólogos, fei ticeiros ou adivinhos, que havia em abundância, pedin
do-lhes que determinassem o destino do menino ou meni na recém-nascido. (...) O astrólogo e feiticeiro adivinho pegava o livro dos destinos e o calendário. Vendo
a natu reza do dia, enunciava profecias, tirava a sorte e estabele cia o destino, favorável ou desfavorável, da criança, con
Fig. 4- Consulta ao adivinho e ao litro
76
sultando uma folha de papel, sobre a qual estavam pinta dos todos os deuses que adoravam, cada qual no espaço que lhe era reservado. (...) Era possível saber se
a criança seria rica ou pobre, valente, corajosa, ou covarde, sacerdo te ou homem casado, ladrão ou bêbado, moderado ou las civo - todas essas coisas podiam ser
vistas nesses dese nhos" (Durán, II, 2).
Além dessa interpretação preestabelecida e sistemáti ca, que decorre do caráter, estabelecido uma vez por todas, de cada dia do calendário, há uma segunda forma
de adi vinhação, esta pontual, que toma a forma de presságios. Qualquer acontecimento que saia um pouco do comum, afastando-se da ordem estabelecida, será interpretado
como prenúncio de um outro acontecimento, geralmente nefas to, por acontecer (o que implica que nada neste mundo acontece por acaso). Por exemplo, o fato de um prisionei
ro ficar triste é mau augúrio, pois para os astecas isto é inesperado. Ou o fato de um pássaro gritar em certa hora, ou de um rato atravessar o templo, ou de alguém
fazer uma pausa ao falar, ou de determinado sonho ocorrer. Às vezes, é verdade, esses presságios são fatos não somente raros mas completamente sobrenaturais. "Enquanto
eram preparadas iguanas delicadas com as coisas que as mulhe res astecas trazem para vender, aconteceu uma coisa pro digiosa e aterrorizante, que amedrontou e mergulhou
no estupor os habitantes de Xochimilco. Quando todos esta vam sentados em seus lugares para comer, as iguanas se transformaram, à vista deles, em pés e mãos de homem,
em braços, cabeças, corações humanos, em fígados e intesti nos. Diante de coisa tão horrível, nunca antes vista ou ou vida, os habitantes de Xochimilco chamaram
os áugures e perguntaram-lhes o que aquilo podia significar. Estes anun ciaram que era péssimo presságio, pois significava a destrui ção da cidade e a morte de muita
gente" (Durán, III, 12). No cotidiano, assim como no excepcional, portanto. "acre ditavam em mil augúrios e presságios" (Motolinia, II, 8):
um mundo superdeterminado será também, forçosamen te, um mundo superinterpretado.
77
De resto, quando os signos tardam, não hesitam em solicitá-los, e para isso também se dirigem ao adivinho profissional. Este responde recorrendo a uma de suas téc
nicas habituais: pela água, pelos grãos de milho, pelos fios de algodão. Este prognóstico, que permite saber se uma pessoa ausente está viva ou morta, se um doente
vai sarar ou não, se um marido volúvel voltará para a esposa, pro longa-se em verdadeiras profecias, e vemos os grandes che fes astecas visitarem regularmente o
adivinho antes de co meçar uma operação importante. E mais: sem terem sido solicitadas, diversas personagens afirmam ter tido comuni cação com os deuses e profetizam
o futuro. Toda a histó ria dos astecas, tal como é contada em suas próprias crôni cas, é feita de realizações de profecias anteriores, como se um acontecimento não
pudesse ocorrer se não tivesse sido previamente anunciado: a partida do local de origem, a es colha de uma nova localização, tal vitória na guerra ou tal derrota.
Ai, só pode tornar-se ato aquilo que foi anterior mente verbo.
Os astecas estão convencidos de que todas essas es pécies de previsão do futuro se realizam, e só em casos excepcionais tentam resistir à sorte que lhes é anunciada;
em maia, a mesma palavra significa "profecia" e "lei". "Não é possível escapar ao que deve acontecer" (Durán, III, 67). "Estas coisas se realizarão. Ninguém poderá
impedi-las" (Gbilarn Balam, 22). E as coisas efetivamente se realizam, já que os homens fazem para jsso tudo quanto podem; em outros casos, a profecia é ainda mais
verdadeira, por ter sido, na realidade, formulada retrospectivamente, após a ocorrência do fato. Em todos os casos, esses presságios e adivinhações gozam de enorme
prestígio e, se for preciso, arriscarão a vida para obtê-los, sabendo bem que a recom pensa vale o risco: o detentor da profecia é o favorito dos deuses, o mestre
da interpretação é, simplesmente, o mestre.
O mundo é colocado, em princípio, como superdeter minado; os homens respondem a essa situação regulamen tando minuciosamente sua vida social. Tudo é previsível e,
portanto, tudo é previsto, e a palavra-chave da sociedade meso-americana é: ordem. Lê-se numa página do livro
maia de (]hilam Balam: "Conheciam a ordem de seus dias. Completo era o mês; completo, o ano; completo, o dia; completa, a noite; o sopro de vida também, quando passa
va; completo o sangue, quando chegavam a seus leitos, a suas esteiras, a seus tronos. Em boa ordem recitavam as boas oraçóes; em boa ordem procuravam os dias propícios,
até verem as estrelas propícias entrarem em seu reino; então observavam quando começaria o reino das boas es trelas. Então tudo era bom' (5). Durán, um dos melhores
observadores da sociedade asteca, conta, por sua vez, a seguinte anedota: "Um dia perguntei a um velho porque semeava feijões tão tarde no ano, já que naquela época
geralmente geava. Respondeu que tudo tinha sua razão de ser e seu dia particular" (II, 2). Esta regulamentação impreg na os mínimos detalhes da vida, que poderíamos
imaginar deixados a critério do indivíduo; o ritual propriamente dito é apenas o que se sobressai numa sociedade completa mente ritualizada; ora, os dois religiosos
são tantos e tão complexos que mobilizam um verdadeiro exército de ofi ciantes. "Eram tantas as cerimônias que um só ministro não podia assistir a todas" (Durán,
1, 19).
É portanto a sociedade - por intermédio da casta dos sacerdotes, meros depositários do saber social - que deci de a sorte do indivíduo, o qual não é, pois, um indivíduo
no sentido que geralmente damos ao termo. Na sociedade indígena de antigamente, o indivíduo não representa em si uma totalidade social, é unicamente o elemento constituti
vo de outra totalidade, a coletividade. Durán diz também, numa passagem onde se sente um misto de admiração e nostalgia, por não encontrar mais em sua própria socieda
de os valores aos quais aspira: "Para o assunto mais insig nificante, aquela nação dispunha de muitos funcionários. Tudo era tão bem registrado que nenhum detalhe
escapa va às contas. Havia funcionários para tudo, e até emprega dos encarregados da limpeza. A ordem era tal que ninguém ousava intervir no dever de outrem nem
dizer nada, pois teria sido imediatamente despedido" (III, 41).
O que os astecas mais prezam não é, realmente, a opi nião individual, a iniciativa individual. Temos uma prova
78
79
suplementar da preeminência do social sobre o individual no papel desempenhado pela família: os pais são queri dos, os filhos adorados, e a atenção consagrada a
uns e outros absorve grande parte da energia social. Reciproca mente, o pai e a mãe são considerados responsáveis pelos erros que o filho cometa; entre os tarascos,
a solidariedade na responsabilidade estende-se até os criados. "Os precep tores e amas-de-leite que tinham educado o filho são igual mente mortos, assim como os
criados, pois lhe ensinaram maus hábitos" (Relación deMichoacán, BI, 8, cf. III, 12).
Mas a solidariedade familiar não é um valor supremo, pois, apesar de ser transindividual, a célula familiar ainda não é a sociedade; os laços familiares, na verdade,
passam para o último plano, abaixo das obrigações para com o gru po. Nenhuma qualidade pessoal torna alguém invulnerá vel à lei social, e os pais aceitam de bom
grado as punições que reprimem infrações cometidas por seus filhos. "Apesar de ficarem aflitos vendo os filhos mal tratados, amando-os tanto, não ousavam reclamar,
e reconheciam que a puni ção era justa e boa" (Durán, 1, 21). Um outro relato descre ve o rei Nezahualpilli, de Texcoco, célebre por sua sabe doria, punindo com
a morte sua própria filha porque ela ti nha deixado que um jovem lhe dirigisse a palavra; aos que tentam intervir em favor de sua filha, responde "que não devia
infringir a lei em favor de ninguém, pois se o fizesse daria mau exemplo aos outros senhores e ficaria desonra do" (Zorita, 9).
É que a morte só é uma catástrofe numa perspectiva estritamente individual, ao passo que, do ponto de vista social, o beneficio obtido da submissão à regra do grupo
pesa mais do que a perda de um indivíduo. Por isso vemos os futuros sacrificados aceitarem sua sorte, se não com ale gria, pelo menos sem desespero; e o mesmo acontece
em relação aos soldados no campo de batalha: o sangue deles contribuirá para manter a sociedade viva. Para ser mais exato, esta é a imagem que o povo asteca quer
ter de si mesmo, e não é certo que todas as pessoas que fazem par te dele aceitem isso de bom humor: para evitar que os pri
sioneiros fiquem tristes na véspera de seu sacrifício (mau presságio, como vimos), recebem drogas; e Montezuma precisará reorganizar seus soldados em prantos, aflitos
com a morte de seus companheiros: "É para isso que nascemos! É para isso que vamos à guerra! É a morte bendita que exaltavam nossos antepassados!" (Durán, III, 62).
Nessa sociedade superestruturada, um indivíduo não pode ser igual a outro, e as distinções hierárquicas adqui rem uma importância primordial. É bastante impressionan
te ver que quando, no meio do século XV, Montezuma 1, após ter ganho muitas batalhas, decide codificar as leis de sua sociedade, formula catorze prescrições, das
quais so mente as duas últimas lembram nossas leis (punição do adultério e do roubo), ao passo que dez regulamentam algo que, a nosso ver, não passa de etiqueta
(voltarei às duas outras leis): as insígnias, as roupas, os adornos que alguém tem ou não o direito de usar, o tipo de casa apropriado para cada camada da população.
Durán, sempre nostálgi co da sociedade hierárquica e desgostoso com o igualita rismo que vê nascer entre os espanhóis, escreve: "Nas casas dos reis e nos templos
havia salas e cômodos onde eram instaladas ou recebidas pessoas de qualidade diferente, de modo que umas não se misturassem às outras, de modo que os de sangue nobre
não fossem tratados como as pes soas de classes inferiores. (...) Nos estados e comunidades bem organizados dava-se muita atenção a essas coisas, à diferença da
desordem que reina em nossos estados mo dernos, onde é quase impossível distinguir o cavaleiro do carregador, o castelão do marido. (...) Por isso, para evitar essa
confusão e esta variedade, e para que cada um saiba onde é o seu lugar, os indígenas possuíam leis importan tes, decretos e ordenâncias" (1, 11).
Devido a esta forte integração, a vida de uma pessoa não é nenhum campo aberto e indeterminado, que uma vontade individual livre modelaria, e sim a realização de
uma ordem sempre presente (ainda que não se exclua com pletamente a possibilidade de alguém modificar seu pró prio destino). O futuro do indivíduo é determinado
pelo
80
81
passado coletivo: o indivíduo nào constrói seu futuro, este se revela; daí o papel do calendário, dos presságios, dos augúrios. A pergunta que caracteriza esse mundo
não é, como para os conquistadores espanhóis ou os revolucio nários russos, de tipo praxeológico: "que fazer?", mas epis têmico: "Como saber?". E a interpretação
do acontecimento se faz menos em função de seu conteúdo concreto, indivi dual e único, do que em função de uma ordem preestabe lecida e a ser restabelecida, da harmonia
universal,
Seria forçar o sentido da palavra "comunicaçào" dizer, a partir disso, que há duas grandes formas de comunica ção, uma entre os homens, e outra entre o homem e o
mundo, e constatar que os índios cultivam principalmente esta última, ao passo que os espanhóis cultivam principal mente a primeira? Estamos habituados a conceber
somente a comunicação inter-humana, pois, o "mundo" não sendo um sujeito, o diálogo com ele é bastante assimétrico (se é que há diálogo). Mas talvez esta seja uma
visão limitada, responsável, aliás, pelo sentimento de superioridade que temos nesse campo. A noção seria mais produtiva se fosse ampliada de modo a incluir, além
da interação de indiví duo a indivíduo, a que existe entre a pessoa e seu grupo social, a pessoa e o mundo natural, a pessoa e o universo religioso. E é este segundo
tipo de comunicação que de sempenha um papel predominante na vida do homem as teca, que interpreta o divino, o natural e o social através de indícios e presságios,
com o auxílio do profissional que é o sacerdote-adivinho.
Não se deve imaginar que esta predominância exclui o conhecimento dos fatos, o que poderíamos chamar mais especificamente de coleta de informação; pelo contrário.
E a açào sobre outrem, por intermédio dos signos, que aqui se mantém em estado embrionário; em compensação, sempre se informam acerca do estado das coisas, inertes
ou vivas: o homem aqui importa mais como objeto do dis curso do que como destinatário dele. Uma guerra, lê-se na Relación de Michoacán. será sempre precedida pelo
envio de espiões. Depois de um reconhecimento minucioso, vol
tam para prestar contas de sua missào. "Os espiões sabem onde ficam os rios, assim como as entradas e saídas da al deia, e os lugares perigosos. Quando o acampamento
está montado, desenham no chão um mapa preciso, que indica todos esses fatos ao chefe militar, que o mostra à sua gente" (III, 4). Durante a invasão espanhola, Montezuma
nunca deixa de enviar espiões ao campo adversário, e sempre está perfeitamente ciente dos fatos: assim, fica sabendo da chegada das primeiras expedições, ao passo
que os espa nhóis ainda ignoram completamente a existência dele; en tão envia instruções aos governadores regionais: "Ele orde nou (...): 'Façam com que toda a costa
seja vigiada (...), em todos os lugares onde os estrangeiros poderiam desem barcar" (Codex Florentino, que será abreviado daqui em diante CF, X 3). Também mais tarde,
quando Cortez está na Cidade do México, Montezuma é imediatamente infor mado da chegada de Narvaez, que Cortez ignora. "Sempre sabiam o que ocorria, através da palavra,
da pintura ou dos memoriais. Para isso, dispunham de homens muito velozes que, indo e vindo, serviam de mensageiros, e que tinham sido treinados desde a infância
para correr e ter fôlego, para que pudessem subir uma encosta íngreme correndo e sem ficarem cansados" (Acosta, VI, 10). À diferença dos tarascos de Michoacán, os
astecas desenham seus mapas e mensa gens em papel, podendo assim transmiti-los a distância.
Mas os constantes sucessos na coleta de informação não estào ligados, como se poderia imaginar, a um domí nio da comunicação inter-humana. Há algo de emblemático
na recusa, constantemente reiterada por Montezuma, em se comunicar com os intrusos. Durante a primeira fase da con quista, enquanto os espanhóis ainda estão perto
da costa, a mensagem mais importante que Montezuma envia é que ele não quer nenhum intercâmbio de mensagens! Ele rece be as informações, mas não se alegra com isso,
muito pelo contrário; eis a imagem que nos dão dele os relatos dos astecas: "Montezuma baixou a cabeça e, sem dizer uma palavra, a mão sobre a boca, ficou um longo
momento, como [ estivessel morto, ou mudo, pois não pôde falar
82
83
nem responder" (Durán, III, 69). "Quando o escutou, Mon tezuma apenas inclinou a cabeça; mantinha a cabeça baixa (...) Não falou então, mas ficou muito tempo cheio
de afli ção, como se estivesse ao lado de si mesmo (CF, XII, 13). Montezuma não fica simplesmente amedrontado com o conteúdo dos relatos; revela-se literalmente
incapaz de co municar, e o texto faz um paralelo significativo entre "mudo" e "morto". Esta paralisia não enfraquece unicamente a coleta de informação; já simboliza
a derrota, visto que o soberano asteca é, antes de mais nada, um mestre da pala vra - ato social por excelência -, e que a renúncia à lin guagem é o reconhecimento
de uma derrota.
De modo totalmente coerente, estão associados em Montezuma o medo da informação recebida e o medo da informação pedida pelos outros, especialmente quando se refere
à sua pessoa. "Todos os dias vários mensageiros iam e vinham, relatando ao rei Montezuma tudo o que aconte cia, dizendo que os espanhóis faziam muitas perguntas
a respeito dele, colhendo informações sobre sua pessoa, seu comportamento e sua casa. Isto deixou-o bastante angus tiado, hesitante em relação ao caminho a seguir,
fugir, ou se esconder, ou então esperar, pois temia os maiores ma les e os maiores ultrajes para ele e para todo o seu reino" (Tovar, p. 75). "E quando Montezuma
soube que faziam muitas perguntas sobre ele e que exigiam sua presença, que os deuses queriam tê-lo diante dos olhos urgentemente, seu coração ficou apertado de
tormento e angústia" (CF, XII, 13). Segundo Durán, a reação inicial de Montezuma é querer se esconder no fundo de uma gruta profunda. De acordo com os conquistadores,
as primeiras mensagens de Montezuma afirmam que ele está disposto a dar-lhes qual-
1. Aponto aqui um traço estilístico dos textos nahuatl: uma expres são é freqüentemente seguida por uma ou várias outras, sinânimas. O uso do paralelismo é bastante
comum, mas, além disso, Sahagún. inte ressado nas capacidades expressivas da língua, tinha pedido a seus in formantes que lhe fornecessem sempre todas as expressões
possíveis para uma mesma coisa.
quer coisa em seu reino, com uma condição: que renun ciem ao desejo de vir vê-lo.
Esta recusa de Montezuma não é um ato pessoal. A primeira lei enunciada por seu antepassado, Montezuma 1, diz: "Os reis nunca devem aparecer em público, exceto se
for uma ocasião extrema" (Durán, III, 26), e Montezuma II segue esta lei à risca, proibindo ainda que seus súditos olhem para ele quando aparece em público. "Se
um homem comum ousasse levantar os olhos e olhá-lo, Montezuma ordenava que fosse morto." Durán, que relata este fato, reclama que isso prejudica seu trabalho de
historiador. "In terroguei certa vez um índio acerca dos traços faciais de Montezuma, sua estatura e aspecto geral, e eis a resposta que obteve: 'Padre, não mentirei
para o senhor, e nem direi coisas que não sei. Nunca vi o rosto dele" (III, 53). Não é surpreendente que esta lei encabece a lista de regras rela cionadas à diferenciação
hierárquica da sociedade: nos dois casos, o que se elimina é a pertinência do indivíduo dian te do regulamento social. O corpo do rei continua indivi dual, mas a
função do rei, mais do que qualquer outra, é puro efeito social; é portanto necessário subtrair esse cor po aos olhares. Ao deixar-se ver, Montezuma estaria con
trariando seus valores, tanto quanto ao deixar de falar: sai de sua esfera de ação, que é o intercâmbio social, e torna-se um indivíduo vulnerável.
É igualmente revelador ver Montezuma receber a in formação e punir os que a trazem, e assim falhar no plano das relações humanas. Quando um homem chega da costa
para descrever o que viu, Montezuma agradece, mas orde na a seus guardas que o ponham na prisão e vigiem-no bem. Os mágicos tentam ter sonhos proféticos e interpretar
os presságios sobrenaturais. "Quando Montezuma viu que os sonhos não lhe eram favoráveis, e consumavam os maus presságios anteriores, com uma fúria e uma raiva demo
níacas ordenou que os velhos e velhas fossem jogados na prisão para sempre. Só deviam receber pequenas quanti dades de comida, até que morressem de fome. Os sacerdo
tes dos templos (...) puseram-se todos de acordo para não
84
85
dizer mais nada a Montezuma, pois temiam ter o mesmo destino que os outros velhos' (III, 68). Porém, pouco tem po depois, eles já não se encontram na prisão; Montezuma
então decide puni-los de modo exemplar: "Ordenou aos carcereiros que partissem e fossem às cidades de onde vi nham os feiticeiros, que lhes destruíssem as casas,
que lhes matassem as mulheres e filhos e que cavassem o local das casas até que saísse água. Além disso, deviam destruir ou levar os bens deles; e, se algum dia
um desses feiticei ros fosse visto num templo, devia ser apedrejado, e seu corpo jogado às feras selvagens" (ibid.). Nessas condições, é compreensível que se tornem
escassos os voluntários para informar sobre o comportamento dos espanhóis, ou interpretá-lo.
Mesmo quando a informação chega a Montezuma, sua interpretação, necessária, se faz no âmbito da comunicação com o mundo, e não da comunicação com os homens; é aos
deuses que pede conselho sobre o comportamento que deve ter nos assuntos puramente humanos (porque tinha sido assim desde sempre, como sabemos a partir das histórias
indígenas do povo asteca). "Parece que Montezu ma, devido à grande devoção que tinha por seus ídolos Tezcatlipoca e Huitzilopochtli (respectivamente, o deus dos
infernos e o deus da guerra), sacrificava-lhes crianças to dos os dias, para conseguir a inspiraçào do que devia ser feito em relação a nós" (Bernal Díaz, 41). "Assim
que Mon tezuma foi informado do que tinha acontecido, sentiu irri tação e uma forte dor. Sacrificou alguns índios a Huitzilo pochtli, que era seu deus da guerra,
para obter a revelação do que devia acontecer em relação à nossa viagem à Ci dade do México e se esclarecer acerca da questão de nos sa entrada na cidade" (id.,
83).
Naturalmente, quando desejam compreender o pre sente, os dirigentes do país procuram não os conhecedo res de homens, mas os que praticam o intercâmbio com os deuses,
os mestres-intérpretes. Assim é em Tlaxcala. "Depois de escutarem a mensagem, de péssimo humor, concorda ram em chamar todos os adivinhos, todos os papas e outros
que têm a sorte, espécie de feiticeiros que chama-
vam de tacal agual. Foi-lhes recomendado procurar, em suas adivinhações, em seus feitiços e sortes, quem nós éra mos e se poderíamos ser vencidos por hostilidades
de dia e de noite" (Bernal Díaz, 66). Na Cidade do México, ocor re exatamente a mesma reação: "o rei convocou imediata mente toda a sua corte em conselho, expôs
a triste novida de, perguntando quais meios poderiam ser empregados para expulsar de seu país aqueles deuses malditos que vinham para destruí-los, e debatendo longamente
sobre a questão, como exigia um assunto de tal gravidade, resol veram chamar todos os feiticeiros e sábios necromantes que tinham um pacto com o demônio, para que
fizessem o pri meiro ataque, suscitando com sua arte visões aterrorizan tes que, pelo terror, obrigariam aquela gente a voltar para seu país" (Tovar, p. 75).
Montezuma sabia colher informações sobre seus inimi gos quando eles se chamavam tlaxcaltecas, tarascos, huas tecas. Mas o intercâmbio de informação era então perfeita
mente estabelecido. A identidade dos espanhóis é tão dife rente, o comportamento deles a tal ponto imprevisível que abalam todo o sistema de comunicação, e os astecas
não conseguem mais fazer justamente algo que era especialida de deles: a coleta de informações. Se os índios tivessem sabido, escreve repetidas vezes Bernal Díaz,
que éramos tão poucos, como estávamos fracos, exaustos... Todas as ações dos espanhóis pegam os índios de surpresa, como se fos sem eles que conduzissem uma guerra
regular e os espa nhóis os atormentassem com um movimento de guerrilha.
Encontramos uma confirmação global dessa atitude dos índios diante dos espanhóis na própria construção dos re latos indígenas da conquista. Começam, invariavelmente,
pela enumeração dos presságios que anunciou a vinda de homens estranhos para tomar o reino. Também o rei por mensagens que, além de tudo, predizem, sempre, a vitória
dos recém-chegados. "Naquele tempo o ídolo Quetzalcoatl, deus dos cholultecas, anunciou a vinda de homens estra nhos para tomar o reino. Também o rei de Texcoco
[ zahualpillil, que tinha um pacto com o demônio, veio certa vez visitar Montezuma numa hora imprópria, e garantiu
86
87
que os deuses lhe tinham dito que grandes provações e grandes sofrimentos se preparavam para ele e seu reino; vários feiticeiros e encantadores diziam a mesma coisa"
(Tovar, p. 69). Dispomos de indicações semelhantes no que se refere não somente aos astecas do México central, com também aos tainos do Caribe, "descobertos" por
Colombo, aos tarascos de Michoacán, aos maias do Yucatán e da Gua temala, aos incas do Peru etc. Um profeta maia, Ah Xupan Nauat, teria previsto, já no século XI,
que a invasão do Yucatán começaria em 1527. Tomados em conjunto, esses relatos, oriundos de populações muito distantes umas das outras, impressionam pela uniformidade:
a chegada dos es panhóis é sempre precedida por presságios, a vitória deles é sempre anunciada como certa. E mais: os presságios são estranhamente semelhantes, de
um extremo do continente americano ao outro. São sempre um cometa, raios, um in cêndio, homens bicéfalos, pessoas falando durante o tran se etc.
Ainda que não quiséssemos excluir apriori a realida de desses presságios, um número tão grande de coinci dências bastaria para colocar-nos de sobreaviso. Tudo leva
a crer que os presságios foram inventados aposteriori; mas por quê? Vemos agora que esse modo de viver o aconteci mento está totalmente de acordo com as normas da
comu nicação tal como é praticada pelos índios. Em vez de per ceberem o fato como um encontro puramente humano apesar de inédito - a chegada de homens ávidos de
ouro e de poder -, os índios integram-no numa rede de rela ções naturais, sociais e sobrenaturais, onde o aconteci mento perde sua singularidade; é de certo modo
domesti cado, absorvido numa ordem de crenças preexistente. Os astecas vêem a conquista - isto é, a derrota - e ao mesmo tempo superam-na mentalmente, inscrevendo-a
numa his tória concebida segundo suas exigências (e não são os únicos que agem assim): o presente torna-se inteligível e, ao mesmo tempo, menos inadmissível, a partir
do momen to em que é possível vê-lo prenunciado no passado. E a solução é tão apropriada à situação que, ao ouvir o relato,
todos pensam lembrar-se de que os presságios tinham realmente aparecido antes da conquista. Mas, enquanto isso, as profecias exercem um efeito paralisante sobre
os índios que têm conhecimento delas e diminuem-lhes a resistên cia; sabemos, por exemplo, que Montejo será especialmen te bem recebido nas regiões do Yucatán de
onde provêm as profecias de Chilam Balam.
Este comportamento contrasta com o de Cortez, mas não com o comportamento de todos os espanhóis; já en contramos um exemplo espanhol de concepção da comu nicação
espantosamente semelhante: a de Colombo. Como Montezuma, Colombo coletava informações, cuidadosamen te, acerca das coisas, mas falha na comunicação com os homens.
Ainda mais notável é o fato de, ao voltar de sua descoberta excepcional, Colombo dedicar-se à redação de seu Chilam Balam: não pararia enquanto não produzisse um
Livro das Profecias, coletânea de fórmulas extraídas dos (ou atribuídas aos) Livros Santos, que supostamente predi riam sua própria aventura, e as conseqüências
dela. Por suas estruturas mentais, que o ligam à concepção medie val do saber, Colombo está mais próximo daqueles que descobre do que de certos companheiros dele:
como teria ficado chocado em saber disso! E ele não é o único. Ma quiavel, teórico do mundo do porvir, escreve, pouco tem po depois, nos Discursos: "Exemplos antigos
e modernos provam igualmente que eventos importantes nunca ocor rem, em nenhuma cidade ou país, sem terem sido anun ciados por presságios, revelações, prodígios
ou outros si nais celestes" (1, 56). Las Casas dedica um capítulo inteiro de sua Historia das índias ao seguinte tema: "Onde vemos como a Providência divina nunca
permite que aconteci mentos importantes, para o bem do mundo ou para sua punição, ocorram sem terem sido previamente anunciados e preditos pelos santos, ou por outras
pessoas, inclusive os infiéis e pessoas más, e às vezes até pelos demônios" (1, 10). Mais vale uma profecia feita pelos demônios do que profe cia nenhuma! No fim
do século, o jesuíta José de Acosta é mais prudente, mas ainda manifesta a mesma estrutura mental. 'Parece razoável pensar que um acontecimento
88
89
dessa importância Icomo a descoberta da Américal deve ser mencionado nas Santas Escrituras" (1. 15).
Este modo particular de praticar a comunicação (que põe de lado a dimensão inter-humana e privilegia o conta to com o mundo) é responsável pela imagem deformada
que os índios terào dos espanhóis. durante os primeiros contatos e, principalmente, pela idéia de que eles são deu ses; idéia que também tem um efeito paralisante.
Este fato parece ser bastante raro na história das conquistas e das co lonizações (reaparece na Melanésia, e é responsável pelo triste destino do Capitão Cook);
só pode ser explicado por urna incapacidade em perceber a identidade humana dos outros, isto é, admiti-los, ao mesmo tempo, como iguais e como diferentes
A primeira reação, espontânea, em relação ao estrangei ro é imaginá-lo inferior, porque diferente de nós: não chega nem a ser um homem, e, se for homem, é um bárbaro
in ferior; se não fala a nossa língua, é porque não fala língua nenhuma, não sabe falar, como pensava ainda Colombo. Assim, os eslavos da Europa chamam o alemão
vizinho de nernec, o mudo; os maias do Yucatán chamam os invaso res toltecas de numob, os mudos, e os maias cakchiquel se referem aos maias mam como 'gagos" ou "mudos".
Os pró prios astecas chamam os povos ao sul de Vera Cruz de no noualca, os mudos, e os que não falam o nahuatl de tenime, bárbaros, ou popoloca, selvagens; partilham
do desprezo que todos os povos têm por seus vizinhos, julgando que os mais distantes, cultural ou geograficamente, não servem nem para serem sacrificados e consumidos
(o sacrificado deve ser simultaneamente estrangeiro e estimado, ou seja, na realidade, próximo). "Nosso deus não gosta da carne desses povos bárbaros. Para ele,
é pão ruim, duro, insípi do, porque falam uma língua estrangeira, porque são bár baros" (Durán, 3, 28).
Para Montezuma, as diferenças entre astecas, tlaxcalte cas e chichimecas existem, é claro, mas são automatica mente absorvidas na hierarquia do mundo asteca: os
outros são os subordinados, aqueles que podem ser - ou não - as
vítimas do sacrifício. Porém, mesmo nos casos mais extre mos, não há sentimento de estranheza absoluta: dos toto nacas, por exemplo, os astecas dizem simultaneamente
que falam urna língua bárbara e levam uma vida civilizada (CF, X, 29), ou seja, que pode parecer tal aos olhos dos astecas.
Ora, a estranheza dos espanhóis é muito mais rádical. As primeiras testemunhas da chegada deles correm para contar a Montezuma suas impressões: "Devemos dizer a
ele o que vimos, e é aterrador: nunca se viu nada seme lhante" (GF, XII, 6). Não conseguindo inseri-los na categoria dos totonacas - portadores de uma alteridade
quase nada radical -, os astecas renunciam, diante dos espanhóis, a seu sistema de alteridades humanas, e são levados a recorrer ao único outro dispositivo acessível:
o intercâmbio com os deuses. Nisso também podemos compará-los a Colombo; entretanto, aparece também uma diferença essencial: co mo eles, Colombo não consegue facilmente
ver o outro como humano e igual ao mesmo tempo; mas, devido a isso, trata-os como animais. O erro dos índios, aliás, não durará muito; o suficiente, entretanto,
para que a batalha seja defi nitivamente perdida e a América submetida à Europa. Como diz em outra passagem o Livro de ('hilam Balam: "Aqueles que não puderem compreender
morrerão; os que compreen derem viverão" (9).
Observemos agora, não mais a recepção, mas a pro dução dos discursos e dos símbolos, tal como é praticada nas sociedades indígenas na época da conquista. Não há
necessidade de voltar ao livro santo, o Popol Vub, que põe a palavra na origem do mundo, para saber que as práticas verbais são altamente estimadas: nada seria mais
falso do que imaginar os astecas indiferentes a esta atividade. Como vários outros povos, os astecas interpretam seu próprio nome referindo-se ao domínio da língua
por oposição às outras tribos: "Os índios desta Nova Espanha procedem, segundo narram geralmente suas histórias, de dois povos diferentes: dão ao primeiro o nome
de Nahuatlaca, o que significa gente que se explica e fala claramente', opondo-se ao segundo povo, então muito selvagem e bárbaro, que se
90
91
ocupava unicamente com a caça e ao qual deram o nome de Chichimeca, que significa gente que vai à caça' e que vive dessa ocupação primitiva e agreste" (Tovar, p.
9).
Aprender a bem falar faz parte da educação familiar; é, inclusive, a primeira coisa em que pensam os pais: "Ze lavam cuidadosamente para que [ filho] soubesse conver
sar de modo apropriado com os outros, e que sua conversa fosse conveniente" (67F, VIII, 20, p. 71); e um preceito anti go, que os pais transmitem aos filhos, diz:
"Não dê mau exemplo, não fale sem parar, não interrompa o discurso dos outros. Se alguém fala mal ou de modo pouco claro, trate de não fazer o mesmo; se não lhe
cabe falar, fique quieto" (Olmos em Zorita, 9). Os pais não param de dizer a seus filhos: "Você deve falar lentamente, bem pausada mente; não deve falar precipitadamente,
nem ofegando, nem em falsete, senão dirão que você é um gemedor, um resmungão, um tagarela. Você também não deve gritar, senão será tratado de imbecil, de sem-vergonha,
de bruto, de verdadeiro bruto. (...) Você deve esmerar-se, adoçar suas palavras, sua voz" (cF, VI, 22).
Que uma tal atenção seja dedicada áquilo que os retó ricos latinos chamavam de actio ou pronuntiatio deixa supor que não sejam indiferentes aos outros aspectos da
fala; e sabemos que esta educação não é deixada a cargo unicamente dos pais, é também ministrada em escolas es peciais. Existem, no estado asteca, duas espécies
de esco las, uma onde se prepara para o ofício de guerreiro, e outra de onde saem os sacerdotes, os juizes e os dignitários reais; é nessas últimas, chamadas de
calmecac, que se dedica uma atenção particular ao verbo: "Ensinavam cuidadosa mente os meninos a falar. Os que nào falavam bem, que nào saudavam bem, eram picados
com espinhos de maguey. (...) Ensinavam-lhes cantos, chamados de Cantos divinos, e que estavam escritos nos livros. E também lhes ensinavam a contar os dias, e o
livro dos sonhos, e o livro dos anos" (6'F, III, Apêndice, 8). O calmecac é uma escola de inter pretação e de oratória, de retórica e hermenêutica. São to mados,
pois, todos os cuidados para que os alunos se tor nem bem falantes e bons intérpretes.
É que, como diz um outro cronista (juan Bautista Po mar, na Relação de Texcoco), aprendiam simultaneamente "a bem falar e a bem governar". Na civilização asteca
- co mo em muitas outras -, os altos dignitários reais são esco lhidos principalmente em função de suas qualidades ora tórias. Sahagún conta que "entre os mexicanos,
os reitores doutos, virtuosos e valorosos eram muito estimados" (VI, "Prólogo", 2), e lembra: "Os reis sempre tinham a seu lado oradores hábeis, para falar e responder
sempre que fosse necessário. Utilizavam-nos assim desde os primeiros mo mentos de sua eleiçào" (VI, 12, 8). Os antigos maias vão ainda mais longe: os futuros chefes
são escolhidos através de um procedimento que lembra uma prova por enigmas:
devem saber interpretar certas expressões figuradas, cha madas de "linguagem de Zuyua". O poder exige a sabedo ria, que é atestada pelo saber-interpretar. "Estas
são as coi sas que é necessário compreender para tornar-se chefe da aldeia, quando se é conduzido até o soberano, o chefe superior. Estas são as palavras. Se os
chefes da aldeia não as compreenderem, então nefasta é a estrela que orna a noite" (('bilain Balam, 9). Se os candidatos não passam nessa prova, são severamente
punidos. "Os chefes da al deia serào presos por não terem podido compreender. (...) Serão enforcados, terão a ponta da língua cortada, e os olhos arrancados" (ibíd.).
Como as vítimas da esfinge, os futuros chefes se vêem diante do dilema: interpretar ou morrer (à diferença, entretanto, das personagens das Mil e uma noi tes, cuja
lei seria: "Conte ou morra!". Mas há, sem dúvida, civilizações narrativas e civilizações interpretativas); e con ta-se que, uma vez eleito, o chefe é marcado pela
inscri ção de pictogramas sobre seu corpo: garganta, pé, mão.
A associação entre o poder e o domínio da língua é claramente marcada entre os astecas. O próprio chefe de estado é chamado de tiatoani, o que quer dizer, literal
mente 'aquele que possui a palavra" (um pouco como nosso 'ditador"), e a perifrase que designa ) sábio é "o possuidor da tinta vermelha e da tinta negra", ou seja,
aquele que sabe pintar e interpretar os manuscritos picto
92
93
gráficos. As crônicas indígenas descrevem Montezuma como "um retórico e um orador nato. Quando falava, atraía com suas frases refinadas e seduzia com seus raciocínios
pro fundos; todos ficavam satisfeitos com sua conversa tran qüila" (Durán, II 54). No Yucatán, os profetas-intérpretes gozam da mais alta estima e dos maiores privilégios:
"Os sacerdotes tinham por ofício tratar e ensinar suas ciências, indicar as calamidades e os meios de remediá-las, pregar nas festas, celebrar os sacrificios e administrar
seus sacra mentos. Os chilanes [ deviam dar a todos da co munidade as respostas do demônio, e a estima em que eram tidos era tal, que só saíam carregados em liteiras"
(Landa, 27).
Mesmo depois da Conquista, os espanhóis não po dem conter a admiração pela eloqüência indígena. Quinze anos após o fim do império asteca, Vasco de Quiroga conta:
"Cada um deles nos agradeceu por sua vez com tal elo qüência que era como se tivesse estudado a arte da oratória durante toda a vida" (p. 316). Sebastián Ramirez
de Fuenleal, presidente da segunda audíencia (tribunal, e também fon te de todo o poder legal), da qual faz parte Vasco de Qui roga, sente tanto prazer em escutar
os índios falarem que se esquece do desagrado provocado pelo teor de suas pa lavras: "Há dez dias os chefes de Michoacãn e os filhos do Cazonci Frei localI vieram
trazer suas queixas a Vossa Ma jestade. Pronunciaram um discurso tão bem ordenado que dava prazer ouvir a tradução que faziam os intérpretes."
Os espanhóis da época ficam igualmente fascinados pela linguagem. Mas a pura e simples existência de uma atenção para com a produção verbal por parte de ambos não
significa que os mesmos aspectos da fala sejam valori zados num caso e no outro. A fala privilegiada pelos aste cas é a fala ritual, isto é, regulamentada em suas
formas e em suas funções, fala memorizada e, portanto, sempre ci tada. A forma mais impressionante da fala ritual é consti tuída pelos huehuetlato discursos aprendidos
de cor, mais ou menos longos, que cobrem uma grande variedade de temas e correspondem a toda uma série de circunstân
cias sociais: rezas, cerimônias de corte, diversos ritos de passagem na vida do indivíduo (nascimento, puberdade. casamento, morte), partidas, encontros etc. São
sempre formulados numa linguagem cuidada, e supostamente her dados de tempos imemoriais, daí seu arcaísmo lingüístico. Sua função é a de toda palavra numa sociedade
sem escri ta: materializam a memória social, isto é, o conjunto de leis, normas e valores que devem ser transmitidos de uma gera ção a outra, para garantir a identidade
da coletividade; isto explica também a importância excepcional dada à educação pública, à diferença do que acontece nas sociedades do livro, onde a sabedoria a que
se pode ter acesso sozinho equilibra os valores transmitidos pela instituição coletiva,
A ausência de escrita é um elemento importante da situaçào, talvez até o mais importante. Os desenhos estili zados, os pictogramas usados pelos astecas, não são
um grau inferior da escrita: registram a experiência, e não a lingua gem. A escrita dos europeus é tão pouco familiar aos ín dios que suas reações serão rapidamente
exploradas pela tradição literária: é comum representar o índio portador de um fruto e de uma mensagem escrita, que menciona o fato; o índio come o fruto no caminho
e fica perplexo ao ser acusado disso pelo destinatário da carta. Os desenhos do Codex retêm unicamente os grandes marcos da história, que, em si, são ininteligíveis;
o discurso ritual que os acom panha permitirá compreendê-los: nos damos conta disso facilmente hoje em dia, pois alguns desenhos se mantêm obscuros para nós, na
ausência de qualquer comentário antigo.
Que a ausência de escrita seja reveladora do compor tamento simbólico em geral, e ao mesmo tempo, da capa cidade de perceber o outro, parece ser ilustrado por outro
fato. As três grandes civilizações ameríndias encontradas pelos espanhóis não se situam no mesmo nível de evolu ção da escrita. Os incas são totalmente desprovidos
de es crita (dispõem de um uso mnemotécnico de cordões, aliás bastante elaborado): os astecas possuem pictogramas; en tre os maias, encontram-se rudimentos de uma
escrita fonética. Ora, observamos uma gradação comparável na
94
95
intensidade da crença de que os espanhóis são deuses. Os incas acreditam firmemente nessa natureza divina. Os aste cas, só num primeiro momento. E os maias colocam
a per gunta e respondem a ela pela negativa: em vez de "deuses", chamam os espanhóis de "estrangeiros", ou então "come- dores de anones fruto que eles mesmos não
ousam con sumir, ou "barbados", ou até "poderosos"; mas nunca "deu ses". Por um lado, diz-se que houve entre eles um mo mento de hesitação a esse respeito (como
nos Anais dos cakchiquel, isto é, na Guatemala, não no Yucatán), mas ve mos também que é rapidamente superado e que a imagem dos espanhóis continua fundamentalmente
humana. A coi sa se torna ainda mais incrível na medida em que somente alguns sacerdotes ou nobres são iniciados na escrita maia; mas não é o uso efetivo da escrita
que conta, a escrita como instrumento, e sim a escrita enquanto índice da evolução das estruturas mentais. Torna-se necessário, entretanto, acrescentar aqui uma
outra explicação (a menos que seja, secretamente, a mesma): os maias também são o único dos três grupos que sofreu uma invasão estrangeira (a dos me xicanos): sabem
o que é uma outra civilização, outra, e ao mesmo tempo, superior; e suas crônicas contentam-se fre qüentemente em inserir os espanhóis na rubrica que era anteriormente
reservada para os invasores toltecas.
O importante aqui é a escrita; ausente, ela não pode assumir a função de suporte da memória, e esta cabe à pa lavra. É por isso que os huehuetlatolli têm tanta importân
cia, é por isso também que, mesmo fora desses gêneros fixos, percebemos, lendo os informantes de Sahagún por exemplo, que suas respostas expressam um saber aprendi
do de cor, sem variações individuais. Mesmo se pensarmos que os informantes, certamente velhos, exageram o papel dos discursos atuais em detrimento da fala improvisada,
não podemos deixar de ficar impressionados com a quantida de e o tamanho desses discursos e, portanto, com a parte ocupada pelo ritual no seio da vida verbal da
comunidade.
O traço essencial desses discursos é o fato de virem do passado; como a interpretação, a produção discursiva é do minada pelo passado, e nào pelo presente; a própria
pala-
vra huehuetlatolli significa "palavras dos antigos". Essas pa lavras, diz um velho, "vos foram deixadas, vos são entre gues pelos homens e mulheres de antigamente,
foram cui dadosamente guardadas, armazenadas em vossas entranhas, em vossa garganta" (CF, VI, 35). O que é confirmado por outros cronistas: "Para condenar estes
discursos com as mes mas palavras empregadas pelos oradores e poetas, eram exercitados todos os dias nas escolas dos jovens de famí lias nobres que seriam seus sucessores,
e por meio da repetição contínua, gravavam-nos na memória sem modifi car uma só palavra", escreve Tovar ("Carta a Acosta").
De modo mais geral, a referência ao passado é essen cial para a mentalidade asteca da época. Encontramos uma ilustração comovente disso num documento bastante excep
cional, intitulado Diálogos e doutrina cristã, que data de 1524, ou seja, apenas três anos após a conquista. Os doze primeiros franciscanos chegaram ao México e
começaram seu trabalho de conversão. Mas um dia, na Cidade do Mé xico, um homem se levanta e protesta: certamente não tem capacidade para responder aos argumentos
teológicos dos cristãos; mas os mexicanos também tiveram seus espe cialistas em assuntos divinos, e eles poderiam enfrentar os franciscanos, explicar a eles por
que os deuses dos astecas não são inferiores ao deus dos espanhóis. Os franciscanos aceitam o desafio, e o próprio Cortez dá ordens para que se organize o encontro.
Sem dúvida ocorrem outros deba tes desse mesmo gênero nos primeiros anos da pós-con quista; dispomos atualmente de um relato asteca recolhido por Sahagún, que é
apresentado como um resumo do encontro da Cidade do México em 1524, mas que deve ser, na verdade, uma representação literária e generalizada des se tipo de debate.
O conjunto do debate situa-se no âmbi to da ideologia cristã, mas ainda assim seu valor de teste munho continua grande.
Ora, qual será o argumento inicial dos religiosos aste cas? Nossa religião, dirão, é antiga; nossos antepassados já aderiram a ela, não há pois nenhuma razão para
renunciar a ela. "É uma palavra nova, essa que dizeis, que nos per
96
97
turba e flOS contraria. Pois nossos pais, aqueles que foram, aqueles que viveram nesta terra, não costumavam falar as sim" (7, 950-6). "Era a doutrina de nossos
antepassados, é pela graça dos deuses que vivemos, eles nos mereceram" (7, 970-2). "E nós, agora, destruiremos a antiga regra de vi da?' (7, 1016-8). Esses argumentos
não convenceram os padres franciscanos. A seu modo, o relato de que dispo mos ilustra a maior eficácia do discurso cristào: o diálogo é bastante assimétrico, pois
as palavras dos evangelizado res ocupam um lugar não somente maior, como também crescente; tem-se a impressão de que a voz dos sacerdotes mexicanos, afirmando a
ligação com o passado, é progres sivamente abafada pelos abundantes discursos dos fran ciscanos.
Este não é um exemplo isolado; encontramos um rela to quase idêntico em Cortez, que conta este debate impro visado: 'Aproveitei a ocasião para fazê-los notar o quanto
a religião deles era tola e vã, pois acreditavam que ela po dia oferecer-lhes bens que não sabiam defender, e que lhes eram tomados com tanta facilidade. Responderam-me
que era a religião de seus pais" (5). Quarenta ou cinqüenta anos mais tarde Durán ainda ouve a mesma resposta: "Interro guei alguns velhos acerca da origem de seu
saber no que concerne ao destino dos homens, e eles responderam que os antigos lhes tinham legado e ensinado isso, e que era tudo o que sabiam. (...) Dão a entender
que não adquiriram nada a partir de uma investigação particular" (II, 2).
De nosso ponto de vista atual, a posição dos cristãos não é, em si, "melhor" que a dos astecas, ou mais próxima da "verdade". A religião, qualquer que seja seu conteúdo,
é um discurso transmitido pela tradição, e que importa en quanto garantia de uma identidade cultural, A religião cris tã não é em si mais racional do que o "paganismo"
indíge na. Mas seria ilusório ver nos sacerdotes astecas antropólo gos do religioso. Saber que a religião não passa de um dis curso tradicional nào faz com que eles
se distanciem dela nem um pouco; muito pelo contrário, é exatamente por essa razão que eles nào podem colocá-la em questão. A
opinião pessoal, como vimos, não tem valor nesse contex to, e não se aspira a um saber ao qual o indivíduo pudes se chegar através de uma indagação pessoal. Os espanhóis
tentam racionalizar sua escolha da religião cristã; é desse esforço (ou melhor, de seu malogro) que nasce, nessa épo ca, a separação entre a fé e a razão, e a própria
possibili dade de manter um discurso não religioso sobre a religião.
A submissão do presente ao passado continua a ser uma característica significativa da sociedade indígena da época, e podemos observar indícios dessa atitude em vários
outros campos além do religioso (ou, se preferirem, encon tramos o religioso muito além dos limites nos quais temos o hábito de encerrá-lo). Os comentadores recentes
quase nunca puderam conter sua admiração por um estado que dava tanta atenção à educação das crianças: ricos e pobres são "escolarizados", na escola religiosa ou
na escola mili tar. É claro, porém, que este não é um traço que possa ser admirado isoladamente: a educação pública é essencial em qualquer sociedade onde o passado
pesa muito sobre o presente, ou, o que vem a ser o mesmo, onde a coletivida de tem precedência sobre o indivíduo. Uma das catorze leis de Montezuma 1 consagra essa
preeminência do antigo sobre o novo e dos velhos sobre os jovens: "Preceptores e velhos repreenderão, corrigirão e castigarão os jovens, e os vigiarão e dirigirão
nos exercícios habituais, e não dei xarão que fiquem ociosos, a perder tempo" (Durán, III, 26. Os testes por enigmas dos chefes maias não põem à prova uma capacidade
interpretativa qualquer: não se trata de dar uma resposta engenhosa, mas a resposta certa, isto é, tra dicional; conhecer a resposta implica pertencer à boa li nhagem,
já que ela é transmitida de pai para filho. A pala vra que, em nahuatl, designa a verdade, neltiliztli, está ligada etimologicamente a "raiz", "base", "fundamento";
a verdade está vinculada à estabilidade; e um huebuetiatoili põe em paralelo estas duas questões: "o homem possui a verdade? Existem coisas estáveis e duráveis?"
(C 10, 15).
Nesse mundo voltado para o passado, dominado pela tradição, sobrevém a conquista: um acontecimento absolu
98
99
tamente imprevisível, surpreendente, único (digam o que disserem os presságios recolhidos posteriormente). Traz uma outra concepção do tempo, que combate a dos astecas
e maias. Dois traços do calendário indígena onde esta con cepção é expressa de modo particularmente claro são per tinentes aqui. Em primeiro lugar, cada dia particular
per tence a um número de ciclos maior do que para nÓS: há o ano religioso de 260 dias e o ano astronômico de 365 dias; os anos, por sua vez, formam ciclos, como
os nossos séculos, mas de modo mais circunscrito, de vinte, ou de cinqüenta e dois anos etc. Em seguida, esse calendário baseia-se na convicção íntima de que o tempo
se repete. Nossa crono logia tem duas dimensões, uma cíclica, e a outra linear. Se digo "quarta-feira, vinte e cinco de fevereiro", apenas indi co o lugar do dia
no interior de três ciclos (semana, mês, ano); mas, ao acrescentar "1981", submeto o ciclo à pro gressão linear, já que o cômputo dos anos segue uma su cessão sem
repetição, do infinito negativo ao infinito posi tivo. Entre os maias e os astecas, ao contrário, é o ciclo que domina em relação à linearidade: há uma sucessão
no in terior do mês, do ano, e do "feixe" de anos; mas estes, em vez de estarem situados numa cronologia linear, repetem-se exatamente de um a outro. Há diferenças
no interior de cada seqüência, mas uma seqüência é idêntica à outra, e ne nhuma delas está situada num tempo absoluto (daí as difi culdades encontradas na tradução
das cronologias indíge nas para a nossa). Não é por acaso que a imagem, gráfica e mental, que os astecas têm do tempo é a roda (ao passo que a nossa seria mais a
flecha). Como diz uma inscrição (tardia) no Livro de Chilam Balam: "Treze vintenas de anos, e em seguida sempre recomeçará de novo" (22).
Os livros antigos dos maias e dos astecas ilustram essa concepção do tempo, tanto por seu conteúdo quanto pelo uso que deles se faz. São guardados, em cada região,
pe los adivinhos-profetas e são (entre outros) crônicas, livros de história; ao mesmo tempo, permitem prever o futuro; já que o tempo se repete, o conhecimento do
passado leva ao conhecimento do futuro; ou melhor, são a mesma coi
sa. Assim, vemos nos ('hilam Balam maias que é sempre importante situar o acontecimento em seu lugar no siste ma (tal dia, de tal mês, de tal vintena de anos) mas
não há referência à progressão linear, inclusive para eventos pos teriores à conquista; de modo que não temos nenhuma dúvida quanto ao dia da semana em que um determinado
fato ocorreu, mas podemos hesitar entre mais ou menos vinte anos. A própria natureza dos acontecimentos obede ce a esse princípio cíclico, já que cada seqüência
contém os mesmos eventos; os que ocupam exatamente o mesmo lugar em seqüências diferentes tendem a se confundir. As sim, nesses livros, a invasão tolteca apresenta
aspectos que são incontestavelmente próprios da conquista espanhola, e vice-versa, de modo que vemos claramente que se trata de uma invasão, mas não podemos saber
com certeza se é uma ou a outra, embora séculos as separem.
Não são unicamente as seqüências passadas que se pa recem, as futuras também. Por isso os acontecimentos são contados ou no passado, como numa crônica, ou no futuro,
sob a forma de profecias: mais uma vez, é a mesma coisa. A profecia tem raízes no passado, já que o tempo se repe te; o caráter positivo ou negativo dos dias, meses,
anos e séculos futuros é estabelecido a partir de uma busca intui tiva de um denominador comum com os períodos corres pondentes do passado. Reciprocamente, hoje
em dia tira mos informações acerca do passado desses povos das pro fecias, que, geralmente, são as únicas a terem sido preser vadas. Durán conta que entre os astecas,
os anos eram re partidos em ciclos de acordo com os pontos cardeais, "os anos mais temidos eram os do norte e os do oeste, devido à experiência que tiveram das grandes
desgraças que se produziram sob aqueles signos" (II, 1). O relato maia da invasão espanhola mistura inextricavelmente futuro e pas sado, e procede por prospecções
retrospectivas. "Estas pa lavras devem ser apreciadas como são apreciadas as pedras preciosas. Elas concernem à futura introdução do cristia nismo" (('hilam Balam,
24). "Assim Deus nosso Pai envia um sinal do tempo em que virão, pois não há concórdia.
101
Os descendentes dos antigos soberanos são desonrados e levados à miséria; tornamo-nos cristãos enquanto eles nos tratam como animais" (ibid.. 11). Um copista tardio
acrescen ta esta nota significativa: "Neste décimo oitavo dia de agosto de 1776 houve um furacào. Anotei-o aqui para que se possa ver quantos anos passarão antes
que ocorra outro" (ibid., 21). Vê-se claramente que uma vez estabelecido o termo da série, a distância que separa dois furacões, será possível prever todos os furacões
futuros. A profecia é memória.
Os mesmos livros existem entre os astecas (mas não foram tão bem conservados); neles são consignados, além das delimitações dos territórios ou os montantes dos im
postos, os acontecimentos do passado; e são eles que se consultam quando se quer conhecer o futuro: passado e futuro pertencem ao mesmo livro, concernem ao mesmo
especialista. Montezuma também procurará esse livro para saber o que os estrangeiros vão fazer. Inicialmente, ordena que seja feito um quadro representando exatamente
o que seus mensageiros viram à beira-mar. O pintor mais habili doso da Cidade do México é encarregado disso; quando termina o quadro, Montezuma lhe pergunta: "Irmão,
peço que iTie digas a verdade acerca do que desejo perguntar-te:
por acaso sabes algo acerca do que aqui pintaste? Teus antepassados deixaram algum desenho ou descrição des ses homens que virão ou serão trazidos a este país?"
(Du rán, III, 70). Vemos que Montezuma não quer admitir que um acontecimento inteiramente novo possa ocorrer, que sobrevenha algo que já não fosse sabido pelos antepassa
dos. A resposta do pintor é negativa, mas Montezuma não pára por aí e consulta todos os outros pintores do reino; nada. Por fim lhe recomendam um velho chamado Qui
laztli, que é "bem instruído e conhecedor de todas as ma térias relativas às tradições e aos livros pintados". Quilaztli, apesar de não ter ouvido falar da chegada
dos espanhóis, sabe tudo acerca dos estrangeiros que virão, e diz ao rei:
"Para que creias que o que digo é a verdade, olha atenta mente para este desenho! Ele me foi legado por meus antepassados. - E tirando então um desenho muito antigo,
mostrou a ele o barco e os homens vestidos como estavam pintados [ novo desenho]. O rei viu nele outros homens montados em cavalos e outros em águias voadoras, todos
vestidos com muitas cores, chapéu à cabeça e espada à cinta" (ibid.).
O relato é visivelmente bem literário; nem por isso deixa de ser revelador da concepção asteca do tempo e do evento: menos a de Montezuma, é claro, do que a do nar
rador e de seu auditório. Não podemos crer que existisse um desenho, bem anterior à chegada dos espanhóis, re presentando seus barcos e as espadas, roupas e chapéus,
as barbas e a cor da pele (e o que devemos achar dos ho mens montados em águias voadoras?). Trata-se de uma pro fecia fabricada a posteriori, de uma prospecção retrospecti
va. Mas é revelador que se sinta a necessidade de forjar essa história: não pode haver nenhum acontecimento inteira mente inédito, a repetição tem prioridade sobre
a diferença.
Em lugar desse tempo cíclico, repetitivo, imobilizado numa seqüência inalterável, onde tudo é sempre previsto com antecedência, onde o evento singular não passa
de realização de presságios desde sempre presentes em lugar desse tempo dominado pelo sistema, vem se impor o tem po unidirecional, o tempo da apoteose e da realização,
como é vivido então pelos cristãos. De resto, a ideologia e a atividade por ele inspiradas auxiliam-se mutuamente: os espanhóis consideram a facilidade da conquista
como uma prova da superioridade da religião cristã (é o argumento decisivo que se emprega durante os debates teológicos: a superioridade do Deus cristão é evidenciada
pela vitória dos espanhóis sobre os astecas), e, ao mesmo tempo, foi em nome dessa superioridade que fizeram a conquista: a qualidade de uma justifica a outra, e
vice-versa. E é também a conquista que justifica a concepção cristã do tempo, que não é um incessante retorno e sim uma progressão infinita em direção à vitória
final do espírito cristão (concepção que seria mais tarde herdada pelo comunismo).
Deste choque entre um mundo atual e um aconteci mento único resulta a incapacidade de Montezuma em
102
103
produzir mensagens apropriadas e eficazes. Grandes mes tres na arte da fala ritual, os índios saem-se muito mal em situaçào de improvisação; e é esta, precisamente,
a situa ção da conquista. Sua educação verbal favorece o paradig ma em detrimento do sintagma, o código em detrimento do contexto, a conformidade com a ordem em
vez da efi cácia do instante, o passado em vez do presente. Ora, a invasão espanhola cria uma situação radicalmente nova, completamente inédita, uma situação onde
a arte da im provisação é mais impprtante do que a do ritual. Nesse contexto, é bastante notável ver que Cortez não só pratica constantemente a arte da adaptação
e da improvisação, como também tem consciência disso, e o reivindica como princípio de seu comportamento: "Esforçar-me-ei sempre em acrescentar o que me parecer
apropriado, pois as re giões que se descobriam a cada dia são tão grandes, e tão diversas, e os segredos a que temos acesso por meio des sas descobertas tantos,
que as novas circunstâncias impõem novas opiniões e novas decisões; e se Vossa Majestade no tar alguma contradição entre o que estou dizendo e o que terei a dizer
ou o que já disse, que Vossa Excelência saiba que um fato novo fez com que eu adotasse uma nova opi nião' (4). A preocupação com a coerência cede lugar à preocupação
com uma adequação pontual de cada gesto particular.
De fato, a maior parte das comunicações dirigidas aos espanhóis impressiona pela ineficácia. Para convencê-los a deixar o país, Montezuma envia-lhes ouro, todas
as vezes; mas nada podia convencê-los mais a ficar. Outros chefes, com o mesmo intuito, mandam-lhes mulheres; elas se tor nam a justificativa suplementar da conquista
e, ao mesmo tempo, como veremos, uma das armas mais poderosas nas mãos dos espanhóis, arma simultaneamente defensiva e ofensiva. Para desencorajar os intrusos, os
guerreiros aste cas anunciam que todos eles serão sacrificados e comidos, por eles ou pelos animais selvagens; e quando, certa vez, prendem alguns deles, fazem com
que sejam sacrificados diante dos soldados de Cortez; e o fim é o que eles tinham
predito: "Comiam as carnes com chilmole, e desta maneira sacrificaram todos os outros. Comiam-lhes as pernas e os braços, enquanto o coração e o sangue eram oferecidos
aos ídolos, e o corpo, que eram as entranhas e os pés, lança vam aos tigres e leões que tinham na casa das feras" (Ber na! Díaz, 152). Mas essa sorte pouco invejável
de seus companheiros só pode produzir nos espanhóis um efeito:
levá-los a lutar com mais determinação, visto que agora só têm uma escolha: vencer - ou morrer na panela.
E também este outro episódio comovente, relatado por Bernal Díaz: os primeiros enviados de Montezuma pintam para ele um retrato de Cortez, ao que tudo indica muito
pare cido, já que a delegação seguinte é liderada por "um gran de cacique mexicano que tinha o rosto, os traços e o cor po semelhantes aos de Cortez. (...) Como
se parecia real mente com Cortez, nós o chamávamos por esse nome em nosso campo: o Cortez daqui e o Cortez de acolá!" (39). Essa tentativa de agir sobre Cortez com
o auxílio de uma mágica por semelhança (sabe-se que os astecas "personifi cam" assim seus deuses) não surte, evidentemente, nenhum efeito.
Ineficazes em suas mensagens dirigidas a (ou contra) os espanhóis, os astecas não conseguem mais dominar a comunicação com os outros índios, nessa situação nova.
Já em tempo de paz, e antes da chegada dos espanhóis, as mensagens de Montezuma caracterizam-se por seu aspec to cerimonial, entrave potencial a um certo tipo de
eficá cia: "Respondia raramente, pois em geral sua resposta era transmitida por seus próximos e amigos, que sempre fica vam a seu lado e serviam-lhe, em suma, de
secretários", escreve Motolinia (III, 7). No estado de improvisação im posto pela conquista, surgem novas dificuldades. Os pre sentes de Montezuma, que tinham sobre
os espanhóis o efeito oposto ao esperado, prejudicam-no também junto à sua própria população, pois conotam sua fraqueza, e fazem com que outros chefes decidam mudar
de campo: "Fica ram estupefatos e entre eles dizia-se que certamente éra mos teules [ de origem divina], pois Montezuma tinha
104
105
medo de nós e nos enviava ouro e presentes. Ora, se até então tínhamos tido grande reputação de homens valentes, a partir de então nos estimaram ainda mais" (Berna!
Díaz, 48).
Ao lado das mensagens voluntárias, mas que não co municam o que seus autores desejariam, há outras, que não parecem intencionais, e que são tão infelizes em seus
efeitos quanto as primeiras: trata-se de uma certa incapaci dade dos astecas em dissimular a verdade. O grito de guer ra, que os índios lançam invariavelmente ao
iniciarem a batalha, e que visa amedrontar o inimigo, na verdade reve la a presença deles e permite que os espanhóis se orien tem melhor. O próprio Montezuma fornece
informações preciosas a seus carcereiros, e se Cuauhtemoc é preso, é porque tenta fugir num barco ricamente decorado com in sígnias reais. Sabemos que isso não acontece
por acaso. Um capítulo inteiro do Codex Florentino é consagrado aos "armamentos que os reis utilizavam na guerra" (VIII, 12), e o mínimo que se pode dizer é que
esses adornos não são particularmente discretos: "Usavam um capacete de plu mas coloridas que se chamavam tlauhquechol, enfeitado com ouro, e em volta do capacete
uma coroa de lindas pe nas; e do meio da coroa saía um penacho de quetxal. Le vavam nas costas um tambor de pele, colocado em sua base e decorado com ouro. Vestiam
uma camisa rubra feita de penas, enfeitada com lâminas de sílex, ornamentadas com ouro; e sua saia de folhas de sapotizeiro era toda co berta de penas de quetxal.
O escudo era rodeado de ouro fino e seus pingentes eram feitos de penas preciosas", etc. Nesse livro dedicado à conquista, são também relatados os feitos do guerreiro
Tzilacatzin; ele se disfarça de mil mo dos para desorientar os espanhóis; mas, o texto acrescen ta: "deixava a cabeça descoberta, para mostrar que era um guerreiro
otomi" (CF, XII, 32). Nào é surpreendente, por tanto, que Cortez ganhe uma batalha decisiva, logo após sua fuga da Cidade do México na Noche Triste, precisamen te
graças a essa falta de dissimulaçào entre os astecas. 'Cortez abria caminho entre os índios, conseguia facilmen te localizar e matar-lhes os chefes, que eram reconhecíveis
por seus escudos de ouro, e não dava atenção aos guerrei ros comuns; de modo que foi capaz de matar-lhes o gran de chefe com um golpe de sua lança (...) Quando Cortez
matou o grande chefe, eles começaram a retirar-se e nos deixaram partir" (F. de Aguilar),
Tudo acontece como se, para os astecas, os signos de corressem automática e necessariamente do mundo que designam, em vez de serem uma arma destinada a mani pular
os outros. Esta característica da comunicação entre os índios dá origem, junto aos autores que lhes querem bem, à lenda de que os índios são um povo que desco nhece
a mentira. Motolinia afirma que os primeiros padres tinham notado principalmente dois traços dos índios: "Que eram gente muito verdadeira, e que não tomariam a pro
priedade de outros nem que ela fosse abandonada na rua durante vários dias" (III, 5). Las Casas enaltece a total au sência de "duplicidade" nos índios, à qual opõe
a atitude dos espanhóis: "Os espanhóis nunca respeitaram a própria palavra ou a verdade nas Índias, em relação aos índios" (Relación, "Peru"), de modo que, afirma,
"mentiroso" e "cristão" tornaram-se sinônimos: 'Quando os espanhóis perguntavam aos índios (e isto aconteceu não uma vez, mas freqüentemente) se eram cristãos, o
índio respondia:
'Sim, senhor, já sou um pouco cristão, pois já sei mentir um pouco; um dia saberei mentir muito e serei muito cristão" (Historia, II, 145). Os próprios índios não
discor dariam desta deserção; lê-se em Tovar: "O discurso pacífi co do Capitão [ mal acabara, e os soldados puse ram-se a saquear o palácio real e as casas das pessoas
im portantes, onde esperavam encontrar riquezas, e assim os índios começaram a considerar como muito suspeita a ati tude dos espanhóis" (p. 80).
Os fatos estão, evidentemente, aquém das descrições entusiastas dos amigos dos índios: não podemos conceber uma linguagem sem a possibilidade da mentira, assim como
não há palavra que ignore as metáforas. Mas uma socieda de pode favorecer ou, ao contraído, desencorajar comple tamente toda a palavra que, em vez de descrever fielmen
106
107
te as coisas, preocupa-se principalmente com seu efeito, e desconsidera, pois, a dimensão da verdade. Segundo Alva rado Tezozomoc, "Montezuma promulgou uma lei segun
do a qual quem dissesse uma mentira, por leve que fosse, seria arrastado nas ruas pelos meninos do colégio de Te pochcalco até que desse o último suspiro" (103).
Zorita tam bém situa a origem desse traço nos costumes e na educa ção: "Ninguém ousava jurar em falso, temendo que os deu ses em nome dos quais jurava viessem a
puni-lo com uma grave enfermidade. (...) Os pais alertavam severamente seus filhos contra a mentira, e um pai punia o filho que co metesse uma ofensa, picando-lhe
os lábios com um espi nho de maguey. Conseqüentemente, os filhos cresciam acos tumados a dizer a verdade. Quando perguntamos aos ín dios velhos porque seu povo mente
tanto hoje em dia, res pondem que é porque o falso deixou de ser punido. (...) Os índios dizem que aprenderam essa atitude com os es panhóis" (9).
No primeiro contato entre a tropa de Cortez e os ín dios, os espanhóis declaram (hipocritamente) que não bus cam a guerra, e sim a paz e o amor; "não se deram ao
tra balho de responder com palavras, mas fizeram-no com uma nuvem de flechas" (Cortez, 1). Os índios não se dão conta de que as palavras podem ser uma arma tão poderosa
quanto as flechas. Alguns dias antes da queda da Cidade do México, a cena se repete: às propostas de paz formula das por Cortez, na verdade já vencedor, os astecas
respon dem obstinadamente: "Por isso não voltem a falar de paz, pois as palavras são para as mulheres e as armas são para os homens!" (Bernal Díaz, 154).
Esta repartição das funções não é fortuita. Pode-se di zer que a oposição guerreiro/mulher tem um papel estru turador no imaginário social asteca como um todo. Embo
ra várias opções se apresentem para o jovem em busca de uma profissão (soldado, sacerdote, mercador), sem dúvida a carreira de guerreiro é a mais prestigiosa de
todas. O res peito pela palavra não chega a erigir os especialistas do discurso acima dos chefes guerreiros (o chefe de estado
combina as duas supremacias, pois é simultaneamente guer reiro e sacerdote). O soldado é o macho por excelência, pois tem o poder de dar a morte. As mulheres, geradoras,
não podem aspirar a esse ideal; todavia, as ocupações e atitudes delas não constituem um segundo pólo valorizado da axiologia asteca; não se surpreendem com a fraqueza
das mulheres, mas nunca a elogiam. E a sociedade trata de fazer com que ninguém ignore seu papel: no berço do recém-nascido colocam-se, se for menino, uma espadinha
e um escudinho, e se for menina, utensílios para tecelagem.
A pior coisa que se pode fazer com um homem é chamá-lo de mulher; em certa ocasião os guerreiros adver sários são obrigados a se vestirem com roupas de mulher, por
não terem aceito o desafio que lhes tinha sido feito ao combate. Vemos também que as mulheres assumem essa imagem (de origem masculina suspeitamos), e elas mes mas
contribuem para manter essa oposição, atacando os jovens que ainda não se distinguiram nos campos de bata lha assim: 'De fato, aquele dos longos cabelos trançados
também fala! Falas realmente? (...) Tu, com esse topete fe dorento, empesteado, não será apenas uma mulher como eu?". E o informante de Sahagún acrescenta: "Na verdade,
com esse tormento as mulheres podiam incitar os homens à guerra; assim, obrigavam-nos a agir e provocavam-nos; assim as mulheres impeliam-nos à batalha" (CF, II,
23). Tovar conta uma cena reveladora, da época da conquista, onde Cuauhtemoc, encarnação dos valores guerreiros, ata ca Montezuma, assimilado às mulheres, devido
à sua pas sividade. Montezuma fala a seu povo do terraço do palácio onde é mantido prisioneiro pelos espanhóis. "Mal terminara e um valoroso capitão, de dezoito
anos, chamado Cuauhte moc, que já queriam eleger rei, diz em voz alta: 'Que diz esse covarde do Montezuma, essa mulher dos espanhóis, porque é esse o nome que podemos
dar a ele, já que se entregou a eles como uma mulher, por medo, deixando-nos com os pés e mãos atados, atraiu sobre nós todos esses males" (Tovar, pp. 81-2).
Às mulheres as palavras, aos homens as armas... O que os guerreiros astecas não sabiam é que as "mulheres"
108
109
ganhariam a guerra; apenas no sentido figurado, é verda de: no sentido próprio, as mulheres foram e são as perde doras de todas as guerras. Contudo, talvez a assimilação
não seja completamente fortuita: o modelo cultural que se impõe a partir do Renascimento, apesar de ser introduzido e assumido por homens, glorifica o que se poderia
chamar de vertente feminina da cultura: a improvisação em lugar do ritual, as palavras em lugar das flechas. Mas não quais quer palavras: nem as que designam o mundo
e nem as que transmitem as tradições, e sim aquelas cuja razão de ser é a ação sobre outrem.
A guerra. aliás, não passa de outro campo de aplicação dos mesmos princípios da comunicação observáveis em tempo de paz; logo, encontramos nela comportamentos se
melhantes diante da escolha oferecida em cada caso. Pelo menos no início, os astecas conduzem uma guerra que está submetida à atualização e ao cerimonial: o tempo,
o lugar, o modo, sào previamente decididos, o que é mais harmonio so, porém menos eficaz. "Era costume geral em todas as cidades e todas as províncias deixar, nos
limites extremos de cada uma, uma larga faixa de terra deserta, inculta para suas guerras' (Motolinia, III, 18). O combate tem hora certa para começar e para acabar.
O objetivo do combate não é tanto matar, mas fazer prisioneiros (o que favorece claramente os espanhóis). A batalha começa com um primeiro envio de flechas. "Se
as flechas não ferissem ninguém, e o sangue não corresse, retiravam-se como podiam, pois viam nisso um presságio seguro de que a batalha acabaria mal para eles"
(Motolinia, "Carta de Introduçào").
Encontramos outro exemplo marcante dessa atitude atual pouco antes da queda da Cidade do México: tendo esgotado todos os outros recursos, Cuauhtemoc decide em pregar
a arma suprema. O que é? A magnífica roupa em plumada, herdada de seu pai, roupa à qual se atribuía a capacidade misteriosa de fazer o inimigo fugir por sua simples
apariçào um valente guerreiro será vestido com ela e lançado contra os espanhóis. Mas as penas de quet zal não trazem a vitória aos astecas (cf. C'F XII, 38).
Assim como há duas formas de comunicaçào, há duas formas de guerra (ou dois aspectos da guerra, um valoriza do aqui e outro lá). Os astecas não concebem e não com
preendem a guerra total de assimilação que os espanhóis estào fazendo contra eles (inovando em relação à sua pró pria tradiçào); para eles, a guerra deve acabar
num trata do, estabelecendo o montante dos tributos que o perdedor deverá pagar ao vencedor. Antes de ganhar a partida, os espanhóis já tinham obtido uma vitória
decisiva: a que con siste em impor seu próprio tipo de guerra; a superioridade deles já não é mais posta em dúvida. Atualmente, temos dificuldade em imaginar uma
guerra que seja regida por outro princípio que não a eficácia, apesar de a parte do rito não estar completamente morta: os tratados que punem o uso de armas hacteriológicas,
químicas ou atômicas são esquecidos no dia em que a guerra é declarada. E, no en tanto, era exatamente assim que Montezuma entendia as coisas.
Até agora, descrevi o comportamento simbólico dos índios de modo sistemático e sintético; agora, para encer rar este capítulo, gostaria de seguir um relato único,
que ainda não explorei. o da conquista de Michoacán (região situada a oeste da Cidade do México), para ilustrar a dis cussào de conjunto e também para impedir que
a "teoria" encubra o relato. Esta relação teria sido feita por um taras- co nobre, para o padre franciscano Martín de Jesus de la Coruõa, que a incluiu em sua Relación
de Michoacán, redigida por volta de 1540.
O relato começa por presságios. "Essa gente conta que durante os quatro anos que precederam a chegada dos espanhóis a estas terras, seus templos queimavam de alto
a baixo, fecharam-nos, e os templos queimaram de novo e as paredes de pedra desmoronaram (porque os templos eram feitos de pedra). Nào sabiam qual a causa desses
acon tecimentos mas consideraram-nos como presságios. Ao que parece, viram dois grandes cometas no céu" (III, 19).
'Um sacerdote contou que, antes de os espanhóis che garem, tinha sonhado que pessoas viriam, trazendo estra
110
111
nhos animais, que se revelaram ser os cavalos, que ele não conhecia. (...) O sacerdote mencionou também que os sacerdotes da mãe de Cueravaperi, que estavam num
luga rejo chamado Cinapecuaro, vieram ver o pai do Cazonci defunto [ seja, o penúltimo reil e contaram o sonho ou revelação seguinte, e que profetiza a destruição
da morada de seus deuses, um evento que efetivamente ocorreu em Ucareo. (...) Não haverá mais templo, nem lares, nenhuma fumaça se erguerá, tudo virará um deserto,
pois homens novos chegam à terra" (ibid.).
"As pessoas das Terras Quentes dizem que um pesca dor pescava em seu barco quando um peixe enorme en goliu a isca, mas o pescador não conseguiu arrancá-lo para fora
da água. Um jacaré surgiu não se sabe de onde na quele rio, pegou o pescador dentro do barco, engoliu-o e levou-o à sua bela casa. Ao chegarem, inclinou-se diante
dele; o jacaré então lhe disse: 'Verás que sou um deus; vai à cidade de Michoacán e diz ao rei, que está acima de to dos e cujo nome é Zuangua, que o sinal foi dado,
que ago ra há homens novos, e que todos os que nasceram em todas as partes desta terra morrerão. Diz isso ao rei" (ibid.).
"Dizem que houve presságios: que todas as cerejeiras, inclusive as menores, produziam abundantemente, que os magueys pequenos tinham brotos novos, e que as menini
nhas engravidavam enquanto ainda eram crianças" (III, 21).
O acontecimento novo deve ser projetado no passado, sob a forma de presságio, para ser integrado no relato do encontro, pois é o passado que domina o presente: "Como
podemos contradizer o que foi determinado?" (III, 19). Se o evento não tivesse sido previsto, sua existência simples mente não poderia ser admitida. "Nunca ouvimos
nossos antepassados falarem da chegada de outra gente. (...) Nos tempos passados não havia nenhuma lembrança disso, e os antigos não disseram que essa gente viria;
é por isso que devemos deixar-nos guiar pelos presságios" (III, 21). Assim fala o Cazonci, rei dos tarascos, dando mais impor tância aos relatos antigos do que às
novas percepções e encontrando uma solução de compromisso na fabricação de presságios.
E contudo as informações diretas, de primeira mão, não faltam. Montezuma envia ao Cazonci de Michoacán dez mensageiros, para pedir ajuda. Estes fazem um relatório
pre ciso: "O Mestre de México, Montezuma, nos envia, a nós e a alguns outros nobres, com a ordem de contar a nosso irmão o Cazonci tudo o que diz respeito à gente
estranha que chegou e nos pegou de surpresa. Nós os enfrentamos no campo de batalha e matamos aproximadamente duzen tos dos que vinham montados em cenos e duzentos
dos que andavam a pé. Os cervos são protegidos por cotas e carregam algo que ressoa como as nuvens, que produz um ruído de trovão e que mata todos os que encontra
em seu caminho, até o último. Romperam completamente nossa formação e mataram muitos dos nossos. A gente de Tlaxcala os acompanha, pois voltou-se contra nós" (III,
20). O Cazonci, desconfiado, decide verificar essas infor mações. Apreende alguns otomis e os interroga; eles con firmam o relato precedente. Isto não o satisfaz;
envia seus próprios delegados à Cidade do México, sitiada; eles vol tam, repetindo as primeiras informações e precisando as propostas militares dos astecas que previram
em detalhe a possível intervenção militar dos tarascos.
O velho Cazonci morre nesse momento; é substituído por seu filho mais velho. Os astecas (Cuauhtemoc mais do que Montezuma) se impacientam, e enviam uma nova de legação
para reiterar suas propostas. A reação do novo Ca zonci é reveladora: sem pôr em dúvida a veracidade ou a utilidade do que afirmam os mensageiros, decide sacrifi
cá-los. "Que sigam meu pai até o inferno e lhe apresentem lá sua petição. Digam a eles que se preparem, pois esse é o costume. - Os mexicanos foram informados dessa
decisão, e responderam que, já que o Mestre assim ordenara, devia ser feito, e pediram que fosse feito rapidamente, acrescen tando que não iriam a lugar nenhum;
que tinham vindo à morte de livre e espontânea vontade. Os mexicanos foram rapidamente preparados, da maneira habitual, após rece berem a ordem de levar a mensagem
ao Cazonci morto, e foram sacrificados no templo de Curicaveri e de Xaratan ga' (III, 22).
112
113
A única ação positiva dos tarascos consistirá em exe cutar os portadores da informação: o Cazonci flàO dá ne nhum prosseguimento ativo ao pedido dos mexicanos. Para
começar, não gosta deles, são inimigos tradicionais e. no fundo, não fica muito descontente com as desventuras que recaem sobre eles. "Que interesse teria eu em
enviar gente à Cidade do México, se entramos em guerra todas as vezes que nos aproximamos dos mexicanos e há entre nós um velho rancor?" (III, 20). "De que nos serviria
ir à Ci dade do México? Todos nós morreríamos, e não sabemos o que poderão dizer de nós depois. Talvez nos vendam àquela gente e provoquem nossa morte. Deixemos
que os mexicanos façam eles mesmos as suas conquistas, ou que venham juntar-se a nós com seus capitães. Deixemos que os estrangeiros matem os mexicanos (III, 22).
A outra razão da recusa de opor-se aos espanhóis é o fato de serem considerados deuses. "De onde podem vir, a não ser do céu?" (III, 21). "Por que os estrangeiros
viriam sem razào? Foram enviados por um deus por isso vieram!" (III, 22). 'O Cazonci disse que eram deuses vindos do céu e deu a cada espanhol um escudo redondo
de ouro e co bertas" (III, 23). Para explicar um fato surpreendente, re corre-se à hipótese divina: o sobrenatural é filho do deter minismo; e esta crença paralisa
qualquer tentativa de resis tência: "Achando que eles eram deuses, os chefes disse ram às mulheres que não os contrariassem, pois os deuses levavam o que lhes pertencia"
(III, 26).
A primeira reação é, pois, a recusa à intervenção no plano humano, e o investimento da esfera divina: 'Espere mos para ver, Que venham e que tentem pegar-nos. Tente
mos fazer todo o possível para resistir um pouco mais para podermos encontrar madeira para o templos" (III, 21:
trata-se de fogueiras rituais). No mesmo espírito, quando a vinda dos espanhóis parece inevitável, o Cazonci reúne seus parentes e servidores para que todos se afoguem
co letivamente nas águas do lago.
Acaba desistindo disso mas suas tentativas posteriores de reagir ainda estarào situadas no plano da comunicação
que lhe é familiar: com o mundo, e não com os homens. Nem ele nem os que o cercam conseguem enxergar a fal sidade dos conquistadores. Talvez o destino que os espa
nhóis nos reservam não seja assim tào ruim, pensa um dos chefes dos tarascos: "Vi os nobres mexicanos que vêm com eles; se fossem escravos, por que usariam colares
de tur quesa em torno do pescoço, ricas capas de penas verdes, como fazem?" (III, 25). O comportamento dos espanhóis continua incompreensível para eles: "Para que
eles que rem todo esse ouro? Esses deuses devem comê-lo, é a úni ca razão possível para pedirem tanto" (III, 26; parece que Cortez tinha dado a seguinte explicaçào:
os espanhóis pre cisam do ouro porque usam-no para curar uma doença... Coisa difícil de aceitar para os índios que tendem a assimi lar o ouro aos excrementos). O
dinheiro, enquanto equi valente universal, não existe entre os tarascos; toda a es trutura do poder espanhol só lhes pode escapar à com preensão. A produção simbólica
não é mais feliz do que a interpretação, Os primeiros espanhóis trazem para o Cazon ci, só Deus sabe porque, dez porcos e um cão; ele aceita e agradece, mas na realidade
os teme: "Achou que eram presságios e mandou matar os porcos e o cão, e assim, fo ram levados e jogados num terreno baldio" (III, 23). Mais grave, o Cazonci reage
do mesmo modo quando lhe tra zem armas espanholas: "Todas as vezes que os tarascos se apoderavam de armas de fogo tomadas dos espanhóis, as armas eram oferecidas
aos deuses nos templos" (III, 22). Compreende-se porque os espanhóis nem mesmo se dão ao trabalho de fazer guerra: preferem, ao chegar, convocar os dirigentes locais
e dar vários tiros de canhão para o ar: os índios caem de pavor; o uso simbólico das armas revela-se suficientemente eficaz.
A vitória dos espanhóis na conquista de Michoacán é rápida e completa: nào há batalhas nem vítimas do lado dos conquistadores. Os chefes espanhóis - Cristoval de
Olid, o próprio Cortez, e Niflo de Guzmán - prometem, ameaçam e extorquem todo o ouro que encontram. O Cazonci dá, esperando sempre que seja a última vez. Para ficarem
mais à vontade, os espanhóis o prendem; quando não são satis
114
115
feitos, não hesitam em submeter o Cazonci e seus parentes à tortura: são pendurados; os pés são queimados com óleo fervente; os órgàos sexuais torturados com uma
vareta. Quando Niõo de Guzmán acha que o Cazonci já não pode ser de nenhuma utilidade. 'condena-o" a uma tripla morte:
inicialmente foi atado a urna esteira presa ao rabo de um cavalo, montado por um espanhol' (III, 29). Depois de ser assim arrastado por todas as ruas da cidade,
será garrotea do até o estrangulamento. Finalmente, o corpo será jogado numa fogueira, e queimado; suas cinzas serão espalhadas no rio.
Os espanhóis ganham a guerra. São, incontestavel mente, superiores aos índios na comunicação inter-huma na. Mas a vitória é problemática, pois não há apenas uma
forma de comunicação, apenas uma dimensão da ativida de simbólica. Toda ação tem algo de rito e algo de impro visação, toda comunicação é, necessariamente, paradigma
e sintagma, código e contexto; o homem tem tanta neces sidade de se comunicar com o mundo quanto com os ho mens. O encontro de Montezuma com Cortez, dos índios com
os espanhóis, é, antes de mais nada, um encontro hu mano; e não há razão para surpresa se os especialistas da comunicação humana levam a melhor. Mas essa vitória,
de que somos todos originários, europeus e americanos, dá ao mesmo tempo um grande golpe em nossa capacidade de nos sentirmos em harmonia com o mundo, de pertencer
a uma ordem preestabelecida; tem por efeito recalcar profun damente a comunicação do homem com o mundo, produ zir a ilusão de que toda comunicação é comunicaçào
in-.. ter-humana; o silêncio dos deuses pesa no campo dos europeus tanto quanto no dos índios. Ganhando de um lado, o europeu perdia de outro; impondo-se em toda
a Terra pelo que era sua superioridade, arrasava em si mesmo a capacidade de integraçào no mundo. Durante os séculos seguintes, sonhará com o bom selvagem; mas o
selvagem já estava morto, ou assimilado, e o sonho estava condena do à esterilidade. A vitória já trazia em si o germe de sua derrota; mas Cortez não podia saber
disso.
116
j
Cortez e os signos
Não se deve imaginar que a comunicação, entre os es panhóis, seja exatamente oposta à que praticam os índios. Os povos não são noções abstratas, apresentam entre
si semelhanças e diferenças. Já vimos que, no plano tipológi co, Colombo situava-se, freqüentemente, do mesmo lado que os astecas. Acontece mais ou menos o mesmo
com as primeiras expedições dirigidas ao México, as de Hernan dez de Córdoba e de Juan de Grijalva. Pode-se descrever o comportamento desses espanhóis dizendo que
se dedicam a coletar a maior quantidade de ouro no menor espaço de tempo, e não procuram saber nada sobre os índios. Eis o que conta Juan Díaz, cronista da segunda
dessas expedições:
"Havia à margem uma multidão de índios que traziam dois estandartes, que levantavam e baixavam, para indicar que fôssemos ter com eles: o comandante não quis." "Uma
das embarcações perguntou-nos o que queríamos; o intérprete respondeu que procurávamos ouro." "Nosso comandante disse a eles que só queríamos ouro." Quando surgem
oca siões, os espanhóis as evitam. Falou também de outras pro víncias, e disse ao comandante que queria vir conosco,
117
mas o comandante não consentiu, o que nos deixou des contentes."
Vimos também que os primeiros intérpretes são ín dios; ora, estes não têm a inteira confiança dos espanhóis, que muitas vezes se perguntam se o intérprete realmente
transmite o que lhe é dito. "Achamos que o intérprete nos enganava, pois era natural daquela ilha e daquela mesma aldeia." De "Meichior", primeiro tradutor de Cortez,
Go mara diz: "Era todavia um homem rude, pois era pescador. e parecia não saber falar, nem responder" (11). O nome da província de Yucatán, símbolo, para nós, do
exotismo in dígena e de autenticidade distante, é na realidade o símbolo dos mal-entendidos que reinam então: aos gritos dos pri meiros espanhóis que desembarcam
na península, os maias respondem: Ma c'uhab than, não compreendemos suas pa-. lavras. Os espanhóis, fiéis à tradição de Colombo, entendem "Yucatán", e decidem que
é o nome da província. Nesses primeiros contatos, os espanhóis não se preocupam nem um pouco com a impressão que seu comportamento pos sa deixar nos que se encontram
diante deles: se são amea çados, fogem sem hesitar, mostrando assim que são vulne ráveis.
O contraste é sensível a partir do momento em que Cortez entra em cena: não seria ele um conquistador de exceção, e não um conquistador típico? Não: a prova é que
seu exemplo logo será seguido, e amplamente, embora ele nunca seja igualado. Era necessário um homem extrema mente bem dotado para cristalizar, num único tipo de
com portamento, elementos até então díspares; uma vez dado o exemplo, impõe-se com uma rapidez impressionante. A diferença entre Cortez e os que o precederam talvez
esteja no fato de ter sido ele o primeiro a possuir uma consciên cia política, e até mesmo histórica, de seus atos. Na véspe ra de sua partida de Cuba, provavelmente
em nada se dis tinguia dos outros conquistadores ávidos de riquezas. No entanto, tudo muda assim que começa a expedição, e já se pode observar o espírito de adaptação
que Cortez transfor ma em princípio de sua própria conduta: em Cozumel, al
guém lhe sugere que envie alguns homens armados para procurar ouro no interior. 'Cortez respondeu rindo que não tinha vindo por coisas tão insignificantes, mas para
servir a Deus e ao rei" (Bernal Díaz, 30). Assim que fica sabendo da existência do reino de Montezuma, decide não apenas extorquir riquezas, como também subjugar
o reino. Esta estratégia muitas vezes contraria os soldados da tropa de Cortez, que contam com lucros imediatos e palpáveis; mas ele continua intratável; assim,
devemos a ele a invenção, por um lado, de uma tática de guerra de conquista e, por outro, a de uma política de colonização em tempos de paz.
O que Cortez quer, inicialmente, não é tomar, mas compreender; são os signos que interessam a ele em pri meiro lugar, não os referentes. Sua expedição começa com
uma busca de informação e não de ouro. A primeira ação importante que executa - a significação deste gesto é in calculável - é procurar um intérprete. Ouve falar
de índios que empregam palavras espanholas; deduz que talvez haja espanhóis entre eles, náufragos de expedições anteriores; informa-se, e suas suposições são confirmadas.
Ordena en tão a dois de seus barcos que esperem oito dias, depois de enviar uma mensagem a esses intérpretes potenciais. De pois de muitas peripécias. um deles,
Jerónimo de Aguilar, se une à tropa de Cortez, que quase não reconhece nele um espanhol. "Tomavam-no por um índio, porque além de ser naturalmente moreno, tinha
os cabelos cortados curtos como os índios escravos. Tinha um remo sobre os ombros, uma velha sandália nos pés e outra presa à cintura, uma capa ruim muito usada
e uma tanga ainda pior para cobrir sua nudez" (Bernal Díaz, 29). Esse Aguilar, transformado em intérprete oficial de Cortez, lhe prestará serviços inesti máveis.
Mas Aguilar só fala a língua dos maias, que não é a dos astecas. A segunda personagem essencial dessa conquista de informação é uma mulher, que os índios chamam
de Malintzin, e os espanhóis de dofla Marina, e não se sabe qual dos dois nomes é uma deformação do outro; a forma que o nome assume mais freqüentemente é "la Malinche".
118
119
Ela é dada de presente aos espanhóis, durante um dos pri meiros encontros. Sua língua materna é o nahuatl, a língua dos astecas; mas foi vendida como escrava aos
maias, e também domina a língua deles. Há, pois, no inicio, uma cadeia bastante longa: Cortez fala a Aguilar, que traduz o que ele diz para a Malinche, que por sua
vez se dirige ao interlocutor asteca. Seus dons para as línguas são evidentes e em pouco tempo ela aprende o espanhol, o que aumen ta sua utilidade. Pode-se supor
que ela guardasse rancor em relação a seu povo de origem, ou em relação a uns de seus representantes; o fato é que escolhe decididamente o campo dos conquistadores.
Com efeito, não se contenta em traduzir; é evidente que também adota os valores dos espanhóis, e contribui como pode para a realização dos seus objetivos. Por um
lado, efetua uma espécie de con versão cultural, interpretando para Cortez não somente as palavras, mas também os comportamentos; por outro lado, sabe tomar a iniciativa
quando necessário, e dizer a Mon tezuma as palavras apropriadas (especialmente no momen to de sua prisão), sem que Cortez as tenha pronunciado anteriormente.
Todos concordam em reconhecer a importância do papel da Malinche. É considerada por Cortez como uma aliada indispensável, e isto é evidenciado pelo lugar que con
cede à intimidade física entre eles. Apesar de tê-la "ofere cido" a um de seus tenentes logo depois de tê-la "recebi do" e de casá-la com outro conquistador, logo
após a ren dição da Cidade do México, a Malinche será sua amante durante a fase decisiva, desde a partida em direção à Cidade do México até a queda da capital asteca.
Sem epilogar acerca do modo como os homens decidem o destino das mulheres, pode-se deduzir que esta relação tem uma expli cação estratégica e militar, mais do que
sentimental: graças a ela, a Malinche pode assumir seu papel essencial. Mes mo depois da queda da Cidade do México, ela continua a ser tão apreciada quanto antes,
"porque Cortez, sem ela, não podia entender os índios" (Berna! Díaz, 180). Estes úl timos vêem nela muito mais do que uma intérprete; todos
os relatos fazem-lhe freqüentes referências e ela está pre sente em todas as imagens. A que ilustra, no C Flo rentino, o primeiro encontro entre Cortez e Montezuma
é bem característica neste sentido: os dois chefes militares ocupam as bordas da figura, dominada pela figura central da Malinche (cf. fig. 5 e capa). Bernal Díaz,
por sua vez, conta: "Dofla Marina tinha muita personalidade e autorida de absoluta sobre os índios em toda a Nova Espanha" (37). Também é revelador o apelido que
os astecas dão a Cor tez: chamam-no... Malinche (pelo menos uma vez, não é a mulher que adota o nome do homem).
Os mexicanos pós-independência geralmente despre zaram e acusaram a Malinche, que se tornou a encarnação da traição dos valores autóctones, da submissão servil à
cul tura e ao poder europeus. É verdade que a conquista do México teria sido impossível sem ela (ou outra pessoa que desempenhasse o mesmo papel), e que ela é, portanto,
res ponsável pelo que aconteceu. Quanto a mim, vejo-a sob outra luz: ela é, para começar, o primeiro exemplo, e por isso mesmo o símbolo, da mestiçagem das culturas;
anun cia assim o Estado mexicano moderno e, mais ainda, o estado atual de todos nós, que, apesar de nem sempre ser mos bilíngües, somos inevitavelmente bi ou triculturais.
A Malinche glorifica a mistura em detrimento da pureza (as teca ou espanhola) e o papel de intermediário. Ela não se submete simplesmente ao outro (caso muito mais
comum, infelizmente: pensemos em todas as jovens índias, "presen teadas" ou não que caem nas mãos dos espanhóis), adota a ideologia do outro e a utiliza para compreender
melhor sua própria cultura, o que é comprovado pela eficácia de seu comportamento (embora "compreender" sirva, neste caso, para "destruir").
Mais tarde, vários espanhóis aprendem o nahuatl, e Cor tez sempre se beneficia disso. Por exemplo, dá a Montezu ma um pajem, que fala a sua língua; a informação
passa então a circular nos dois sentidos, porém, de imediato, is so tem um interesse bastante desigual. "Logo depois, Mon tezuma pediu a Cortez um pajem espanhol
que estava a
120
121
seu serviço e que já sabia falar a língua asteca. Chamava-se Orteguilia. Foi certamente proveitoso para Montezuma, as sim como para nós, pois, por intermédio do
pajem, Monte zuma perguntava e aprendia várias coisas acerca de nossa Castela; quanto a nós, sabíamos o que diziam seus capi tães" (Bernal Díaz, 95).
Garantindo assim a compreensão da língua, Cortez não deixa escapar nenhuma oportunidade de reunir novas in formações. "Após termos feito nossa refeição, Cortez per
guntou-lhes através de flOSSO5 intérpretes coisas relaciona das a seu senhor, Montezurna" (Bernal Díaz, 61). "Cortez reuniu alguns caciques e lhes perguntou detalhes
minu ciosos sobre a Cidade do México" (ibid., 78). Suas pergun tas estão diretamente relacionadas ao encaminhamento da guerra. Após uma primeira confrontação, interroga
imedia tamente os chefes dos vencidos. "Por que razão, sendo tan tos, fugiam de tão poucos?" (Gomara, 22). Uma vez obti das as informações, sempre recompensa generosamente
seus portadores. Está sempre disposto a ouvir conselhos, embora nem sempre os siga - já que as informações têm de ser interpretadas.
É graças a esse sistema de informaçáo, perfeitamente funcional, que Cortez consegue perceber rapidamente, e em detalhes a existência de divergências internas entre
os índios - fato que, como vimos, tem papel decisivo para a vi tória final. Desde o início da expedição, está atento a qual quer informação desse gênero. E as divergências
são real mente muitas; Berna! Díaz diz: "Guerreavam incessantemen te, província contra província, aldeia contra aldeia' (208) e Motolinia também lembra: "Quando
os espanhóis vieram, todos os senhores e todas as províncias opunham-se forte mente umas às outras e guerreavam continuamente umas contra as outras" (III, 1). Chegando
a Tiaxcala, Cortez é particularmente sensível a esse fato: "Vendo as discórdias e a animosidade de uns e de outros, fiquei muito satisfei to, pois me pareceu que
isso contribuiria muito para o que me propunha a fazer e que eu poderia encontrar um meio de subjugá-los mais rapidamente. Pois, como diz o ditado,
123
dividir para reinar' etc., e lembrei-me da palavra evangé lica, que diz que todo reino dividido será destruído" (3): é curioso que Cortez leia esse princípio dos
césares no Livro dos cristãos! Os índios chegariam a solicitar a intervenção de Cortez em seus próprios conflitos; como escreve Pierre Martyr: "Esperavam que, defendidos
por tais heróis, teriam, contra seus vizinhos, auxílio e proteção, pois eles também são corroídos por essa doença que nunca desapareceu e é, de certo modo, inata
na humanidade: eles têm, como os outros homens, a fúria da dominação" (IV, 7). Mais uma vez, é a conquista eficaz da comunicação que conduz à queda final do império
asteca: enquanto Cuauhtemoc ostenta im prudentemente as insígnias reais no barco que deveria permitir sua fuga, os oficiais de Cortez recolhem, rapida mente, todas
as informações que poderiam estar relaciona das a ele e levar à sua captura. "Sandoval logo recebeu a notícia de que Cuauhtemoc estava fugindo com sua corte. Imediatamente,
deu ordem aos bergantins de cessar a des truição das casas e começar a perseguir as canoas" (Bernal Díaz, 156). "García de Olguín, comandante de um dos ber gantins,
quando soube, através de um mexicano que tinha capturado, que a canoa que seguia tinha a bordo o rei, saiu no seu encalço com tal determinação que finalmente a al
cançou" (Ixtlilxochitl, XIII, 173). A conquista da informa ção leva á conquista do reino.
Há um episódio significativo durante a progressão de Cortez em direção à Cidade do México. Ele acabava de dei xar Cholula e, para chegar à capital asteca, devia
atraves sar uma cadeia de montanhas. Os emissários de Montezu rua indicam-lhe uma passagem; Cortez os segue a contra- gosto, temendo que seja uma armadilha. Nesse
momento em que, supõe-se, deveria dedicar toda a sua atenção ao problema da proteção, avista os cumes dos vulcões vizi nhos, que estão em atividade. Sua sede de
saber faz com que ele esqueça suas preocupações imediatas.
"A oito léguas da cidade de Cholula, encontram-se duas cadeias de montanhas muito elevadas e maravilhosas, pois têm no topo tanta neve, no fim do mês de agosto,
que não
se pode ver mais nada. E de uma delas, que é a mais alta, sai várias vezes durante o dia e a noite uma massa de fu maça, grande como um casarão, que sobe do cimo
da mon tanha até as nuvens, reta como uma flecha; de modo que, ao que parece, os ventos violentíssimos que sempre sopram naquelas alturas não conseguem desviá-la.
Como sempre desejei fazer para Vossa Alteza o relato mais detalhado pos sível acerca de todas as coisas deste país, quis conhecer o segredo desta, que me pareceu
deveras maravilhosa, e en viei dez de meus companheiros, como convinha a uma em presa dessa natureza e, com eles, alguns nativos do país que lhes serviam de guias,
e ordenei a eles que se esfor çassem para atingir o topo daquela montanha e conhecer o segredo daquela fumaça, de onde e como saía" (Cortez, 2).
Os exploradores não chegam ao topo e contentam-se em trazer alguns pedaços de gelo. Mas, na volta, avistam uma outra rota possível em direção à Cidade do México,
que parece oferecer menos perigo; é por ela que Cortez segui rá e, de fato, não terá nenhuma surpresa. Mesmo nos mo mentos mais difíceis, os que exigem dele a maior
atenção, a paixão de Cortez por "conhecer o segredo" não diminui. E, simbolicamente, sua curiosidade é recompensada.
Pode ser instrutivo comparar esta ascensão do vulcão a uma outra, realizada pelos índios maias, e contada nos Anais dos cakchiquel. Também ocorre durante uma expe
dição militar. Chegam diante do vulcão: "o fogo que saía do interior da montanha era realmente aterrador". Os guer reíros querem descer para trazer o fogo; mas ninguém
tem coragem para isso. Voltam-se então para seu chefe, Gagavitz (cujo nome significa: vulcão), e dizem a ele: "Ó tu, nosso irmão, chegaste e és nossa esperança.
Quem nos trará o fogo, quem permitirá que tentemos assim nossa sorte, ó, meu irmão?" Gagavitz decide fazê-lo, na companhia de um outro guerreiro intrépido; desce
no vulcão e sai dele tra zendo o fogo. Os guerreiros exclamam: "É realmente as sombroso, seu poder mágico, sua grandeza e sua majestade; ele destruiu o fogo e o
capturou". Gagavitz responde: "O espírito da montanha tornou-se meu escravo e meu prisio
124
125
neiro, ó, meus irmãos! Ao conquistarmos o espírito da mon- tanha libertamos a pedra do fogo, a pedra denominada Zacchog [ (1).
Em ambos os casos há curiosidade e coragem. Mas a percepção do fato é diferente. Para Cortez, trata-se de um fenômeno natural singular, de uma maravilha da natureza;
sua curiosidade é intransitiva; a conseqüência prática (a descoberta do melhor caminho) é evidentemente casual. Para Gagavitz, é preciso medir-se com um fenômeno
má gico, combater o espírito da montanha; a conseqüência prá tica é a domesticação do fogo. Em outras palavras, este relato, que talvez tenha um fundamento histórico,
transfor ma-se num mito da origem do fogo: as pedras, cuja fricção provoca as faíscas, teriam sido trazidas por Gagavitz do vul cão em erupção. Cortez permanece
no plano puramente humano; a história de Gagavitz aciona imediatamente um conjunto de correspondências naturais e sobrenaturais.
A comunicação, entre os astecas, é, antes de mais nada, uma comunicação com o mundo, e as representações reli giosas têm um papel essencial. A religião não está,
eviden temente, ausente no lado espanhol, e era inclusive decisi va para Colombo. Mas duas diferenças essenciais chamam imediatamente a atenção. A primeira está
ligada à especifi cidade da religião cristã em relação às religiões pagãs da América: o que importa aqui é o fato de ela ser, funda mentalmente, universalista e
igualitária. 'Deus" não é um nome próprio, é um nome comum: essa palavra pode ser traduzida em qualquer língua, pois não designa um deus, como I-Iuitzilopochtli
e Tezcatlipoca que, no entanto, já são abstrações, mas o deus. Essa religião pretende ser uni versal e, em função disso, é intolerante. Montezuma de monstra algo
que pode parecer uma fatal abertura de espí rito, durante os conflitos religiosos (na realidade, não é bem isso): quando Cortez ataca seus templos, ele procura encontrar
soluções de compromisso: "Então Montezuma sugeriu que colocássemos nossas imagens de um lado e que deixássemos seus deuses do outro; mas o Marquês [ tez] recusou"
(Andrés de Tapia): mesmo depois da con
quista, os índios continuarão querendo integrar o Deus cris tão em seu panteão, como uma divindade entre outras.
Isto não significa que não há absolutamente nenhuma idéia monoteísta na cultura asteca. Suas inumeráveis clivin dades são apenas os diversos nomes de deus, o invisível
e inatingível. E se deus tem tantos nomes e tantas imagens, é porque cada uma de suas manifestações e de suas rela ções com o mundo natural é personificada, cada
uma de suas diversas funções é atribuída a uma personagem dife rente. O deus da religião asteca é simultaneamente uno e múltiplo. O que faz com que a religiosidade
asteca se dê bem com a adição de novas divindades; sabe-se que, no tempo de Montezuma, justamente, foi construído um templo des tinado a receber todos os deuses
"outros": "Pareceu ao rei Montezuma que faltava um templo dedicado à glória de todos os ídolos adorados neste país. Movido pelo zelo reli gioso, ordenou a construção
de um (...). Chama-se Coateo caiu, o que quer dizer 'Templo dos deuses diversos', de vido à diversidade de deuses que havia entre os vários povos e as várias províncias"
(Durán, III, 58). O projeto será executado, e esse templo espantoso funcionará durante os anos que precedem a conquista. Não é assim para os cris tãos, e a recusa
de Cortez decorre do próprio espírito da religião cristã: o Deus cristão não é uma encarnação que poderia juntar-se às outras, é um de modo exclusivo e intolerante,
e não deixa nenhum espaço para outros deu ses; como diz Durán, "nossa fé católica é una e nela se funda uma única Igreja, que tem por objeto um só Deus verdadeiro,
e não admite a seu lado nenhuma adoração, ou fé, em outros deuses" (1, "Introduçào"). Este fato contri bui bastante para a vitória dos espanhóis: a intransigência
sempre venceu a tolerância.
O igualitarismo do cristianismo é solidário com seu universalismo: já que Deus convém a todos, todos convêm a Deus; quanto a isso, não há diferenças entre os povos
nem entre os indivíduos. São Paulo disse: "Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou homem livre, mas Cristo é tudo em
todos" (C'oloss.,
126
127
3, 11), e: "Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem homem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus" (Galat., 3, 28). Esses
textos indi cam daramente o sentido que deve ser dado ao igualitaris mo dos primeiros cristãos: o cristianismo não luta contra as desigualdades (o senhor continuará
sendo senhor, e o escravo, escravo, como se esta diferenciação fosse tão na tural quanto a que existe entre homem e mulher); mas declara-as não pertinentes, diante
da unidade de todos no Cristo. Reencontraremos estes problemas nos debates mo rais que virão após a conquista.
A segunda diferença decorre das formas que tomou o sentimento religioso entre os espanhóis dessa época (tal vez seja mais uma conseqüência da doutrina cristã, e
po demos nos perguntar em que medida uma religião iguali tarista não leva, por sua recusa das hierarquias, a sair da própria religião): o Deus dos espanhóis é um
ajudante e não um Senhor, um ser mais usado do que usufruído (para falar como os teólogos). Teoricamente, e como queria Co lombo (e até Cortez, e este é um de seus
traços de menta lidade mais "arcaicos"), o objetivo da conquista é expandir a religião cristã; na prática, o discurso religioso é um dos meios que garantem o sucesso
da conquista: fim e meios trocaram de lugar.
Os espanhóis só ouvem os conselhos divinos quando estes coincidem com as sugestões de seus informantes ou com seus próprios interesses, como comprovam os relatos
de vários cronistas. "Reconhecemos também outros sinais seguros que nos fizeram compreender que Deus queria, no interesse da religião, que colonizássemos este país",
já dizia Juan Díaz, que acompanhava a expedição de Grijalva; e Bernal Díaz: "Concordamos pois em seguir a opinião da gente de Cempoala; pois o bom Deus dispunha
para nós de tudo" (61). No episódio da ascensão do vulcão, acima narrado, Cortez também atribuía a Deus a descoberta do melhor caminho. "Como Deus sempre pareceu
tomar em mãos os interesses de Vossa Majestade, desde a mais tenra infância, e como eu e meus companheiros estamos a servi-
ço de Vossa Alteza, quis mostrar-nos outra rota, um tanto difícil, mas menos perigosa do que a que queriam que seguíssemos" (2). Lançam-se à batalha gritando "Santiago",
não tanto na esperança de uma intervenção do santo tute lar, mas para darem coragem a si mesmos e amedrontarem os adversários. O capelão da tropa de Cortez não deixa
nada a desejar como chefe militar: "Nossas tropas chega ram a um alto grau de excitação devido à influência dos encorajamentos de frei Bartolomé de Olmedo, que os
exortava a agüentar firme na intenção de servir a Deus e de difundir a santa fé, prometendo-lhes o auxílio de seu santo ministério e gritando-lhes que vencessem
ou morres sem em combate" (Bernal Díaz, 164). No próprio estandarte de Cortez esta relação é explicitamente afirmada: "A ban deira erguida por Cortez era de cores
branca e azul, com uma cruz no centro e, ao redor, urna inscrição latina que, traduzida, dizia: 'Amigos, sigamos a cruz, e com fé neste símbolo devemos conquistar"
(Gornara, 23).
Conta-se um episódio significativo, ocorrido durante a campanha contra os Tiaxcaltecas: para surpreender o ini migo, Cortez faz uma incursão noturna com seus cavalei
ros. Um cavalo tropeça; Cortez manda-o de volta ao acam pamento. Outro faz o mesmo pouco depois. "Alguns Ihë disseram: 'Senhor, isto parece ser um mau presságio
para nós, retrocedamos'. Mas ele respondeu: 'Para mim, é bom presságio. Em frente" (Francisco de Aguilar; ver também An drés de Tapia). Para os astecas, a chegada
dos espanhóis era nada mais nada menos do que a realização de uma série de maus presságios (o que diminuiu sua combativi dade), ao passo que, em circunstâncias comparáveis,
Cor tez (à diferença de alguns de seus companheiros) recusa-se a ver uma intervenção divina - ou então, se ela existe, só pode favorecê-lo, apesar de os sinais parecerem
dizer o contrário! É impressionante ver que, durante sua fase des cendente, e particularmente no decorrer da expedição de Honduras, Cortez começa a acreditar em
presságios; e o sucesso o abandona.
Este papel subordinado e, finalmente, limitado do in tercâmbio com Deus cede lugar a uma comunicação huma
128
129
na onde o outro será claramente reconhecido (ainda que não seja estimado). O encontro com os índios não cria essa possibilidade de reconhecimento, apenas a revela;
ela exis te por razões próprias da história da Europa. Para descre ver os índios, os conquistadores procuram comparações que encontram imediatamente, em seu próprio
passado pa gão (greco-romano), ou em outros mais próximos geogra ficamente, e já familiares, como os muçulmanos. Os espa nhóis chamam de 'mesquitas" todos os primeiros
templos que descobrem; e a primeira cidade avistada durante a ex pedição de Hernandez de Córdoba será denominada, diz Berna! Díaz, "o grande Cairo". Tentando precisar
suas im pressões dos mexicanos, Francisco de Aguilar relembra ime diatamente: "Criança e adolescente, comecei a ler várias histórias e relatos sobre os persas, gregos
e romanos. Co nhecia também pela leitura os atos praticados nas Índias Portuguesas." Podemos nos perguntar em que medida toda a maleabilidade de espírito necessária
para levar a cabo a conquista, e que é demonstrada pelos europeus de então, não se deve a essa situação singular, que faz deles herdei ros de duas culturas: a cultura
greco-romana de um lado, a cultura judaico-cristã de outro (mas isto, na verdade, já es tava preparado há muito tempo, já que a assimilação já esta va sendo feita
entre a tradiçào judaica e a tradição cristã, o Antigo Testamento sendo absorvido no Novo). Ainda tere mos a oportunidade de observar os conflitos entre esses dois
elementos da cultura renascentista; conscientemente ou não, seu representante é obrigado a fazer toda uma sé rie de ajustes, de traduções e de compromissos às vezes
bastante difíceis, que lhe permitem cultivar o espírito de adaptação e de improvisação, destinado a desempenhar um papel tão importante no decorrer da conquista.
A civilização européia de então não é egocêntrica, mas "alocêntrica": há muito tempo, seu local sagrado por exce lência, seu centro simbólico, Jerusalém, não somente
é ex terior ao território europeu como também dominado por uma civilização rival (a muçulmana). No Renascimento, acrescenta-se a essa descentralização espacial uma
outra,
temporal: a era ideal não é nem o presente nem o futuro, mas o passado, e um passado que nem mesmo é cristão: o dos gregos e romanos. O centro está fora, o que abre
para o outro a possibilidade de um dia tornar-se central.
Uma das coisas que mais impressionam os conquista dores, quando entram na Cidade do México, é o que se poderia chamar de zoológico de Montezuma. As popula ções dominadas
ofereciam, aos astecas, a título de tributo, espécimes de vegetais e animais, e eles tinham determina do locais onde essas coleções de plantas, pássaros, ser pentes
e animais selvagens podiam ser admiradas. As cole ções não se justificam unicamente, ao que parece, pelas referências religiosas (tal animal podendo corresponder
a tal divindade), eram admiradas também pelararidade e va riedade das espécies, ou pela beleza dos espécimes. Isto faz pensar, mais uma vez, no comportamento de
Colom bo, naturalista amador, que queria amostras de tudo o que encontrava.
Essa instituição, que os espanhóis, por sua vez, admi ram (os zoológicos não existem na Europa), pode ser ao mesmo tempo relacionada a e contrastada com uma outra,
mais ou menos sua contemporânea: são os primeiros mu seus. Os homens sempre colecionaram curiosidades, natu rais ou culturais; mas é somente no século XV que os
pa pas começarão a acumular e a exibir vestígios antigos, na qualidade de restos de uma outra cultura; também é a épo ca das primeiras obras sobre a "vida e costumes"
das po pulações distantes. Algo desse espírito penetrou o próprio Cortez, pois, se num primeiro momento sua única preocupa ção é derrubar os ídolos e destruir os
templos, pouco após a conquista vemo-lo preocupado em preservá-los como testemunhos da cultura asteca. Uma testemunha da acusa ção no processo que lhe é movido alguns
anos mais tarde afirma: "Mostrou-se bastante contrariado, pois queria que aqueles templos dos ídolos ficassem como monumentos" (Sumario, 1, p. 232).
O que mais se parecia com um museu, entre os aste cas, era o Coateocalli, ou templo dos deuses diversos. Entre-
130
131
tanto, notamos imediatamente a diferença: os idolos, trazi dos a esse templo dos quatro cantos do país, não suscitam nem uma atitude estética de admiração e muito
menos uma consciência relativista das diferenças entre os povos. Uma vez na Cidade do México, essas divindades tornam-se mexicanas, e seu uso continua a ser puramente
religioso, semelhante ao dos deuses mexicanos, embora tivessem uma origem diferente. Nem o zoológico nem esse templo demonstram um reconhecimento das diferenças
culturais como faz o museu nascente na Europa.
A presença de um lugar reservado para outros no uni verso mental dos espanhóis é simbolizada pelo desejo, constantemente afirmado, de comunicar, que contrasta pro
fundamente com as reticências de Montezuma. A primeira mensagem de Cortez é: "Já que tínhamos atravessado tan tos mares e tínhamos vindo de países tão distantes
somen te para vê-lo e falar com ele pessoalmente, nosso Senhor e grande Rei não aprovaria nossa conduta se retornássemos assim" (Bernal Díaz, 39). "O capitão disse-lhes,
por meio dos intérpretes que tínhamos, e fez com que compreen dessem que não partiria em hipótese alguma daquele país sem antes conhecer seu segredo, a fim de poder
escrever para Vossas Majestades um relato verídico a respeito disso" (Cortez, 1). Os soberanos estrangeiros, assim como os vul cões, despertam irresistivelmente
a curiosidade de Cortez, que age como se seu único objetivo fosse redigir um relato.
Pode-se dizer que o próprio fato de assumirem o pa pel ativo no processo de integração garante aos espanhóis uma superioridade incontestável. São os únicos que agem
nessa situação; os astecas procuram apenas manter o sta tus quo, apenas reagem. O fato de terem sido os espanhóis os que atravessaram o oceano para encontrar os
índios, e não o inverso, já anuncia o resultado do encontro; os aste cas não se expandem mais além na América do Sul ou na América do Norte. É impressionante ver
que, na América Central, são precisamente os astecas que não querem co municar-se nem mudar nada em seu modo de vida (as duas coisas freqüentemente se confundem),
o que vai par a par
com a valorização do passado e das tradições, ao passo que as populações dominadas ou dependentes participam muito mais ativamente da interação, e levam vantagem
no conflito: os tiaxcaltecas, aliados dos espanhóis, serão em muitos aspectos os verdadeiros senhores do país no século que se segue à conquista.
Voltemo-nos agora para o lado da produção dos dis cursos e dos símbolos. Cortez tem, inicialmente, uma preo cupação constante com a interpretação que os outros -
os índios - farão de seus gestos. Punirá severamente os sa queadores em seu próprio exército porque estes ao mesmo tempo tomam o que não deve ser tomado e dão uma
im pressão desfavorável de si mesmos. "Vendo o porto deser to e tendo sabido como Alvarado tinha estado na vila vizi nha pegando as galinhas, os ornamentos e outros
objetos de pouco valor pertencentes aos ídolos e o ouro metade cobre, mostrou-se muito irritado e repreendeu Pedro de Alvarado severamente por isso, dizendo-lhe
que não era tomando assim os bens dos nativos que se faria a paz nos países conquistados. (...) Fez com que devolvessem o ouro, os ornamentos e tudo o mais. Quanto
às galinhas, tinham sido comidas; mas ordenou que em troca lhes dessem mi çangas e guizos, e a cada um uma camisa de Castela" (Bernal Díaz, 25). E mais tarde: "Um
soldado de nome Mora, natu ral de Ciudad Rodrigo, roubou duas galinhas numa casa de índios daquela aldeia. Cortez, percebendo isso, sentiu tanta cólera pela conduta
que aquele soldado tinha ousa do manter à sua vista, em país aliado, que ali mesmo fez com que passassem uma corda em volta do pescoço dele" (Bernal Díaz, 51). A
razão desses gestos é precisamente o desejo que Cortez tem de controlar a informação recebida pelos índios: "Para evitar a aparência de cobiça neles, e para acabar
com a idéia de que o único motivo de sua vinda era a procura do ouro, todos deviam fazer como se não sou bessem o que era" (Gomara, 25); e, nas aldeias: "Cortez
anunciou pelo arauto que, sob pena de morte, ninguém devia tocar outra coisa senão a comida - isto para aumen tar sua reputação de benevolência junto aos indígenas"
132
133
(Gomara, 29). Percebe-se o papel que começa a ter o vo cabulário do faz-de-conta: "aparência", "reputação".
Quanto às mensagens que lhes envia, também obede cem a uma estratégia perfeitamente coerente. Para começar, Cortez quer que a informação recebida pelos índios seja
exatamente aquela que ele envia; com muita prudência, des tilará a verdade em suas próprias palavras, e será particular- mente impiedoso em relação aos espiões:
os que agarra terão as mãos cortadas. No início, os índios não estão bem certos de que os cavalos dos espanhóis são seres mortais; para mantê-los nessa incerteza,
Cortez fará com que sejam cuidadosamente enterrados os cadáveres dos animais mor tos, na noite que se segue à batalha. Recorrerá a muitos outros estratagemas para
dissimular suas verdadeiras fon tes de informação, para fazer crer que suas informações não provêm do intercâmbio com os homens, e sim do intercâmbio com o sobrenatural.
A propósito de uma dela ção, ele conta: "Como ignoravam quem me tinha revelado aquilo e como achavam que sabia por uma espécie de má gica, pensam que nada me pode
escapar. Várias vezes ti nham visto que, para ter certeza do caminho, sacava um mapa e uma bússola. particularmente quando encontrei o caminho de Cagoatezpan, e
tinham dito a vários espanhóis que assim eu conseguira sabê-lo. Alguns deles, desejando assegurar-me de sua boa vontade, até vieram a mim e pe diram-me que olhasse
no vidro e no mapa para verificar suas boas intenções, já que era assim que eu sabia de todas as outras coisas; deixei que acreditassem que aquilo era ver dade e
que a bússola e o mapa tudo me revelavam" (5).
O comportamento de Montezuma era contraditório (acolher ou não acolher os espanhóis?), e revelava o esta do de indecisão em que se encontrava o imperador asteca,
o que seria explorado por seus adversários. O comporta mento de Cortez é freqüentemente tão contraditório quan to o de Montezuma, na aparência; mas essa contradição
é calculada, e tem por objetivo (e por efeito) confundir sua mensagem, deixar seus interlocutores perplexos. Um mo mento de sua marcha para a Cidade do México é
exemplar
nesse sentido. Cortez está em Cempoala, recebido pelo "grande cacique", que espera que o chefe espanhol o aju de a rechaçar o jugo asteca. Chegam nesse momento cinco
enviados de Montezuma, encarregados de coletar o impos to; ficam particularmente irados com a boa acolhida aos espanhóis. O grande cacique vem até Cortez para pedir
conselho; este lhe diz que prenda os coletores, o que é feito; mas quando os cempoaleses se propõem a sacrificar os prisioneiros, Cortez se opõe e junta seus próprios
sol dados à guarda da prisào. Quando cai a noite, pede a seus soldados que lhe tragam, às escondidas, dois dos cinco pri sioneiros, os mais inteligentes se possível;
tendo-os diante de si, simula a inocência, espanta-se ao vê-los prisioneiros e se propõe a libertá-los; para assegurar a fuga deles, che ga a conduzi-los em um de
seus barcos para fora do terri tório cempoalês. Livres, vão até Montezuma, e contam-lhe o que devem a Cortez. Na manhã seguinte, os cempoale ses descobrem a fuga
e querem sacrificar pelo menos os três prisioneiros restantes; mas Cortez se opõe; fica indig nado com a negligência dos guardas cempoaleses e pro põe guardar os
outros três em seus próprios barcos, O grande cacique e seus colegas aceitam; mas sabem que Mon tezuma será avisado da rebelião deles; juram entào fideli dade a
Cortez e se comprometem a ajudá-lo em sua luta contra o imperador asteca. "Foi então que juraram obe diência à Sua Majestade, diante do escrivão Diego Godoy; e informaram
esses acontecimentos às outras aldeias da quela província. Como não pagavam mais tributos e não viam os coletores, não podiam conter a alegria, pensando na tirania
de que estavam livres" (Bernal Díaz, 47).
As manobras de Cortez têm dois destinatários: os cem poaleses e Montezuma. Com os primeiros, as coisas são re lativamente simples: Cortez leva-os a uma aliança irreversí
vel com os espanhóis. Como os coletores astecas estão bem próximos, e os tributos sào bem pesados, ao passo que o Rei de Espanha é uma pura abstração e não pede,
por en quanto, nenhum imposto, os cempoaleses encontram razões suficientes para passar para o outro lado. As coisas são mais
134
135
complexas no que se refere a Montezuma. Ele saberá, por um lado, que seus enviados foram maltratados graças à presença dos espanhóis; mas, por outro lado, que a
vida deles foi salva graças aos mesmos espanhóis. Cortez se apresenta, simultaneamente, como inimigo e como aliado, tornando impossível, ou, em todo caso, injustificável,
qual quer ação de Montezuma contra ele; através desse ato im põe seu poder, ao lado do de Montezuma, pois este não pode puni-lo. Enquanto sabia apenas a primeira
parte da história, Montezuma "já tinha mandado um de seus gran des exércitos para combater as aldeias rebeldes"; tendo ou vido a segunda, "sua cólera cedeu e ele
concordou em enviar alguém para informar-se acerca de nossas intenções" (Bernal Díaz, 48). O resultado da mensagem múltipla de Cortez é que Montezuma já não sabe
o que deve pensar, e é obrigado a voltar à busca de informação.
A primeira preocupação de Cortez quando está fraco, é fazer com que os outros pensem que é forte, não permi tir que descubram a verdade; esta preocupação é constan
te. "Como tínhamos anunciado que aquele seria nosso caminho, achei melhor perseverar e não recuar, para que não pensassem que me faltava coragem" (2). "Por mim,
achei que demonstrar tão pouca coragem diante dos natu rais, sobretudo diante dos que eram nossos amigos, seria suficiente para afastá-los de nós; e lembrei-me de
que a sorte sempre favorece os audaciosos" (2). "Pareceu-me que, embora não fosse nosso caminho, seria pusilânime passar sem lhes dar uma boa lição, e para que nossos
amigos não pensassem que o medo nos impedia de fazê-lo" etc. (3).
De modo geral, Cortez é um homem sensível às apa rências. Quando é nomeado para liderar a expedição, seus primeiros gastos serão dedicados à compra de uma roupa
imponente. "Começou a cuidar-se e enfeitar-se muito mais do que de hábito. Pôs um penacho e um medalhão e uma corrente de ouro" (Bernal Diaz, 20); mas pode-se pensar
que, ao contrário dos chefes astecas, ele não usava todas as suas insígnias durante as batalhas. Seus encontros com os mensageiros de Montezuma também são cercados
de
todo um cerimonial, que devia ser bastante cômico na flo resta tropical, mas nem por isso deixava de surtir efeito.
Cortez tem a reputação de bem-falante; sabe-se que che ga a escrever poesias, e os relatórios que envia a Carlos V evidenciam um notável domínio da língua. Os cronistas
mostram-no freqüentemente em atividade, tanto junto a seus soldados como quando se dirige aos caciques, por inter médio de intérpretes. "Às vezes o capitão nos dirigia
belís simos discursos, que nos convenciam de que seríamos todos condes ou duques, e nos tornaríamos nobres; trans formava-nos assim de cordeiros em leões, e nós
caminhá vamos ao encontro de exércitos poderosos sem medo ou hesitação" (Francisco de Aguilar; voltaremos à comparação com os leões e os cordeiros). "De natureza
afável, era pro curado e agradava por sua conversa" (Bernal Díaz, 20). "Cortez sabia conquistar a atenção dos caciques com boas palavras" (ibid., 36). "Cortez consolou-os
com palavras amistosas que ele e dofia Marina sabiam muito bem em pregar" (ibid., 86). Até mesmo seu inimigo jurado, Las Casas, enfatiza seu completo desembaraço
na comunica ção com os homens: descreve-o como um homem que "sabia falar a todos" e tinha "vivacidade astuciosa e ciência mundana" (Historia, 111, 114 e 115).
Preocupa-se igualmente com a reputação de seu exér cito, e contribui conscientemente para sua elaboração. Ao subir com Montezuma até o topo de uni dos templos da
Cidade do México, com uma altura de cento e catorze de graus, o imperador asteca convida-o a descansar. "Cortez respondeu-lhe, por meio de nossos intérpretes, que
nem ele nem nenhum de seus homens jamais se cansava, qual quer que fosse a razão" (Bernal Díaz, 92). Gomara faz com que ele revele o segredo desse comportamento
num dis curso, que Cortez teria feito a seus soldados: "O desfecho da guerra depende muito de nossa reputação" (114). Quando entra pela primeira vez na Cidade do
México, dispensa a companhia de um exército de índios aliados, pois isso po deria ser interpretado como um sinal de hostilidade; em compensação, quando recebe, após
a queda da Cidade do
136
137
México, os mensageiros de um chefe distante, exibe osten sivamente todo o seu poder: Para que vejam nosso modo de agir e contem isso ao seu senhor, fiz com que todos
os cavalos fossem levados a uma praça e corressem e lutas sem diante deles; a infantaria se colocou em formação de batalha, com os arcabuzeiros, que descarregaram
suas ar mas, enquanto eu ordenava que atirassem granadas sobre uma das torres" (3). E sua tática militar preferida será - já que ele dá a impressão de estar forte
quando está fraco - simular sua fraqueza justamente quando está forte, para atrair os astecas a armadilhas mortais.
Em todo o decorrer da campanha, Cortez demonstra seu gosto por ações espetaculares, bem consciente do va lor simbólico delas. É, por exemplo, essencial ganhar a
primeira batalha contra os índios; destruir os ídolos ao pri meiro desafio dos sacerdotes, para mostrar sua invulnera bilidade; sair vitorioso do primeiro combate
entre bergan tins e canoas indígenas; queimar um determinado palácio no interior da cidade para mostrar a amplitude de sua pe netração; subir até o topo de um templo
para que todos possam vê-lo ali. Pune rara, mas exemplarmente, de modo que todos aprendem; temos um exemplo disso na violên cia com que reprime a região de Panuco,
após uma suble vação que ele aniquilou; nota-se a atenção que dá à difu são da informação: "Cortez ordena que cada um dos [ senta] caciques faça vir seu herdeiro.
A ordem é cumprida. Todos os caciques são então queimados numa imensa fogueira e seus herdeiros assistem à execução. Cortez cha ma-os em seguida e lhes pergunta
se sabem como foi dada a sentença contra seus pais assassinos, depois, tomando um ar severo, acrescenta que espera que o exemplo baste e que eles não sejam mais
suspeitos de desobediência" (Pierre Martyr, VIII, 2).
O uso que Cortez faz de suas armas tem uma eficácia mais simbólica do que prática. Ordena a construção de uma catapulta que não funcionará, mas não faz mal: "Mesmo
se ela não tivesse tido outro efeito senão amedrontá-los, o que aconteceu, esse medo era tão grande que pensávamos
que os inimigos se rendedam, e jsso nos bastava" (Cortez, 3). Logo no início da expedição, organiza verdadeiros espetá culos de "som e luz" com seus cavalos e seus
canhões (que então não têm nenhuma outra utilidade); sua preocupação com a encenação é realmente notável. Esconde num de terminado local uma égua, e coloca em frente
dela seus anfitriões índios e um garanhão; as manifestações barulhen tas deste último apavoram essas pessoas que nunca tinham visto um cavalo. Escolhendo um momento
de calmaria, Cortez manda disparar os canhões que também estão bem perto. Ele não inventou esse tipo de estratagema, mas é certamente o primeiro a agir assim de
modo sistemático. Em outra ocasião, leva seus convidados a um local onde o solo é duro, para que os cavalos possam galopar velozmen te, e manda disparar novamente
o grande canhão, descar regado. Sabemos, pelos relatos astecas, que essas encena ções atingiam seus objetivos: "Nesse instante os emissários perderam a cabeça, e
desmaiaram. Despencaram, afunda ram cada um de um lado: já não eram senhores de si mes mos" (C'F, XII, 5). Esses passes de mágica são tão eficientes, que um padre
pôde escrever tranqüilamente, alguns anos mais tarde: "Essa gente tem tanta confiança em nós que já não são necessários milagres" (Francesco de Bologna).
Esse comportamento de Cortez faz pensar, irresistivel mente, no ensinamento quase contemporâneo de Maquia vel. Não se trata, evidentemente, de uma influência direta,
mas do espírito de uma época, que se manifesta nos escri tos de um e nos atos do outro; de resto, o reiS" católico" Fernando, cujo exemplo Cortez não podia ignorar,
é cita do por Maquiavel como modelo do "novo príncipe". Como deixar de fazer a aproximação entre os estratagemas de Cortez e os preceitos de Maquiavel, que erige
a reputação e o faz-de-conta ao topo dos novos valores: "Não é preciso que um príncipe tenha todas as qualidades supracitadas, mas é preciso que pareça tê-las. Ousaria
até dizer que se ele as tiver e as usar sempre, elas o prejudicarão; mas, fin gindo tê-las, elas serão proveitosas" (O príncipe, 18). De modo geral, no mundo de
Maquiavel e de Cortez, o dis
138
139
curso não é determinado pelo objeto que descreve, nem pela conformidade a uma tradição, mas é construído uni camente em função do objetivo que se procura atingir.
A melhor prova de que podemos dispor quanto à ca pacidade de Cortez em compreender e falar a linguagem do outro é sua participação na elaboração do mito da volta
de Quetzalcoatl. Não será essa a primeira vez em que os conquistadores espanhóis exploram os mitos indígenas em seu próprio beneficio. Pierre Martyr consignou a
como vente história da deportação dos lucayos, habitantes das atuais Ilhas Bahamas, que acreditam que, após a morte, seus espíritos partem para uma terra prometida,
para um paraí so, onde podem gozar todos os prazeres. Os espanhóis, que precisam de mão-de-obra e não conseguem encontrar voluntários, assimilam rapidamente o mito
e completam-no em seu próprio benefício. "Assim que os espanhóis soube ram das crenças ingênuas dos insulares em relação a suas almas que, após a expiação das faltas,
devem passar das montanhas geladas do norte para as regiões meridionais, tudo fizeram para persuadi-los a abandonar por iniciativa própria o solo natal e se deixar
levar às ilhas meridionais de Cuba e Hispaniola. Conseguiram convencê-los de que eles mesmos estavam chegando ao país onde encontrariam seus pais e filhos mortos,
todos os parentes e amigos, e desfrutariam de todas as delícias nos braços daqueles que tinham amado. Como os sacerdotes já tinham incutido neles essas falsas crenças,
e os espanhóis confirmavam-nas, dei xaram a pátria nessa vã esperança. Assim que compreende ram que tinham abusado deles, já que não encontravam nem os parentes
nem pessoa alguma que desejavam e eram, ao contrário, forçados a suportar fadigas e a execu tar trabalhos duros aos quais não estavam habituados, fica ram desesperados.
Ou se suicidavam, ou então resolviam morrer de fome e faleciam de cansaço, recusando qualquer argumento, e até mesmo a violência, para se alimentarem. (...) Assim
pereceram os desafortunados lucayos" (VII, 4).
A história do retomo de Quetzalcoatl, no México, é mais complexa, e suas conseqüências, bem mais importantes.
Eis os fatos, em poucas palavras. Segundo os relatos indí genas anteriores à conquista, Quetzalcoatl é uma persona gem simultaneamente histórica (um chefe de estado)
e legendária (uma divindade). Em um dado momento, é obri gado a deixar seu reino e partir para o leste (o Atlântico); desaparece, mas segundo algumas versões do
mito pro mete (ou ameaça) voltar um dia para recuperar o que é seu. Cabe lembrar aqui que a idéia do retorno de um mes sias não desempenha um papel essencial na
mitologia asteca; que Quetzalcoatl é apenas uma divindade entre outras e não ocupa um lugar de destaque (particularmen te na Cidade do México, cujos habitantes consideram-no
deus dos cholultecas); e que apenas alguns relatos prome-. tem sua volta, enquanto outros simplesmente descrevem seu desaparecimento.
Ora, os relatos indígenas da conquista, particularmen te os recolhidos por Sahagún e Durán, dizem que Monte zuma tomou Cortez por Quetzalcoatl, que voltava para
re cuperar seu reino; essa identificação seria um dos motivos principais de sua passividade diante do avanço dos espa nhóis. Pode-se duvidar da autenticidade dos
relatos, que dizem o que achavam os informantes dos padres. A idéia de uma identidade entre Quetzalcoatl e Cortez realmente existiu nos anos imediatamente subseqüentes
à conquista comprovada também pela repentina recrudescência na produção de objetos de culto ligados a Quetzalcoatl. Ora, há um hiato evidente entre esses dois estados
do mito: o antigo, onde o papel de Quetzalcoatl é secundário, e sua volta incerta; e o novo, onde aquele é predominante e esta absolutamente certa. Uma força deve
ter intervindo para acelerar essa transformação do mito.
Essa força tem um nome: Cortez. Ele sintetizou vários dados. A diferença radical entre espanhóis e índios, e a relativa ignorância de outras civilizações por parte
dos as tecas levavam, como vimos, à idéia de que os espanhóis eram deuses. Mas quais deuses? É aí que Cortez deve ter fornecido o elo que faltava, estabelecendo
a relação com o mito, um tanto marginal, mas totalmente pertencente à "lin
140
141
guagem do outro", da volta de Quetzalcoatl. Os relatos que se encontram em Sahagún e Durán apresentam a identifi cação Cortez-Quetzalcoatl como tendo sido produzida
no espírito do próprio Montezuma. Mas essa afirmação prova somente que, para os índios da pós-conquista, isso era ve rossímil; ora, é certamente nisso que se baseia
o raciocínio de Cortez, que procurava produzir um mito bem índio. Em relação a isso, dispomos de provas mais diretas.
A primeira fonte importante que estabelece a existên cia desse mito são as cartas-relatórios do próprio Cortez. Esses relatórios, endereçados ao imperador Carlos
V, não têm um mero valor documentário: para Cortez, como vi mos, a palavra é um meio de manipular as pessoas, antes de ser reflexo fiel do mundo, e, em suas relações
com o imperador, tem tantos objetivos a atingir que a objetivida de não é sua preocupação principal. Não obstante, a evo cação desse mito, tal como se encontra em
seu relato do primeiro encontro com Montezuma, é altamente reveladora. Montezuma teria declarado, dirigindo-se a seu hóspede es panhol e a seus próprios nobres:
"Devido ao lugar de onde dizeis vir, a saber o levante, e às coisas que dizeis do gran de senhor ou rei que vos envia aqui, cremos e estamos certos de que é esse
o nosso senhor natural, particular- mente porque dizeis que ele nos conhece há muito tem po." Ao que Cortez responde: "O que achei conveniente, tratando especialmente
de convencê-lo de que Vossa Ma jestade era aquele que esperavam" (Cortez, 2).
Para caracterizar seu próprio discurso, Cortez encontra, significativamente, a noção retórica fundamental do "con veniente": o discurso é regido por seu objetivo,
não por seu objeto. Mas Cortez nào tem nenhum interesse em con vencer Carlos V de que este último é, sem saber, um Quetzalcoatl; em relação a isso, seu relatório
deve dizer a verdade. Ora, nos fatos relatados, vemos sua intervenção duas vezes: a convicção (ou suspeita) inicial de Monte zuma já é efeito das palavras de Cortez
("devido ás coisas que dizeis"), e particularmente do argumento engenhoso segundo o qual Carlos V já os conhece há muito tempo
(não devia ser difícil para Cortez produzir provas disso). E, em resposta, Cortez afirma explicitamente a identidade das duas personagens, tranqüilizando Montezuma,
enquanto se mantém vago e dá a impressão de estar apenas confir mando uma convicção que o outro teria adquirido por suas próprias vias.
Sem que nos seja possível, pois, ter certeza de que Cortez é o único responsável pela identificaçào entre Quetzalcoatl e os espanhóis, constatamos que faz tudo para
alimentá-la. Seus esforços serão coroados de sucesso, embora a lenda deva ainda passar por algumas transfor mações (deixando de lado Carlos V e identificando direta
mente Cortez a Quetzalcoatb. E essas transformações são rentáveis em todos os níveis: Cortez pode assim gabar-se de uma legitimidade junto aos índios; além disso,
fornece- lhes um meio de racionalizar sua própria história: senão, sua vinda teria sido absurda e pode-se supor que a resis tência teria sido muito mais implacável.
Mesmo que Monte zuma não tome Cortez por Quetzalcoatl (aliás, ele não teme Quetzalcoatl a esse ponto), os índios que comporão os relatos, isto é, os autores da representação
coletiva, acre ditam nisso; o que tem conseqüências incomensuráveis. É definitivamente graças ao domínio dos signos dos homens que Cortez garante seu controle sobre
o antigo império asteca.
Ainda que os cronistas, espanhóis ou índios, se equi voquem, ou mintam, suas obras continuam eloqüentes para nós; o gesto que cada uma delas constitui revela a ideolo
gia do autor, inclusive quando a narração dos aconteci mentos é falsa. Vimos o quanto o comportamento semiótico dos índios acompanhava o domínio, entre eles, do
princí pio hierárquico sobre o princípio democrático, e a preemi nência do social sobre o individual. Se compararmos os relatos da conquista, indígenas e espanhóis,
descobriremos ainda a oposição entre dois tipos de ideologia bem distintos. Tomemos dois exemplos dos mais ricos: a crônica de Ber nal Diaz de um lado; a do Codex
Florentino, recolhida por Sahagún, do outro. Elas não diferem pelo valor documen
142
143
tal: ambas mesclam verdades e erros. Nem pela qualidade estética: ambas são comoventes e até mesmo perturbado ras. Mas não são construídas do mesmo modo. O relato
do Codex Florentino é a história de um povo contada por esse mesmo povo. A crônica de Bernal Díaz é a história de alguns homens contada por um homem.
Não que inexistam identificações individuais no Codex Florentino. Vários guerreiros valentes são mencionados, assim como parentes do soberano, sem falar no próprio;
evocam-se batalhas específicas, e o local onde ocorrem é precisamente indicado. No entanto, esses indivíduos nun ca se tornam "personagens": não possuem uma psicologia
individual que seria responsável por seus atos e que os diferenciaria uns dos outros. A fatalidade reina sobre o de senrolar dos acontecimentos, e em momento algum
temos o sentimento de que as coisas poderiam ter ocorrido de outro modo. Não são esses indivíduos que, por adição ou fusão, formam a sociedade asteca; é ela, ao
contrário, que é o dado inicial, o herói da história; os indivíduos são ape nas suas instâncias.
Bernal Díaz conta efetivamente a história de alguns homens. Não somente Cortez, mas todos os mencionados são providos de traços individuais, físicos e morais; cada
um deles é uma mistura complexa de qualidades e defei tos cujos atos são imprevisíveis: do mundo do necessário, passamos para o do arbitrário, já que cada indivíduo
pode ser a fonte de uma ação que leis gerais não poderiam pre ver. Nesse sentido, sua crônica se opõe não somente aos relatos indígenas (que ele ignorava), como
também à de Gomara, sem a qual - no desejo de contradizê-la - Bernal Díaz talvez não tivesse escrito, e tivesse apenas contado sua história oralmente, como deve
ter feito várias vezes. Go mara submete tudo à imagem de Cortez, que deixa então de ser um indivíduo, para tornar-se uma personagem ideal. Bernal Diaz, ao contrário,
reivindica a pluralidade e a di versidade dos protagonistas: se eu fosse um artista, diz ele, "poderia até desenhar o aspecto de cada um marchando para o combate"
(206).
E vimos o quanto seu relato abunda em detalhes "inú teis" (ou melhor, desnecessários, que não são impostos pela fatalidade do destino): por que dizer que Aguilar
car regava a sandália à cintura? Porque, a seu ver, é essa sin gularidade do acontecimento que constitui sua identidade. Na verdade, encontram-se no Codex Florentino
alguns de talhes do mesmo tipo: as belas índias que cobrem o rosto de lama para escapar dos olhares lascivos dos espanhóis; estes se vêem obrigados a segurar um
lenço sob o nariz para evitar o odor dos cadáveres; as roupas empoeiradas de Cuauhtemoc quando se apresenta diante de Cortez. Mas todos eles aparecem nos últimos
capítulos, após a queda da Cidade do México, como se o desmoronamento do im pério fosse acompanhado pela vitória do modo narrativo europeu sobre o estilo indígena:
o mundo da pós-conquis ta é mestiço, nos fatos como nas maneiras de os narrar.
No Codex Florentino, não sabemos em momento al gum quem fala; ou melhor, sabemos que não se trata do relato de um indivíduo, mas daquilo que a coletividade pensa.
Não é por acaso que ignoramos os nomes dos au tores desses relatos; isto não se deve à negligência de Sahagún, mas à não-pertinência da informação. O relato pode
contar vários acontecimentos que ocorreram simulta neamente, ou em locais bem afastados uns dos outros; nun ca se preocupa em apresentar as fontes dessas informa
ções, ou explicar como se soube de tudo isso. As informações não têm fonte, pois pertencem a todos, e é justamente isso que as torna probantes; se tivessem uma origem
individual seriam, ao contrário, suspeitas.
Inversamente, Berna! Díaz autentifica suas informa ções, personalizando suas fontes. À diferença de Gomara, mais uma vez, se quer escrever, não é porque se conside
ra um bom historiador, capaz de exprimir melhor uma ver dade comum a todos; seu percurso singular, excepcional, qualifica-o enquanto cronista: é porque ele, pessoalmente,
estava lá, porque assistiu aos acontecimentos, que deve agora contá-los. Em um de seus raros enlevos líricos, ex clama: "Se não estivesse presente em nossas batalhas,
se
144
145
não as tivesse visto, nem compreendido, como alguém po deria contá-las? Quem, então, virá dizê-las? Seriam os pás saros que voavam nos ares enquanto estávamos ocupados
no combate? Ou então as nuvens que planavam sobre nos sas cabeças? Este cuidado no deverá, em vez disso, ser dei xado a nós, capitães e soldados, que estávamos compro
metidos na ação?" (2 E, cada vez que conta peripécias que não presenciou, indica de quem e como soube da his tória - pois ele não é o único na época, entre os conquis
tadores, a desempenhar o papel de testemunha: "Estáva mos", escreve, "em contínua comunicação uns com os ou tros" (206).
Poderíamos prosseguir nessa comparação das modali dades de representação no plano da imagem. As persona gens apresentadas nos desenhos indígenas não são perso naljzadas
interiormente; quando se alude a urna pessoa específica, um pictograma que a identifica aparece ao lado da imagem. Qualquer idéia de perspectiva linear e, portan
to, de um ponto de vista individual, está ausente; os obje tos são representados em si mesmos, sem interação possí vel entre eles, e não como se alguém os visse;
o plano e o corte são livremente justapostos: uma imagem (cf. fig. 6) figurando o templo cia Cidade do México representa todas as paredes vistas de frente, e tudo
subordinado ao plano do solo e, ainda, personagens maiores do que as paredes. As esculturas astecas são trabalhadas de todos os lados, inclusive na base, ainda que
pesem várias toneladas é que o espectador do objeto é tão pouco individual quanto seu executor; a representação nos dá essências, não se impor ta com as impressões
de um homem. A perspectiva linear curopéia não nasceu da preocupação de valorizar um pon to de vista único e individual, mas torna-se o seu símbolo, juntando se
à individualidade dos objetos representadõs. Pode parecer temerário ligar a introduçào da perspectiva à descoberta da América; e contudo a relação existe, não por
que Toscaneili, inspirador de Colombo, era amigo de Bru neileschi e Alherti, pioneiros da perspectiva (ou porque Piero deila Francesca, outro fundador da perspectiva,
mor-
146
reu a 12 de outubro de 1492), mas em razão das transfor mações que os dois fatos revelam e produzem, simulta neamente, nas consciências.
O comportamento semiótico de Cortez pertence a seu tempo e a seu lugar. Em si, a linguagem não é um instru mento uflÍvoco: serve igualmente à integração no seio
da comunidade e à manipulação de outrem. Mas Montezuma privilegia a primeira função; Cortez, a segunda. Um último exemplo dessa diferença encontra-se no papel atribuído
aqui e lá à língua nacional. Os astecas e os maias, embora, como vimos, venerassem o domínio do simbólico, não pa recem ter compreendido a importância política da
língua comum, e a diversidade lingüística torna difícil a comuni cação com os estrangeiros. "Falam-se duas ou três línguas diferentes em várias cidades, e quase
não há contato ou familiaridade entre os grupos que falam essas línguas dife rentes", escreve Zorita (9). Lá onde a língua é, antes de mais nada, um meio de designar,
e de expressar a coerência própria do grupo que a fala, não é ,necessário impõ-la ao outro. A língua fica situada no espaço delimitado pelo in tercâmbio dos homens
com os deuses e o mundo, em vez de ser concebida como instrumento concreto de ação sobre outrem.
Serão portanto os espanhóis que instaurarão o natural como língua indígena nacional no México, antes de reali zar a hispanização; serão os frades franciscanos e
domini canos que se lançarão ao estudo das línguas indígenas, assim como ao ensino do espanhol. Este comportamento já estava preparado há muito tempo; e o ano de
1492, que já havia visto a notável coincidência da vitória sobre os ára bes, do exílio imposto aos judeus e da descoberta da Amé rica, é também o ano da publicação
da primeira gramática de uma língua européia moderna, e é a gramática do espa nhol, por Antonio de Nebrija. O conhecimento da língua, nesse caso teórico, demonstra
uma atitude nova, nào de ve neração mas de análise, e de tomada de consciência de sua utilidade prática; e Nebrija escreveu em sua introdução estas palavras decisivas:
"A língua sempre foi a compa nheira do império."
148
III
Amar
Compreender, tomar e destruir
Cortez compreende relativamente bem o mundo aste ca que se descobre diante de seus olhos, certamente me lhor do que Montezuma compreende as realidades espa nholas.
E, contudo, essa compreensão superior não impede os conquistadores de destruir a civilização e a sociedade mexicanas; muito pelo contrário, tem-se a impressão de
que é justamente graças a ela que a destruição se torna possí vel. Existe aí um encadeamento terrível, onde compreender leva a tomar, e tomar a destruir, encadeamento
cujo cará ter inelutável gostaríamos de colocar em questão. A com preensão não deveria vir junto com a simpatia? E ainda, o desejo de tomar, de enriquecer à custa
do outro, não deve ria predispor à conservação desse outro, fonte potencial de riqueza?
O paradoxo da compreensão que mata desapareceria facilmente se fosse possível observar ao mesmo tempo, naqueles que compreendem, um julgamento de valor in teiramente
negativo sobre o outro; se o êxito no conheci mento viesse acompanhado de uma recusa axiológica. Pode ríamos imaginar que, tendo aprendido a conhecer os aste 151
cas, os espanhóis os tenham considerado tão desprezíveis que os tenham declarado, eles e sua cultura, indignos de vi ver. Ora, lendo os escritos dos conquistadores,
vemos que não é nada disso, e que, em alguns aspectos pelo menos, os astecas provocam a admiração dos espanhóis. Quando Cortez deve emitir um julgamento sobre os
índios do Mé xico, será sempre para aproximá-los dos espanhóis; há nisso mais do que um procedimento estilístico ou narrativo. "Nu ma de minhas cartas informava
Vossa Majestade de que os naturais deste país são muito mais inteligentes do que os das ilhas; que seu entendimento e sua razão deles nos parece ram suficientes
para que eles possam se comportar como cidadãos ordinários" (3). "Nos comportamentos e relacio namentos, essa gente tem quase os mesmos modos de vi ver que na Espanha,
e há tanta ordem e harmonia quanto lá; e, considerando que são bárbaros e tão afastados do conhecimento de Deus e da comunicação com outras na ções racionais, é
uma coisa admirável ver a que ponto che garam em todas as coisas" (2); note-se que, para Cortez, as relações com uma outra civilização podem explicar um alto nível
de cultura.
As cidades dos mexicanos, pensa Cortez, são tão civi lizadas quanto as dos espanhóis, e ele dá uma prova curio sa disso: "Há muita gente pobre que, nas ruas, nas
casas e nos mercados implora aos ricos, como fazem os pobres na Espanha e em outros países onde há gente racional" (2). Na verdade, as comparações sempre favorecem
o México, e é impossível não ficar impressionado com sua precisão, mesmo que se leve em conta o empenho de Cortez em louvar os méritos do país que oferece a seu
imperador. "Os espanhóis (...) falaram especialmente de um acampa mento entrincheirado com fortaleza, que era maior, mais resistente e melhor construído que o castelo
de Burgos" (2). "Isto lembra o mercado de sedas de Granada, com a dife rença de que tudo aqui é em maior quantidade" (2). "A tor re principal é mais alta do que
a torre da catedral de Se vilha" (2). "O mercado de Tenoxtitlán é uma grande praça toda cercada de pórticos e maior que a de Salamanca" (3).
152
t
Um outro cronista diz: "Ainda que os espanhóis o tivessem feito, não teria sido melhor executado" (Diego Godoy). Para resumir: "Só posso dizer que na Espanha não
há nada de comparável" (Cortez, 2). Essas comparações demons tram, é claro, o desejo de apreender o desconhecido com o auxílio do conhecido, mas também contêm uma
distri buição dos valores sistemática e reveladora.
Os modos dos astecas, ou pelo menos os de seus diri gentes, são mais refinados que os dos espanhóis. Cortez descreve com espanto os pratos aquecidos no palácio de
Montezuma: "Como fazia frio, traziam cada prato e cada taça sobre um pequeno brasero cheio de brasas, para que nada esfriasse" (2), e a reação de Bernal Díaz aos
sanitá rios é a mesma: "Para manter intacta essa ordem, era cos tume fazer, ao longo dos caminhos, abrigos de caniço, pa lha ou folhas, onde, sem ser visto pelos
passantes, se en trava se surgisse a vontade de esvaziar o ventre" (92).
Mas por que limitar-se à Espanha? Cortez está conven cido de que as maravilhas que vê são as maiores do mun do. "Não há nenhum príncipe conhecido no mundo que possua
coisas de tal qualidade" (2). "No mundo todo, não se poderia tecer vestimentas como essas, nem feitas com cores naturais tão numerosas e tão variadas, nem tão bem
trabalhadas" (2). "Os templos são tão bem construídos, em madeira e em alvenaria, que não se poderia fazer melhor em parte alguma" (2). "Tão finamente executados
em ouro e em prata que não há joalheiro no mundo capaz de fazer melhor" (2). "Essa cidade [ Méxicol era a coisa mais bela do mundo" (3). E as únicas comparações
que Bernal Díaz encontra são tiradas dos romances de cavalaria (aliás, lei tura preferida dos conquistadores): "Dizíamos uns aos ou tros que era comparável às casas
encantadas em Amadis, devido às altas torres, aos templos e a todos os tipos de edifícios, construídos com cal e areia, na própria água da la goa. Alguns dos nossos
se perguntavam se tudo o que vía mos ali não era um sonho" (87).
Tanto encanto, seguido todavia de uma destruição tão completa! Bernal Díaz escreve melancolicamente, evocan 153
do sua primeira visão da Cidade do México: "I)igo ainda que ao ver aquele espetáculo não pude crer que no mundo tivesse sido descoberto outro país comparável àquele
onde estávamos (...) Atualmente, a cidade toda está destruída e nada nela restou em pé" (87). Longe de esclarecer-se, por tanto, o mistério só aumenta: não somente
os espanhóis compreendiam bastante bem os astecas como também sen tiam admiração por eles; e, no entanto, os aniquilaram; por quê?
Vamos reler as frases admirativas de Cortez. Uma coi sa nelas chama a atenção: executando-se umas poucas, todas referem-se a objetos: a arquitetura das casas, as
mercado rias, os tecidos, as jóias. Comparável ao turista atual, que admira a qualidade do artesanato quando viaja para a Áfri ca ou a Ásia, sem que por isso lhe
ocorra a idéia de convi ver com os artesàos que produzem esses objetos. Cortez fica em êxtase diante das produções astecas, mas não re conhece seus autores como
individualidades humanas equi paráveis a ele. Um episódio posterior à conquista ilustra bem essa atitude: quando Cortez volta à Espanha, alguns anos após a conquista,
reúne uma amostra bastante signi ficativa de tudo o que, segundo ele, há de interessante no país conquistado, "Ele tinha juntado um grande número de pássaros diferentes
dos de Castela muito dignos de serem vistos -, dois tigres, vários barris de liqüidâmbar, bálsamo endurecido, e um outro bálsamo, líquido como o óleo, quatro índios,
profundos conhecedores da arte de fazer girar varetas com os pés, jogo notável para Castela ou qualquer outro país; outros índios mais, grandes dança rinos, que
dão a impressão de voarem pelos ares dançan do; ele trazia três índios corcundas e anões, cujo corpo era monstruosamente retorcido" (Berna! Díaz, 194, cf. fig. 7).
Sabe-se que esses malabaristas e monstros causam admira ção na corte espanhola e diante do papa Clemente V para onde se dirigem em seguida.
As coisas mudaram um pouco depois de Colombo, que,
como sabemos, agarrava os índios para completar uma es pécie de coleção naturalista, em que eles eram colocados
154
ao lado das plantas e animais; e onde só importava o número:
seis cabeças de mulheres, seis de homens. Nesse caso, o outro era reduzido, pode-se dizer, ao estatuto de objeto. Cortez já não tem o mesmo ponto de vista, mas nem
por isso os índios tornam-se sujeitos no sentido pleno, isto é, sujeitos comparáveis ao eu que os concebe. É antes um es tado intermediário que devem ocupar em seu
espírito: são sujeitos sim, mas sujeitos reduzidos ao papel de produto res de objetos, de artesàos ou de malabaristas, cujo desem penho é admirado, mas com uma admiração
que, em vez de apagá-la, marca a distância que os separa dele; e sua pertinência à série "curiosidades naturais" não é totalmen te esquecida. Quando Cortez compara
o desempenho deles ao dos espanhóis, mesmo que seja para atribuir-lhes, ge nerosamente, o primeiro lugar, não abandona seu ponto de vista egocêntrico, e não procura
fazê-lo: não é verdade que o imperador dos espanhóis é o maior, que o Deus dos cristãos é o mais forte? Não é de estranhar que Cortez, que assim pensa, seja espanhol
e cristão. Nesse plano, o do su jeito em relação áquilo que o constitui como tal, e não com os objetos que produz, de maneira alguma se atribui rá uma superioridade
aos índios. Quando Cortez deve dar sua opinião acerca da escravidão dos índios (ele o faz num relatório endereçado a Carlos V), encara o problema de um único ponto
de vista: o da rentabilidade do negócio; nun ca se leva em conta o que os índios poderiam querer (não sendo sujeitos, não têm querer). "Não há dúvida que os indígenas
devem obedecer às ordens reais de Vossa Ma jestade, qualquer que seja sua natureza": este é o ponto de partida de seu raciocínio, que em seguida dedica-se à pro
cura das formas de submissão que seriam mais proveitosas para o rei. É bastante impressionante ver como, em seu testemunho, Cortez pensa em todos os que devem receber
seu dinheiro: sua família, seus valetes, os conventos e os colégios; os índios nunca são mencionados, apesar de te rem sido a única fonte de todas as suas riquezas.
Cortez interessa-se pela civilização asteca e, ao mes mo tempo, mantém-se completamente estrangeiro a ela.
Não é o único: esse é o comportamento de muita gente es clarecida de seu tempo. Albert Dürer admira, desde 1520, as obras dos artesãos indígenas, enviadas por Cortez
à corte real; mas não lhe ocorre tentar fazer o mesmo; inclusive as imagens dos índios, desenhadas por Dürer, continuam inteiramente fiéis ao espírito 'europeu.
Os objetos exóticos serão rapidamente trancafiados em coleções, e cobertos de poeira; a "arte índia" não exerce nenhuma influência sobre a arte européia do século
XVI (contrariamente ao que acontecerá com a "arte negra" no século XX). Formulando as coisas de outro modo: na melhor das hipóteses, os au tores espanhóis falam
bem dos índios; mas, salvo exceção, nunca falam aos índios. Ora, é falando ao outro (não dan do-lhe ordens, mas dialogando com ele), e somente então, que reconheço
nele uma qualidade de sujeito, comparável ao que eu mesmo sou. Agora, portanto, é possível precisar as palavras que formam meu título: se a compreensão não for acompanhada
de um reconhecimento pleno do outro como sujeito, então essa compreensão corre o risco de ser utilizada com vistas à exploração, ao "tomar"; o saber será subordinado
ao poder. Resta a esclarecer a segunda rela ção: por que tomar leva a destruir? Já que há, de fato, uma destruição, será preciso, na tentativa de responder a essa
pergunta, lembrar seus elementos principais.
Devemos examinar a destruição dos índios no século XVI em dois planos, quantitativo e qualitativo. Na ausência de estatísticas contemporâneas, a questão do número
de ín dios mortos poderia ser objeto de uma simples especulação, admitindo as respostas mais contraditórias. Os autores an tigos propõem números, é verdade, mas,
de modo geral, quando um Bernal Díaz ou um Las Casas dizem "cem mil" ou "um milhão", pode-se duvidar que eles jamais tenham tido a possibilidade de contar, e se
esses números, no final das contas, querem dizer alguma coisa, ela é bastante im precisa: "muitos". Além disso, não foram levados a sério os "milhões" de Las Casas
em sua Brevísima Relación de la Destra cción de las Índias, quando tenta dar um número aproximado de índios desaparecidos. Contudo, as coisas
156
157
mudaram completamente desde que historiadores atuais, através de métodos engenhosos, conseguiram estimar com bastante verossimilhança a população do continente ame
ricano às vésperas da conquista, para compará-la à que se encontra cinqüenta ou cem anos mais tarde, a partir dos recenseamentos espanhóis. Nenhum argumento sério
pode ser levantado contra esses números, e aqueles que, até hoje, continuam a negá-los, fazem-no simplesmente por que, se é verdade, é profundamente chocante. Efetivamen
te, esses números dão razão a Las Casas: não que suas esti mativas sejam confiáveis, mas seus números são da mesma ordem de grandeza que os fixados atualmente.
Sem entrar em detalhes, e para dar somente uma idéia global (apesar de não nos sentirmos totalmente no direito de arredondar os números em se tratando de vidas huma
nas), lembraremos que em 1500 a população do globo deve ser da ordem de 400 milhôes, dos quais 80 habitam as Américas. Em meados do século XVI, desses 80 milhões,
restam 10. Ou, se nos restringirmos ao México: às vésperas da conquista, sua população é de aproximadamente 25 mi lhões; em 1600, é de 1 milhào.
Se a palavra genocídio foi alguma vez aplicada com precisào a um caso, entào é esse. É um recorde, parece me, não somente em termos relativos (uma destruiçào da
ordem de 90% e mais), mas também absolutos, já que esta mos falando de uma diminuição da população estimada em 70 milhões de seres humanos. Nenhum dos grandes mas
sacres do século XX pode comparar-se a esta hecatombe. Compreende-se o quanto são vãos os esforços feitos por alguns autores para dissipar o que é chamado de "lenda
negra", estabelecendo a responsabilidade da Espanha nes se genocídio e manchando assim sua reputação. O negru me existia, mesmo que não haja nenhuma lenda. Não que
os espanhóis fossem piores do que os outros colonizado res: simplesmente, acontece que foram eles que ocuparam então a América e nenhum outro colonizador teve a
opor tunidade, antes ou depois, de causar a morte de tanta gen te ao mesmo tempo. Os ingleses e os franceses, na mesma
época, comportam-se do mesmo modo; mas sua expansão não tem, de modo algum, a mesma escala, logo, os estra gos que podem causar também não.
Mas, poderiam dizer que não faz sentido procurar res ponsabilidades e nem mesmo falar em genocídio, em vez de catástrofe natural. Os espanhóis não empreenderam um
extermínio direto desses milhões de índios, e não podiam tê-lo feito. Se nos voltarmos para as formas que tomou a diminuição da população, perceberemos que são três,
e que a responsabilidade dos espanhóis é inversamente pro porcional ao número de vítimas causadas por cada uma delas:
1. Por assassinato direto, durante as guerras ou fora de las: número elevado, mas relativamente pequeno; responsabilidade direta.
2. Devido a maus tratos: número mais elevado; respon sabilidade (ligeiramente) menos direta.
3. Por doenças pelo "choque microbiano": a maior par te da população; responsabilidade difusa e indireta.
Voltarei ao primeiro ponto, examinando a destruição dos índios no plano qualitativo; devemos considerar aqui em que e como a responsabilidade dos espanhóis está
en volvida na segunda e terceira formas de morte.
Por "maus tratos", entendo basicamente as condições de trabalho impostas pelos espanhóis, particularmente nas minas, mas não só nelas. Os conquistadores-colonizadores
não têm tempo a perder, devem enriquecer imediatamen te; conseqüentemente, impõem um ritmo de trabalho insu portável, sem nenhuma preocupação com a preservação da
saúde e, portanto, da vida, de seus operários; a expec tativa de vida média de um mineiro da época é de vinte e cinco anos. Fora das minas, os impostos são tão despropo
sitados que levam ao mesmo resultado. Os primeiros colo nizadores não dão atenção a isso, pois as conquistas se se guem então com tal rapidez que a morte de uma
população inteira não os deixa muito inquietos: é sempre possível tra zer uma outra, das terras recentemente conquistadas. Moto-
158
159
linha constata: "Os impostos exigidos dos índios eram tão elevados que várias cidades, impossibilitadas de pagar, ven diam aos usuários que lá havia as terras e
os filhos dos po bres, mas como os impostos eram muito freqüentes, e eles não conseguiam pagá-los nem que vendessem tudo o que tinham, algumas vilas ficaram totalmente
despovoadas e outras perderam a população" (III, 4). A redução à escravi dão também provoca, direta e indiretamente, diminuições maciças da população. O bispo da
Cidade do México, Juan de Zumarraga, assim descreve as atividades de Niflo de Guz mán, conquistador e tirano: "Quando ele começou a go vernar esta província, ela
continha 25000 índios submissos e pacíficos. Vendeu 10000 deles como escravos, e os outros, temendo a mesma sorte, abandonaram suas aldeias."
Paralelamente ao aumento da mortalidade, as novas condições de vida também provocam uma diminuição da natalidade: "Eles não mais se aproximam das esposas, para não
engendrar escravos", escreve o mesmo Zumarraga ao rei; e Las Casas explica: "Assim, marido e mulher não fica vam juntos e nem se viam durante oito ou dez meses,
ou um ano; e quando, ao cabo desse tempo, se encontravam, estavam tão cansados e abatidos pela fome, tão prostrados e enfraquecidos, tanto uns quanto as outras,
que pouco se preocupavam em manter comunicações maritais. Deste modo, pararam de procriar. Os recém-nascidos morriam cedo, pois suas mães, cansadas e famintas, não
tinham leite para nutri-los. Por isso, enquanto eu estava em Cuba, 7000 crianças morreram em três meses. Algumas mães chegavam a afogar os filhos por desespero,
enquanto ou tras, vendo-se grávidas, provocavam abortos com certas er vas, que produzem crianças natimortas" (Historia, II, 13). Las Casas também conta, na Historia
de las Indias (III, 79), que sua conversão à causa dos índios foi desencadeada pela leitura destas palavras n'O Eclesiasta (cap. 34): "O pão dos pobres é a sua vida:
quem privá-los dele é um assassi no." E, de fato, trata-se de um assassinato econômico, em todos esses casos, e de inteira responsabilidade dos colo nizadores.
As coisas são menos claras no que concerne às doenças. As epidemias dizimavam as cidades européias da época, do mesmo modo que, embora em outra escala, na América:
não somente os espanhóis inocularam conscientemente este ou aquele micróbio nos índios, mas, ainda que tivessem desejado combater as epidemias (como era o caso de
cer tos religiosos), não poderiam tê-lo feito de modo eficaz. Não obstante, é sabido atualmente que a população mexicana declinava também na ausência de grandes
epidemias, de vido à subnutrição, outras doenças comuns ou à destruição da teia social tradicional. Por outro lado, essas epidemias mortíferas não podem ser consideradas
como um fato pu ramente natural. O mestiço Juan Bautista Pomar, em sua Relación de Texcoco, terminada por volta de 1582, medita acerca das causas da depopulação,
que estima, aliás corre tamente, ser uma redução da ordem de 10 para 1; são as doenças, claro, mas os índios estavam particularmente vul neráveis a elas, por estarem
exauridos pelo trabalho e não gostarem mais da vida; a culpa é da "angústia e fadiga de seus espíritos, pois tinham perdido a liberdade que Deus lhes tinha dado,
pois os espanhóis tratavam-nos pior do que escravos."
Que essa explicação seja ou não aceitável no plano médico, outra coisa é certa, e é mais importante para a análise das representações ideológicas que tento desenvol
ver aqui. Os conquistadores consideram as epidemias como uma de suas armas; não conhecem os segredos da guerra bacteriológica, mas, se soubessem, não deixariam de
utili zar conscientemente as doenças; pode-se também imagi nar que, na maior parte das vezes, eles nada fizeram para impedir a propagação das epidemias. O fato de
os índios morrerem às pencas é uma prova de que Deus está do lado dos conquistadores. Os espanhóis talvez presumis sem um pouco a boa vontade divina para com eles,
mas o fato era, para eles, incontestável.
Motolinia, membro do primeiro grupo de franciscanos que desembarca no México, em 1523, começa sua Historia por uma enumeração das dez pragas enviadas por Deus
160
161
para punir aquela terra; sua descrição ocupa o primeiro ca pítulo do primeiro livro da obra. A referência é clara: como o Egito bíblico, o México tornou-se culpado
diante do ver dadeiro Deus, e é devidamente punido. Vemos então se sucederem, nessa lista, uma série de eventos cuja integra ção numa única sucessão é interessante.
'A primeira foi a praga da varíola", trazida por um sol dado de Narvaez. "Como os índios não conhecem o remé dio para essa doença, e têm o hábito de tomar muitos
banhos, estejam sãos ou doentes, e continuaram a fazê-lo, mesmo atingidos pela varíola, morriam em massa, às pen cas. Muitos outros morreram de fome porque, como
fica ram todos doentes ao mesmo tempo, não podiam cuidar uns dos outros, e não havia ninguém para lhes dar pão ou qualquer outra coisa." Para Motolinia também, portanto,
a doença não é o único responsável; são responsáveis, na mesma medida, a ignorância, a falta de cuidados, a falta de alimentos. Os espanhóis podiam, materialmente,
suprimir essas outras causas de mortalidade, mas nada era mais alheio a suas intenções: por que combater uma doença, se ela foi enviada por Deus para punir os descrentes?
Onze anos depois, continua Motolinia, começou uma nova epi demia, de rubéola; mas foram proibidos os banhos e os doentes foram tratados; houve mortos, mas muito
menos do que da primeira vez.
"A segunda grande praga foi o número dos que mor reram quando da conquista da Nova Espanha, particular- mente nos arredores da Cidade do México." Assim, os que foram
mortos pelas armas juntam-se às vítimas da varíola.
"A terceira praga foi uma grande fome que se abateu imediatamente após a tomada da Cidade do México." Du rante a guerra, não era possível semear; e se conseguissem
fazê-lo, os espanhóis destruíam a colheita. Até os espanhóis, acrescenta Motolinia, tinham dificuldade em encontrar mi lho: isso dispensa comentários.
"A quarta praga foi a dos calpixques, ou fiscais, e dos negros." Ambos serviam de intermediários entre os coloni zadores e o grosso da população; eram camponeses
espa
nhóis ou antigos escravos africanos. Como não gostaria de revelar-lhes os defeitos, calarei o que sinto, e direi somen te que se fazem servir e temer como se fossem
senhores absolutos e naturais. Nào fazem nada além de pedir, e por mais que se lhes dê, nunca estão satisfeitos, pois onde quer que estejam, infectam e corrompem
tudo, tào fétidos quan to a carne putrefeita (...) Ao longo dos primeiros anos, esses fiscais maltratavam os índios de modo tão absoluto, sobrecarregando-os, mandando-os
para longe de suas ter ras, impondo-lhes muitos outros serviços, que muitos ín dios morreram por causa deles, e em suas mãos."
"A quinta praga foram os impostos elevados e os ser viços devidos pelos índios." Quando os índios já não ti nham mais ouro, vendiam os filhos; quando já não tinham
mais filhos, só podiam oferecer suas vidas: "Quando eram incapazes de fazê-lo, muitos morreram por causa disso, alguns sob tortura e outros em prisões cruéis, pois
os es panhóis tratavam-nos brutalmente e estimavam-nos menos que seus animais.' Será que os espanhóis ganham alguma coisa com isso?
"A sexta praga foram as minas de ouro." "Seria impos sível contar o número de escravos índios que, até agora, morreram nessa minas."
"A sétima praga foi a construção da grande Cidade do México." "Quando da construção, alguns eram esmagados por vigas, outros caíam do alto, outros ainda eram enterra
dos sob os edifícios que eram demolidos num local para serem reconstruídos em outro; isso aconteceu principal mente quando derrubaram os principais templos do diabo.
Muitos índios ali morreram." Como deixar de ver uma intervenção divina na morte causada pelas pedras do Gran de Templo? Motolinia acrescenta que, para esse trabalho,
nào somente os índios não eram recompensados, como também pagavam o material de seus bolsos, ou deviam trazê-lo e, além disso, não eram alimentados; e como não podiam
destruir os templos e trabalhar no campo ao mes mo tempo, iam para o trabalho com fome; o que talvez explique um certo aumento dos "acidentes de trabalho".
162
163
"A oitava praga foram os escravos que eram jogados nas minas." No início, empregavam aqueles que já eram escravos entre os astecas; em seguida, os que tinham dado
mostras de insubordinação; finalmente, todos os que pudes sem agarrar. Durante os primeiros anos após a conquista, o comércio dos escravos é florescente, e os escravos
mu dam freqüentemente de senhor, "tantas marcas eram colo cadas sobre seus rostos, que se juntavam aos estigmas reais, que todo o seu rosto ficava inscrito, pois
traziam as marcas de todos os que os tinham vendido e comprado". Vasco de Quiroga, em carta ao Conselho das Indias, também deixou uma descrição desses rostos transformados
em livros ilegíveis, como os corpos dos supliciados da Colônia Penitenciária de Kafka: "São marcados a ferro no rosto e imprimem-se em sua carne as iniciais dos
nomes daqueles que são sucessivamente seus proprietários; passam de mão em mão, e alguns têm três ou quatro nomes, de modo que os rostos desses homens, que foram
criados à imagem de Deus, foram, por nossos pecados, transformados em papel."
"A nona praga foi o serviço das minas, para o qual os índios, carregando muito peso, andavam sessenta léguas ou mais para trazer provisões. A comida que traziam
para si às vezes acabava quando chegavam às minas e, outras vezes, no caminho de volta, antes de chegarem a casa. Às ve zes eram retidos pelos mineiros durante alguns
dias, para que ajudassem a extrair o minério, ou construíssem suas casas, ou servissem-nos, e quando não tinham mais comi da, morriam, nas minas ou no caminho, pois
não tinham dinheiro para comprá-la e ninguém lhes dava. Alguns che gavam a casa num tal estado que morriam pouco depois. Os corpos desses índios e dos escravos que
morreram nas minas produziam um tal fedor que provocou a pestilência, particularmente nas minas de Guaxaca. Num raio de meia légua e ao longo de grande parte da
estrada, era impossí vel evitar andar sobre os cadáveres ou sobre os ossos, e as revoadas de pássaros e corvos que vinham comer os cadá veres eram tão numerosas
que escureciam o sol, de modo que várias aldeias foram despovoadas, tanto ao longo das estradas quanto nas redondezas."
"A décima praga foram as divisões e facções que exis tiam entre os espanhóis no México." Em que isso prejudi ca os índios, podemos nos perguntar; é simples: como
os espanhóis não se entendem, os índios imaginam que po dem se aproveitar disso para livrar-se deles; seja verdade ou não, os espanhóis encontram aí um bom pretexto
para executar muitos deles, como Cuauhtemoc, então prisioneiro.
Motolinia partiu da imagem bíblica das dez pragas, eventos sobrenaturais, enviados por Deus para punir o Egito. Mas seu relato vai se transformando pouco a pouco
numa descrição realista e acusativa da vida no México nos primeiros anos após a conquista; fica claro que são os ho mens os responsáveis por essas "pragas", e na
verdade Mo tolinia não os aprova. Ou melhor: embora condene a ex ploração, a crueldade e os maus tratos, considera a própria existência dessas "pragas" como uma
expressão da vonta de divina, e uma punição dos infiéis (sem que isso impli que que ele aprova os espanhóis, causa imediata dos in fortúnios). Os responsáveis diretos
por cada um desses de sastres (antes que se tornem "pragas", de algum modo) são conhecidos por todos: são os espanhóis.
Passemos agora ao aspecto qualitativo da destruição dos índios (embora o termo "qualitativo" pareça um tanto des locado aqui). Quero dizer o caráter particularmente
impres sionante, e talvez moderno, que toma essa destruição.
Las Casas tinha consagrado sua Brevísima Relación à evocação sistemática de todos os horrores causados pelos espanhóis (cf. figs. 8 e 9). Mas a Relación generaliza,
sem citar os nomes próprios, ou as circunstâncias individuais; por isso foi possível dizer que era um grande exagero, senão pura invenção, nascida do espírito talvez
doentio, ou até perverso, do dominicano; é evidente que Las Casas não assistiu a tudo o que conta. Decidi, portanto, citar apenas relatos de testemunhas oculares;
podem provocar uma impressão de monotonia, mas assim era, provavelmente, a realidade que evocam.
O mais antigo deles é o relatório de um grupo de do minicanos, endereçado a M. de Chièvres, ministro de Car
164
165
los 1 (futuro Carlos V), de 1516; concerne eventos que ocorreram nas ilhas do Caribe.
Sobre o modo como as crianças eram tratadas: "Alguns cristãos encontraram uma índia, que trazia nos braçosuma criança que estava amamentando; e como o cão que os
acompanhava tinha fome, arrancaram a criança dos braços da mãe e, viva, jogaram-na ao cão, que se pôs a despeda çá-la diante da mãe. (...) Quando havia entre os
prisioneiros mulheres recém-paridas, por pouco que os recém-nasci dos chorassem pegavam-nos pelas pernas e matavam-nos contra as rochas ou jogavam-nos no mato para
que aca bassem de morrer."
Sobre as relações com os trabalhadores das minas: "To dos los contramestres das minasi estavam acostumados a dormir com as índias que dependiam deles, se lhe agra
dassem, fossem casadas ou solteiras. Enquanto o contra- mestre ficava na cabana ou choçã com a índia, mandava o marido extrair ouro nas minas; e à noite, quando
o infeliz voltava, não somente cobria-o de golpes ou chicoteava-o por não ter trazido quantidade suficiente de ouro, como também, muito freqüentemente, amarrava
seus pés e mãos e jogava-o para baixo da cama como um cão, antes de dei tar-se, bem acima, com sua mulher."
Sobre a maneira como a mão-de-obra era tratada: 'Ca da vez que os índios eram transferidos, eram tantos os que morriam de fome flO caminho que deixavam um rastro
que bastaria, pode-se supor, para guiar até o porto outra embarcação (...) Mais de 800 índios tendo sido trazidos a um porto dessa ilha, de nome Puerto de Plata,
dois dias se passaram antes que os fizessem descer da caravela. Mor reram seiscentos deles, que foram lançados ao mar: flutua vam sobre as ondas como tábuas."
Eis agora um relato de Las Casas, que nào figura na Relacián, mas em sua Historia de las índias, e que narra um acontecimento do qual foi mais do que testemunha
participante; é o massacre de Caonao, em Cuba, perpetra do pela tropa de Narvaez, de que era capelão (III, 29). O episódio começa por uma circunstância fortuita:
"É preciso
167
saber que os espanhóis, no dia em que ali chegaram, para ram de manhã, para o desjejum, no leito seco de um riacho que, entretanto, ainda conservava algumas pocinhas
d'água, e que estava repleto de pedras de amolar: o que lhes deu a idéia de afiar as espadas."
Chegando à aldeia, após esse convescote, os espanhóis têm outra idéia: verificar se as espadas estão tão cortantes quanto parecem. "Um espanhol, subitamente, desembai
nha a espada (que parecia ter sido tomada pelo diabo), e imediatamente os outros cem fazem o mesmo, e começam a estripar, rasgar e massacrar aquelas ovelhas e aqueles
cor deiros, homens e mulheres, crianças e velhos, que estavam sentados, tranqüilamente, olhando espantados para os ca valos e para os espanhóis. Num segundo, não
restam sobre- viventes de todos os que ali se encontravam. Entrando então na casa grande, que ficava ao lado, pois isso aconte cia diante da porta, os espanhóis
começaram do mesmo jeito a matar a torto e a direito todos os que ali se encon travam, tanto que o sangue corria de toda parte, como se tivessem matado um rebanho
de vacas."
Las Casas não encontra nenhuma explicação para es ses fatos, a não ser o desejo de verificar se as espadas esta vam bem afiadas. "Ver os ferimentos que cobriam os
cor pos dos mortos e agonizantes foi um espetáculo horroroso e apavorante: de fato, como o diabo, que movia os espa nhóis, lhes fornecera as pedras de amolar com
que afiaram as espadas, na manhã do mesmo dia, no leito do riacho on de comeram, onde quer que golpeassem aqueles corpos totalmente nus e carnes delicadas, cortavam
um homem inteiro ao meio de um só golpe."
Eis agora um relato que concerne a expedição de Vas co Nufiez de Balboa, transcrito por alguém que ouviu vários conquistadores contarem pessoalmente suas aventuras:
"As sim como os açougueiros cortam em pedaços a carne dos bois e carneiros para colocá-la à venda no açougue, os es panhóis cortavam de um só golpe o traseiro de
um, a coxa de outro, o ombro de um terceiro. Tratavam-nos como ani mais desprovidos de razão. (...) Vasco fez com que os cães despedaçassem uns quarenta deles" (Pierre
Martyr, III, 1).
168
O tempo passa mas os modos ficam: é o que se deduz da carta que o monge Gerónimo de San Miguel envia ao rei a 20 de agosto de 1550: "Queimaram vivos certos ín dios,
outros tiveram as mãos cortadas, ou o nariz, a língua, e outros membros; outros foram entregues aos cães; corta ram os seios das mulheres..."
Eis agora o relato do bispo de Yucatán, Diego de Lan- da, que não é especialmente favorável aos índios: "E este Diego de Landa diz ter visto uma grande árvore próxima
desse local, em cujos ramos o capitão enforcou um grande número de índias e, em seus pés enforcou também as crian cinhas. (...) Os espanhóis cometeram crueldades
inauditas, cortando as mãos, os braços, as pernas, cortando os seios das mulheres, jogando-as em lagos profundos, e golpean do com estoque as crianças, porque não
eram tão rápidas quanto as mães. E se os que traziam coleira em torno do pescoço ficassem doentes ou não caminhassem tão rapi damente quanto seus companheiros, cortavam-lhes
a ca beça, para não terem de parar e soltá-los" (15).
E, para terminar esta enumeração macabra, um detalhe contado por Alonso de Zorita, lá por 1570: "Conhecia um oidor [ que dizia em público, de seu estrado e em voz
alta, que se faltasse água para irrigar as fazendas dos espa nhóis, isso seria feito com o sangue dos índios" (10).
Quais são os motivos imediatos que levam os espanhóis a essa atitude? Um é, incontestavelmente, o desejo de enri quecer, rapidamente e muito, o que implica tratar
com ne gligência o bem-estar e até a vida dos outros: torturam para arrancar o segredo sobre os esconderijos dos tesouros; ex ploram para obter benefícios. Os autores
da época já pro punham essa razão como principal explicação do ocorrido, como Motolinia: "Se alguém me perguntasse qual foi a cau sa de tantos males, responderia:
a cobiça, o desejo de tran car no baú alguns lingotes de ouro, para o bem de não sei quem" (1, 3); e Las Casas: "Não digo que eles [ espanhóis] querem matar diretamente
os índios, devido ao ódio que têm deles. Matam-nos porque querem ser ricos e ter muito ouro, é este seu único objetivo, graças ao trabalho e ao
169
-4
suor dos atormentados e dos infelizes" ('Entre los reme dios", 7).
E por que esse desejo de enriquecer? Porque o dinhei ro, como todos sabem, traz tudo: Com o dinheiro os ho mens adquirem todas as coisas temporais de que precisam
e que desejam. como a honra, nobreza, bens, família, luxo, roupas finas, comidas delicadas, o prazer dos vícios, a vin gança sobre os inimigos, a grande estima por
sua pessoa" (ibid.).
O desejo de enriquecer não é, evidentemente, novo, a paixão pelo ouro nada-tem de especificamente moderno. O que é um tanto moderno, é a subordinação de todos os
outros valores a esse. O conquistador ainda aspira aos va lores aristocráticos, títulos de nobreza, honra e estima; mas, para ele, tornou-se perfeitamente claro
que tudo pode ser obtido através do dinheiro, que este não somente é o equivalente universal de todos os valores materiais, como também a possibilidade de adquirir
todos os valores espi rituais. É sem dúvida vantajoso, tanto no México de Mon tezuma quanto na Espanha de antes da conquista, ser rico; mas não se pode comprar status,
ou, em todo caso, não diretamente. Essa homogeneizaçào dos valores pelo di nheiro é um fato novo, e anuncia a mentalidade moderna, igualitarista e economicista.
De qualquer modo, o desejo de enriquecer não expli ca tudo, longe disso; e se é eterno, as formas que toma a destruição dos índios, assim como suas proporções, são
inéditas, e às vezes excepcionais; a explicação aqui é insu ficiente. Não se pode justificar o massacre de Caonao por uma cobiça qualquer, nem o enforcamento das
mães nas árvores, e das crianças nos pés das mães; nem as torturas nas quais a carne das vítimas é arrancada com tenazes, pe daço por pedaço; os escravos não trabalham
mais se o senhor dormir com suas mulheres por sobre suas cabeças. É tudo como se os espanhóis encontrassem um prazer intrín seco na crueldade, no fato de exercer
poder sobre os outros. na demonstração de sua capacidade de dar a morte.
Aqui é possível, mais uma vez, evocar certos traços imutáveis da "natureza humana", para os quais o vocabulá
rio psicanalítico reserva termos tais como "agressividade", "pulsão de morte", ou até "pulsão de domínio" (Bemãchti gungstr instinctjbr niastery ou, em relação à
cruelda de, lembrar diversas características de outras culturas, e inclusive, particularmente da sociedade asteca, que tem a reputação de ser "cruel", e de fazer
pouco caso do núme ro de vítimas (ou então de fazer muito, para vangloriar-se disso!): segundo Durán, 80400 pessoas foram sacrificadas na Cidade do México pelo rei
Ahuitzotl, quando da inau guração do novo templo. É possível também afirmar que cada povo, desde as suas origens até os tempos atuais, possui suas vítimas e conhece
a loucura assassina, e inda gar se esta não é uma característica das sociedades com predomínio masculino (já que são as únicas conhecidas).
Mas seria um erro apagar assim todas as diferenças e limitar-se a termos mais afetivos do que descritivos, como "crueldade', Os assassinatos têm algo em comum com
as ascensões dos vulcões: a cada vez, sobe-se ao topo e vol ta-se; contudo, não se traz a mesma coisa. Assim como foi necessário opor a sociedade que valoriza o
ritual à que fa vorece a improvisação ou, o código e o contexto, caberia aqui falar em sociedades de sacrifício e sociedades de mas sacre, de que os astecas e os
espanhóis do século XVI se riam, respectivamente, os representantes.
O sacrifício é, nessa ótica, um assassinato religioso:
faz-se em nome da ideologia oficial, e será perpetrado em praça pública, à vista e conhecimento de todos. A identi dade do sacrificado é determinada por regras estritas.
Não deve ser estrangeiro demais, afastado demais: vimos que os astecas achavam que a carne das tribos distantes não era comestível para seus deuses, mas tampouco
pode per tencer à mesma sociedade: não se sacrifica um concida dão. Os sacrificados provêm de países limítrofes, que falam a mesma língua mas têm um governo autônomo;
além dis so, uma vez capturados, são mantidos na prisão durante algum tempo, e assim, parcialmente assimilados - mas nun ca completamente. Nem semelhante nem totalmente
dife rente, o sacrificado também é avaliado segundo suas qua
170
171
lidades pessoais: o sacrifício de guerreiros valorosos é mais apreciado do que o do joão-ninguém; inválidos de qual quer tipo são declarados impróprios para o sacrifício,
por princípio. O sacrifício é executado em praça pública, e evi dencia a força dos laços sociais e seu predomínio sobre o ser individual.
O massacre, ao contrário, revela a fragilidade desses laços sociais, o desuso dos princípios morais que assegu ravam a coesão do grupo; então, é executado de preferên
cia longe, onde a lei dificilmente se faz respeitar: para os espanhóis, na América, ou, a rigor, na Itália. O massacre está, pois, intimamente ligado às guerrás
coloniais, feitas longe da metrópole. Quanto mais longínquos e estrangeiros fo rem massacrados, melhor: são exterminados sem remor sos, mais ou menos assimilados
aos animais. A identidade individual do massacrado é, por definição, não pertinente (se não, seria um assassinato): não há nem tempo nem curio sidade de saber quem
se está matando nesse momento. Ao contrário dos sacrifícios, os massacres nunca são rei vindicados, e sua própria existência é geralmente mantida em segredo e negada.
Isso porque sua função social não é reconhecida, e tem-se a impressão de que o ato encontra em si mesmo sua justificação: os sabres são manejados pe lo prazer de
manejar os sabres, corta-se o nariz, a língua e o sexo do índio sem que o mínimo rito se manifeste no espírito do cortador de narizes.
Se o assassinato religioso é um sacrifício, o massacre é um assassinato ateu, e os espanhóis parecem ter inventado (ou redescoberto; mas não emprestado de seu passado
imediato: pois as fogueiras da Inquisição estão mais próxi mas do sacrifício) precisamente esse tipo de violência que, em compensação, é abundante em nosso passado
mais re cente, quer seja no plano da violência individual ou esta tal. É como se os conquistadores obedecessem à regra (se é que podemos chamá-la assim) de Ivan
Karamazov, "tudo é permitido". Longe do poder central, longe da lei real, todos os interditos caem, o liame social, já folgado, arreben ta, para revelar, não uma
natureza primitiva, o animal ador
mecido em cada um de nós, mas um ser moderno, aliás cheio de futuro, que não conserva moral alguma e mata porque e quando isso lhe dá prazer. A "barbárie" dos es
panhóis nada tem de atávico, ou de animal; é bem huma na e anuncia a chegada dos tempos modernos. Na Idade Média, acontecia de mulheres terem os seios cortados e
homens, o braço, por punição ou por vingança; mas se faz isso em seu próprio país, ou tanto dentro quanto fora dele. O que os espanhóis descobrem, é o contraste
entre metró pole e colônia, leis morais radicalmente diferentes regula mentam o comportamento aqui e lá: o massacre precisa de um cenário apropriado.
Mas o que fazer se não quisermos ter de escolher en tre a civilização do sacrifício e a civilização do massacre?
172
173
Igualdade ou desigualdade
O desejo de enriquecer e a pulsão de domínio, essas duas formas de aspiração ao poder, sem dúvida nenhuma motivam o comportamento dos espanhóis; mas este também
é condicionado pela idéia que fazem dos índios, segundo a qual estes lhes são inferiores, em outras palavras, estão a meio caminho entre os homens e os animais.
Sem esta pre missa essencial, a destniição não poderia ter ocorrido.
Desde a sua primeira formulação, essa doutrina da de sigualdade será combatida por uma outra, que, ao contrá rio, afirma a igualdade de todos os homens; assistimos,
pois, a um debate, e será necessário prestar atenção às duas vo zes presentes. Ora, esse debate não põe em jogo somente a oposição igualdade-desigualdade, mas também
aquela entre identidade e diferença; e esta nova oposição, cujos termos não são mais neutros no plano ético do que os da precedente, torna mais difícil julgar as
duas posições. Já vimos em Colombo: a diferença se degrada em desigual dade; a igualdade em identidade; são essas as duas gran des figuras da relaçào com o outro,
que delimitam seu es paço inevitável.
175
Las Casas e outros defensores da igualdade acusaram tão freqüentemente seus adversários de terem tomado os índios por animais, que se pode suspeitar de que houve
exa gero. É, pois, necessário voltar a atenção para os defenso res da desigualdade, para ver como é. O primeiro documen to interessante a esse respeito é o célebre
Requerimiento, ou injunção dirigida aos índios. É obra do jurista real Pa lacios Rubios, e data de 1514; é um texto que surge da necessidade de regulamentar as conquistas,
até então um pouco caóticas. A partir de então, antes de conquistar uma região, é preciso dirigir-se a seus habitantes, fazendo-lhes a leitura desse texto. Quiseram
ver aí o desejo da coroa de impedir as guerras injustificadas, de dar certos direitos aos índios; mas essa interpretação é generosa demais. No contex to de nosso
debate, o Requerimiento está claramente do lado da desigualdade, nele mais implicada do que afirmada.
Esse texto, exemplo curioso de uma tentativa de fuda mentar legalmente a realização dos desejos, começa com uma breve história da humanidade, cujo ponto culminante
é o aparecimento de Jesus Cristo, declarado "chefe da li nhagem humana", espécie de soberano supremo, que tem o universo inteiro sob sua jurisdição. Estabelecido
esse pon to de partida, as coisas se encadeiam naturalmente: Jesus transmitiu seu poder a São Pedro, e este aos papas que o sucederam; um dos últimos papas doou
o continente ame ricano aos espanhóis (e parte aos portugueses). Colocadas as razões jurídicas da dominação espanhola, é necessário certificar-se de uma única coisa:
que os índios serão infor mados da situação, pois é possível que ignorem esses pre sentes sucessivos trocados por papas e imperadores. A lei tura do Requerimiento,
feita na presença de um oficial do rei (mas nenhum intérprete é mencionado), vem sanar este problema. Se os índios ficarem convencidos após essa lei tura, não se
tem o direito de fazê-los escravos (é aí que o texto "protege" os índios, concedendo-lhes um status). Se, contudo, não aceitarem essa interpretação de sua própria
história, serão severamente punidos. "Se não o fizerdes, ou se demorardes maliciosamente para tomar uma decisão, vos
garanto que, com a ajuda de Deus, invadir-vos-ei podero samente e far-vos-ei a guerra de todos os lados e de todos os modos que puder, e sujeitar-vos-ei ao jugo
e à obediên cia da Igreja e de Suas Altezas. Capturarei a vós, vossas mulheres e filhos, e reduzir-vos-ei à escravidão. Escravos, vender-vos-ei e disporei de vós
segundo as ordens de Suas Altezas. Tomarei vossos bens e far-vos-ei todo o mal, todo o dano que puder, como convém a vassalos que não obe decem a seu senhor, não
querem recebê-lo, resistem a ele e o contradizem."
Há uma contradição evidente, que os adversários do Requerimiento não deixarão de sublinhar, entre a essência da religião que supostamente fundamenta todos os direi
tos dos espanhóis e as conseqüências dessa leitura pública:
o cristianismo é uma religião igualitária; ora, em seu nome, os homens são escravizados. Não somente poder espiritual e poder temporal se encontram confundidos,
o que é a ten dência de toda e qualquer ideologia de Estado - que de corra ou não do Evangelho - como, além do mais, os ín dios só podem escolher entre suas posições
de inferiorida de: ou se submetem de livre e espontânea vontade, ou serão submetidos à força, e escravizados. Falar em legalis mo, nessas condições, é derrisório.
Os índios são automa ticamente colocados como inferiores, pois são os espa nhóis que decidem as regras do jogo. A superioridade dos que enunciam o Requerimiento,
pode-se dizer, já está con tida no fato de serem eles os que falam, enquanto os ín dios escutam.
Sabe-se que os conquistadores não tinham nenhum escrúpulo em aplicar como lhes convinha as instruções reais, e punir os índios em caso de insubordinação. Ainda em
1550, Pedro de Valdivia conta ao rei que os aruaques, ha bitantes do Chile, não quiseram submeter-se; conseqüen temente, declarou-lhes guerra e, ganhando, não deixou
de puni-los: "Mandei cortar as mãos e os narizes de duzentos deles para puni-los por insubordinação, já que várias ve zes tinha enviado a eles mensagens e lhes tinha
transmiti do as ordens de Vossa Majestade."
176
177
Nào se sabe exatamente em que língua se exprimiam os mensageiros de Valdivia. e como faziam para tornar in teligível para os índios o conteúdo do Requerimiento.
Mas, em compensação, sabe-se que, em outros casos, os espa nhóis dispensavam conscientemente os intérpretes, já que isso simplificava, em suma, seu trabalho: já
não se coloca va a questão da reação dos índios. O historiador Oviedo, um dos campeões da tese da desigualdade e conquistador ele mesmo, deixou vários escritos a
esse respeito. Come ça-se por agarrar os índios. "Uma vez acorrentados, alguém leu para eles o Requerimiento, sem conhecer sua língua e sem intérpretes; nem o leitor
nem os índios se entendiam. Mesmo depois de alguém que compreendia sua língua lhes ter explicado, os índios não tiveram nenhuma chance de responder, pois foram imediatamente
levados prisionei ros, os espanhóis utilizando o bastão sobre os que não andavam suficientemente depressa" (1, 29, 7).
Quando de uma outra campanha, Pedrarias Davila pede a Oviedo que leia o famoso texto. Este responde a seu ca pitão: "Senhor, parece-me que os índios não querem en
tender a teologia deste Requerimiento, e que não dispon des de ninguém capaz de explicá-lo a eles. Guardai pois convosco o Requerimiento, até encarcerarmos alguns
des ses índios. Lá, poderão calmamente apreendê-lo, e Monse nhor o Bispo lhes explicará" (ibid.).
Como diz Las Casas ao analisar esse documento, não s "se devemos rir ou chorar diante do absurdo" do Requerimiento (Historia, III, 58).
O texto de Palacios Rubios não será mantido como base jurídica da conquista. Porém, marcas mais ou menos atenuadas de seu espírito encontram-se até mesmo nos adversários
dos conquistadores. O exemplo mais interes sante talvez seja o de Francisco de Vitória, teólogo, jurista e professor da Universidade de Salamanca, uma das sumi dades
do humanismo espanhol do século XVI. Vitória des trói as justificativas comumente apresentadas para as guer ras feitas na América, mas concebe, todavia, a possibilida
de de "guerras justas". Entre as razões que podem levar a
elas, dois tipos são particularmente interessantes para nós. Há, por um lado, as que se baseiam na reciprocidade: apli cam-se indiferentemente a índios e a espanhóis.
É o caso da violação daquilo que Vitória chama de "o direito natu ral de sociedade e de comunicaçào" (Dos Indios, 3, 1, 230). Esse direito à comunicação pode ser
entendido em vários níveis. Inicialmente, é natural que as pessoas possam cir cular livremente fora de seu país de origem, deve ser "per mitido a todos ir e viajar
a todos os países que quiserem" (3, 2, 232). Pode-se igualmente exigir a liberdade de co mércio, e Vitória relembra aqui o princípio da reciprocida de: "Os príncipes
indígenas não podem impedir seus vas salos de comerciarem com os espanhóis e, inversamente, os príncipes espanhóis não podem proibir o comércio com os índios" (3,
3, 245). No que se refere à circulação das idéias, Vitória só pensa, evidentemente, na liberdade, para os espanhóis, de pregar o Evangelho para os índios, nunca
na liberdade dos índios para divulgar o Popol Vub na Es panha, pois a "salvação" cristã é, para ele, um valor abso luto. Não obstante, esse caso pode ser assimilado
aos dois precedentes.
Em compensação, o mesmo não acontece com um ou tro grupo de razões que Vitória avança para justificar as guerras. Considera uma intervenção lícita se for feita em
nome da proteção dos inocentes contra a tirania dos che fes ou das leis indígenas, que consiste "por exemplo, em sa crificar homens inocentes ou até mesmo executar
homens não culpados para comê-los" (3, 15, 290). Tal justificação da guerra é muito menos evidente do que gostaria Vitória, e, em todo caso, não diz respeito à reciprocidade:
mesmo que essa regra se aplicasse indiferentemente a índios e a espanhóis, são estes últimos que decidem o sentido da pa lavra "tirania", e é isso o essencial. Os
espanhóis, à dife rença dos índios, não sào unicamente parte mas também juiz, já que são eles que escolhem os critérios segundo os quais o julgamento será pronunciado;
decidem, por exem plo, que o sacrifício humano diz respeito à tirania, mas o massacre não.
178
179
Tal distribuição dos papéis implica que não há verda deira igualdade entre espanhóis e índios. Na verdade, Vi tória não dissimula; sua última justificativa da guerra
con tra os índios é perfeitamente clara a esse respeito (apesar de ser apresentada de modo dubitativo). "Embora esses bár baros não sejam completamente loucos, escreve,
não es tão longe disso. (...) Não são ou já não são mais capazes de se auto-governarem do que loucos ou até animais sel vagens e bichos, haja visto que sua alimentação
não é mais agradável e só ligeiramente melhor do que a dos ani mais selvagens." Sua estupidez, acrescenta, "é muito maior do que a das crianças e dos loucos dos
outros países" (3, 18, 299-302). É portanto lícito intervir em seu país para exercer um direito de tutela. Mas, admitindo que se deve impor o bem aos outros, quem,
mais uma vez, decide o que é harbárie ou selvageria e o que é civilização? Somente uma das partes presentes, entre as quais nào há mais nenhuma igualdade ou reciprocidade.
Tornou-se um hábito ver em Vitória um defensor dos índios; mas, se interrogarmos o im pacto de seu discurso, em vez das intenções do sujeito, fica claro que seu
papel é outro: com o pretexto de um direito internacional fundado na reciprocidade, fornece, na verda de, uma base legal para as guerras de colonização, que até
então não tinham nenhuma (em todo caso, nenhuma que resistisse a um exame um pouco mais sério).
Ao lado dessas expressões jurídicas da doutrina da de sigualdade, encontram-se outras, em grande quantidade, nas cartas, relatórios ou crônicas da épocà; todas tendem
a apresentar os índios como imperfeitamente humanos. Es colho dois testemunhos entre mil, simplesmente porque seus autores são um religioso e um homem de letras
e ciências, o que quer dizer que representam os grupos so ciais que são, geralmente, os que demonstram maior boa vontade em relação aos índios. O dominicano Tomas
Ortiz escreve ao Conselho das Índias:
"Comem carne humana na terra firme. São sodomitas mais do que qualquer outra nação. Não há justiça entre eles. Andam completamente nus. Não respeitam nem o amor
nem a virgindade. São estúpidos e tontos. Só respeitam a verdade quando lhes é favorável; são inconstantes. Não fazem idéia do que seja a previdência. São muito
ingratos e amantes das novidades. (...) São brutais. Gostam de exa gerar seus defeitos. Não há entre eles nenhuma obediên cia, nenhuma complacência dos jovens para
com os velhos, dos filhos para com os pais. São incapazes de receber li ções, Os castigos de nada adiantam. (...) Comem piolhos, aranhas e vermes, sem cozê-los,
e onde quer que os en contrem. Não praticam nenhuma das artes, nenhuma das indústrias humanas. Quando se lhes ensinam os mistérios da religião, dizem que essas coisas
convêm aos castelha nos, mas não valem nada para eles e que não querem mu dar seus costumes. Não têm barba e, se por ventura ela cresce, arrancam-na e depilam-na.
(...) Quanto mais enve lhecem, piores ficam. Lá pelos dez ou doze anos, pensa mos que terão alguma civilidade, alguma virtude, porém, mais tarde transformam-se em
verdadeiras bestas brutas. Assim posso afirmar que Deus nunca criou raça mais cheia de vícios e de bestialidade, sem mistura alguma de bonda de e de cultura. (...)
Os índios são mais idiotas do que os asnos, e não querem fazer esforço no que quer que seja" (Pierre Martyr, VII, 4).
Esse texto, parece-me, dispensa comentários.
O segundo autor é, mais uma vez, Oviedo, fonte rica de julgamentos xenófohos e racistas: nele os índios não são reduzidos ao nível do cavalo ou do asno (ou mesmo
logo abaixo), mas colocados nalguma parte junto aos ma teriais de construção, madeira, pedra ou ferro, de qualquer modo, com os objetos inanimados. Ele tem um modo
tão extraordinário de formular as coisas, que dificilmente se acreditaria não ser irônico; mas não, não é: "Quando se guerreia contra eles e se combate face a face,
é preciso ser muito prudente para não atingi-los na cabeça com a espada, pois vi muitas espadas serem quebradas desse modo. Seus crânios são espessos e também muito
fortes" (V, "Prefá cio", cf. VI, 9). Não surpreenderá o fato de Oviedo ser, na verdade, partidário da "solução final" do problema indíge
180
181
na, solução cuja responsabilidade ele gostaria que o Deus dos cristãos assumisse. "Deus destruí-los-á em breve" pro clama com segurança, e também "Satã agora foi
expulso dessa ilha [ toda a sua influência desapareceu agora que a maioria dos índios está morta. (...) Quem pode negar que usar pólvora contra os pagáos é oferecer
incen so a Nosso Senhor?"
O debate entre partidários da igualdade e da desigual dade dos índios e dos espanhóis atingirá seu apogeu, e encontrará ao mesmo tempo uma encarnação concreta, na
célebre controvérsia de Valladolid que, em 1550, opõe o erudito e filósofo Gines de Sepúlveda ao padre dominica no e bispo de Chiapas, Bartolomé de Las Casas. A
própria existência desse confronto tem algo de extraordinário. Geral mente, esse tipo de diálogo se estabelece entre livros, e os protagonistas não ficam um diante
do outro. Porém, justa mente, foi recusado a Sepúlveda o direito de imprimir seu tratado consagrado às justas causas das guerras contra os índios buscando uma espécie
de julgamento de recurso, Sepúlveda provoca um encontro diante de um grupo de doutos, juristas e teólogos; Las Casas se propõe a defender o ponto de vista oposto
nessa justa oratória. É difícil ima ginar o espírito que permite que os conflitos ideológicos sejam solucionados por diálogos assim. Aliás, o conflito não será realmente
solucionado: depois de ouvir longos discursos (especialmente o de Las Casas, que dura cinco dias), os juízes, exaustos, se separam, e no fim não tomam nenhuma decisão;
a balança pende, no entanto, para o lado de Las Casas, pois Sepúlveda não obtém autorização para publicar seu livro.
Sepúlveda se baseia, em sua argumentação, numa tra dição ideológica, na qual os outros defensores da tese da desigualdade também vão buscar seus argumentos. Desta
quemos entre esses autores aquele que essa tese reivindi ca - com razão - como patrono: Aristóteles. Sepúlveda tra duziu a Política para o latim, e é um dos maiores
especia listas de seu tempo no pensamento aristotélico; ora, não é Aristóteles, justamente na Política, que estabelece a céle
bre distinção entre os que nasceram senhores e os que nasceram escravos? Quando os homens diferem entre si tanto quanto a alma difere do corpo e um homem de um bruto
(...), estes são por natureza escravos (...). É efetiva mente escravo por natureza aquele (...) que recebe da razão um quinhão somente na medida em que está impli
cada na sensação, mas sem possuí-la plenamente" (1254 b). Um outro texto mencionado freqüentemente é um tra tado, De Regimine, atribuído na época a São Tomás de
Aquino, mas que na verdade é de autoria de Ptolomeu de Lucas, que acrescenta à afirmação da desigualdade uma ex plicação já antiga, que, no entanto, tem muito futuro:
de ve-se procurar a razão da desigualdade na influência do clima (e na dos astros).
Sepúlveda acha que a hierarquia, e não a igualdade, é o estado natural da sociedade humana. Mas a única rela ção hierárquica que conhece é a da simples superioridade-
inferioridade; não há, pois, diferenças de natureza, mas ape nas graus diversos numa única escala de valores, ainda que a relação possa repetir-se ad infinitum.
Seu diálogo De mocrates Alter, aquele para o qual não conseguem obter o imprimatur, expõe claramente suas opiniões a esse res peito. Inspirado nos princípios e afirmações
particulares que encontra na Política de Aristóteles, declara que todas as hierarquias, apesar das diferenças de forma, baseiam-se num único princípio: "o domínio
da perfeição sobre a imperfeição, da força sobre a fraqueza, da eminente virtu de sobre o vício" (p. 20). Parece óbvio, como se se tratas se de uma "proposição analítica";
no momento seguinte, Sepúlveda, mantendo o espírito aristotélico, dá exemplos dessa superioridade natural: o corpo deve subordinar-se à alma, a matéria à forma,
os filhos aos pais, a mulher ao homem e os escravos (definidos tautologicamente como seres inferiores) aos senhores. Mais um passo e justifica-se a guerra de conquista
contra os índios: "Em prudência como em habilidade, e em virtude como em humanidade, esses bárbaros são tão inferiores aos espanhóis quanto as crian ças aos adultos
e as mulheres aos homens; entre eles e os
182
183
espanhóis, há tanta diferença quanto entre gente feroz e gente de uma extrema demência, entre gente prodigiosa- mente intemperante e seres temperantes e comedidos,
e, ousaria dizer, tanta diferença quanto entre os acacos e os homens" (ibid., p. 33; a última parte da frase está ausente em certos manuscritos).
Todas as oposições que constituem o universo mental de Sepúlveda têm, finalmente, o mesmo conteúdo; e as afirmações acima poderiam ser reescritas como uma cadeia
interminável de proporções:
ÍNDIOS -
ESPANHÓIS -
CRIANÇAS (FILHO)_-
ADULTOS (PAI)
MULHER (ESPOSA)
HOMEM (ESPOSO) -
ANIMAIS_(MACACOS) =
HUMANOS
FEROCIDADE -
CLEMÊNCIA
INTEMPERANÇA
TEMPERANÇA -
MATÉRIA -
FORMA
CORPO -
ALMA
184
APETITE -
RAZÃO
MAL -
BEM -
Nem todos os partidários da desigualdade têm um pen samento assim tão esquemático; vê-se que Sepúlveda junta todas as hierarquias e todas as diferenças na simples
opo sição do bom e do mau, o que quer dizer que, no final, arranja-se bem com o princípio da identidade (em vez do da diferença). Mas a leitura dessas oposições
em cadeia tam bém é instrutiva. Inicialmente, coloquemos de lado a opo sição onde afirmar a superioridade do segundo termo so bre o primeiro é tautologia: mal/bem;
as que valorizam um determinado comportamento (demência, temperança); e finalmente, as que se baseiam numa diferença biológica clara: animais/homens ou crianças/adultos.
Restam duas sé ries de oposições: as que giram em torno do par corpo alma e as que opóem partes da população do globo cuja diferença é evidente, mas a superioridade
ou inferioridade problemática: índios espanhóis, mulheres/homens. E sem dúvida revelador encontrar os índios assimilados às mu lheres, o que prova a passagem fácil
do outro interior ao outro exterior (já que é sempre um homem espanhol que fala); lembramo-nos, aliás, de que os índios faziam uma dis tribuição simétrica e inversa:
os espanhóis eram assimila dos às mulheres, pelo viés da palavra, na fala dos guerreiros astecas. É inútil especular para saber se foi projetada no estrangeiro a
imagem da mulher ou, antes, na mulher os traços do estrangeiro: os dois sempre estiveram presentes, e o que importa é sua solidariedade, e não a anterioridade de
um ou de outro. Colocar em equivalência essas duas opo sições e o grupo relativo ao corpo e à alma é igualmente revelador: antes de mais nada, o outro é nosso próprio
cor po; daí também a assimilação dos índios e mulheres aos animais, àqueles que, apesar de animados, não têm alma.
Todas as diferenças se reduzem, para Sepúlveda, a algo
que não é uma diferença, a superioridade inferioridade, o
1 8'
bem e o mal. Vejamos agora em que consistem seus argu mentos em favor da justa guerra feita pelos espanhóis. Quatro razões tornam uma guerra legítima (parafraseio
seu discurso de Valladolid, mas os mesmos argumentos encon tram-se em Democrates Alter):
1. É legítimo sujeitar pela força das armas homens cuja condição natural é tal que deveriam obedecer aos outros, se recusarem essa obediência e não restar ne nhum
outro recurso.
2. É legítimo banir o crime abominável que consiste em comer carne humana, que é uma ofensa parti cular à natureza, e pôr fim ao culto dos demônios, que provoca
mais que nada a cólera de Deus, com o rito monstruoso do sacrifício humano.
3. É legítimo salvar de graves perigos os inumeráveis mortais inocentes que esses bárbaros imolavam todos os anos, apaziguando seus deuses com corações hu manos.
4. A guerra contra os infiéis é justificada, pois abre ca minho para a difusão da religião cristã e facilita o trabalho dos missionários.
Pode-se dizer que essa argumentação reúne quatro proposições descritivas acerca da natureza dos índios a um postulado que é também um imperativo moral. As pro posições
São: os índios são por natureza submissos; prati cam o canibalismo; sacrificam seres humanos; ignoram a religião cristã. Quanto ao postulado-prescrição, é: temos
o direito, se não o dever, de impor o bem aos outros. Talvez seja necessário precisar desde já que nós mesmos decidi mos o que é o bem e o mal; temos o direito de
impor aos outros o que nós consideramos como um bem, sem nos preocuparmos em saber se é também um bem do ponto de vista deles. Esse postulado implica, portanto,
uma pro jeção do sujeito enunciante sobre o universo, uma identifi cação entre meus valores e os valores.
Nào se pode julgar do mesmo modo as proposições descritivas e o postulado prescritivo. As proposições, que estão ligadas à realidade empírica, podem ser contestadas
ou completadas; na realidade não estão, nesse caso espe cífico, muito afastadas da verdade. É incontestável que os astecas não são cristãos, que praticam o canibalismo
e o sacrifício humano. Até mesmo a proposição sobre a ten dência natural à obediência não é completamente despro vida de veracidade, embora sua formulação seja evidente
mente tendenciosa: certamente os índios nào têm a mes ma relação com o poder que os espanhóis; que, justamen te, o mero par superioridade/inferioridade tem, para
eles, menos importância do que a integração na hierarquia glo bal da sociedade.
Não acontece o mesmo com o postulado, que não diz respeito à verificação e ao mais-ou-menos, e sim à fé, ao tudo-ou-nada; é um princípio, que constitui a base da
ideo logia que opera em Sepúlveda, e por isso não pode ser discutido (mas somente recusado ou aceito). Ele tem em mente esse postulado quando avança o seguinte argumen
to: Como diz Santo Agostinho (epístola 75), a perda de uma só alma morta sem o batismo ultrapassa em gravida de a morte de inumeráveis vítimas, ainda que fossem
ino centes" (Democrates, p. 79). Esta é a concepção "clássica':
há um valor absoluto, que neste caso é o batismo, o fazer parte da religião cristã; a aquisição desse valor tem prece dência sobre aquilo que o indivíduo considera
como seu bem supremo, a saber, a vida. Isso porque a vida e a morte do indivíduo são, justamente, bens pessoais, ao passo que o ideal religioso é um absoluto, ou
melhor, um bem social. A diferença entre o valor comum, transindividual, e o valor pessoal, é tão grande, que permite uma variação quantita tiva inversa nos termos
aos quais esses valores estão liga dos: a salvação de um justifica a morte de milhares.
Antecipando a continuação, podemos lembrar aqui que Las Casas, enquanto adversário coerente e sistemático de Sepúlveda, recusaria precisamente esse princípio, no
que talvez não traia o cristianismo em particular, mas a essência da religião em geral, já que ela consiste na afirmação de valores transindividuais, e assim abandona
a posição "clás sica" para anunciar a dos "modernos". Escreve ("Entre los
186
187
remedios", 20): ' uma grande desordem e um pecado mortal jogar uma criança no poço para batizá-la e salvar sua alma se assim ela morresse.' Não somente a morte de
milhares de pessoas não se justifica pela salvação de uma pessoa; a morte de um só passa a pesar mais do que sua salvação. O valor pessoal - a vida, a morte - passa
a ter precedência sobre o valor comum.
Em que medida o quadro ideológico de Sepúlveda permite que ele perceba os traços específicos da socieda de indígena? Num texto posterior à controvérsia de Val ladolid
(mas semelhante a ela no espírito), "Do reino e dos deveres do rei", escreve: "Os maiores filósofos declaram que tais guerras podem ser travadas por uma nação muito
civilizada contra gente não civilizada, que são mais bárba ros do que se possa pensar, pois falta-lhes absolutamente qualquer conhecimento das letras, ignoram o
uso do dinhei ro, geralmente andam nus, inclusive as mulheres, e carre gam fardos sobre os ombros e as costas, como animais, por longos percursos. E eis as provas
de sua vida selvagem, semelhante à dos animais: suas imolações execráveis e prodigiosas de vítimas humanas para os demônios; o fato de se alimentarem de carne humana;
de enterrarem vivas as mulheres dos chefes com os maridos mortos, e outros crimes semelhantes" (1, 4-5).
O retrato que Sepúlveda esboça é do maior interesse, tanto por cada um dos traços que o compõem quanto por sua combinação. Sepúlveda é sensível às diferenças, chega
a procurá-las; por isso reúne algumas das características mais marcantes das sociedades indígenas; é curioso cons tar que, ao fazê-lo, Sepúlveda recupera algumas
descri ções idealizadas dos índios (a ausência de escrita, de di nheiro, de roupas), e ao mesmo tempo inverte-lhes o sinal. O que faz com que precisamente esses
traços sejam reuni dos? Sepúlveda não diz, mas pode-se pensar que tal reunião não se deve ao acaso. A presença de tradição oral em vez de escrita, indica o papel
diferente que é destinado em cada caso à presença e à ausência em geral: a escrita, por opo sição à palavra, permite a ausência dos locutores; por oposi
ção à imagem, a do objeto designado, até e inclusive em sua forma; a memorização necessária das leis e transições, imposta pela ausência de escrita, determina, como
vimos, a predominância do ritual sobre a improvisação. É seme lhante o caso da ausência de dinheiro, esse equivalente universal que dispensa a necessidade de justapor
os bens que são trocados. A ausência de roupas, se fosse verifica da, por um lado, que o corpo está sempre presente, não sendo ocultado dos olhares; por outro lado,
que não há diferença entre situação privada e pública, íntima e social, isto é, o não-reconhecimento do estatuto singular do ter ceiro. Finalmente, a falta de animais
de carga deve ser pos ta no mesmo plano que a ausência de ferramentas: é sobre o corpo humano que recai o cumprimento de determina das tarefas, em vez de essa função
ser atribuida a um auxi liar, animado ou não; a pessoa física em vez do interme diário.
Pode-se, pois, procurar o traço subjacente da socieda de descrita que é responsável por essas diferenças, e voltar assim à reflexão esboçada acerca do comportamento
sim bólico: tínhamos constatado que os discursos dependiam, de certo modo, "demais" de seu referente (a famosa inca pacidade de mentir, ou de dissimular) e que havia
uma certa insuficiência na concepção que os astecas tinham do outro. As "provas" recolhidas por Sepúlveda apontam para a mesma insuficiência: o canibalismo, o sacrifício
humano, o enterro da esposa, todos implicam que não se reconhece plenamente ao outro o estatuto de humano, simultanea mente semelhante e diferente. Ora, a pedra
de toque da alteridade não é o tu presente e próximo, mas o ele ausente ou afastado. Nos traços destacados por Sepúlveda encon tramos também uma diferença no lugar
ocupado pela au sência (se é que ela pode ocupar lugar): o intercâmbio oral, a falta de dinheiro e de roupas, assim como de ani mais de carga, implicam uma predominância
da presença sobre a ausência, do imediato sobre o medàto. É exata mente nesse ponto que se pode ver como se cruzam o te ma da percepção do outro e do comportamento
simbólico
188
189
(ou semiótico), que me preocupam simultaneamente ao longo de toda esta pesquisa: num certo grau de abstração os dois se confundem. A linguagem só existe pelo outro,
não somente porque sempre se fala a alguém, mas tam bém na medida em que permite evocar o terceiro, ausente; à diferença dos animais, os homens conhecem a citação.
Mas a própria existência desse outro pode ser medida pelo lugar que lhe reserva o sistema simbólico: não é o mesmo, para evocar apenas um exemplo sólido, e agora
familiar, antes e depois do advento da escrita (no sentido estrito). De modo que qualquer pesquisa sobre a alteridade é ne cessariamente semiótica; e reciprocamente:
a semiótica não pode ser pensada fora da relação com o outro.
Seria interessante fazer uma aproximação entre os tra ços da mentalidade asteca destacados e o que uma forma de sacrifício, evocada por Durán, ensina acerca do funcio
namento do simbólico: "Quarenta dias antes da festa, um índio era vestido como o ídolo, com os mesmos adereços, de modo que aquele escravo índio vivo representasse
o ídolo. Após ter sido purificado, era honrado e celebrado durante quarenta dias, como se fosse o próprio ídolo. (...) Depois de os deuses serem sacrificados, eram
todos esfola dos rapidamente (...). O coração era arrancado e oferecido a leste, e depois os esfoladores, cuja função era essa, tra ziam o corpo morto novamente
para baixo e fendiam-no da nuca até os calcanhares, esfolando-o como um cordei ro. A pele saía inteira. (...) Os outros índios vestiam ime diatamente as peles e
em seguida adotavam o nome dos deuses representados. Por sobre as peles traziam os adere ços e as insígnias das mesmas divindades, cada homem recebia o nome do deus
que representava e se considera va divino" (1, 9; cf. fig. 10).
Num primeiro momento, portanto, o prisioneiro lite ralmente torna-se o deus: recebe seu nome, aparência, in sígnias e tratamento; pois para absorver o deus, será
preci so sacrificar e consumir seu representante. Contudo, são os homens que decidiram essa identificaçào, e não esquecem isso, já que recomeçam todos os anos. E
agem como se
190
confundissem o representante com aquilo que ele repre senta: o que começa como uma representação acaba em participação e identificação; parece faltar a distância
neces sária para o funcionamento simbólico. De resto, para se iden tificar a um ser ou a uma de suas propriedades (mulheres são freqüentemente esfoladas em ritos
ligados à fertilida de), veste-se, literalmente, sua pele. Isso faz pensar na prá tica das máscaras, que podem ser feitas à semelhança de um indivíduo. Porém a máscara,
justamente, se parece com, mas não faz parte daquele que representa. Neste caso, o próprio objeto da representação permanece, pelo menos na aparência (a pele); o
simbolizante não está realmente separado de seu simbolizado. Tem-se a impressão de que uma expressão figurada foi tomada ao pé da letra, que se encontra a presença
onde era esperada a ausência; curio samente, temos a fórmula "se pôr na pele de alguém", o que não implica que sua origem seja um rito de esfolamento humano.
Fazendo este levantamento das características do com portamento simbólico dos astecas sou levado a constatar não somente a diferença entre duas formas de simboliza
ção, como também a superioridade de uma em relação à outra; ou melhor, e para ser mais preciso, sou levado a dei xar a descrição tipológica, para me referir a um
esquema evolutivo. Será que isso significaria adotar, pura e simples mente, a posição dos desigualitaristas? Penso que não. Há um campo no qual a evolução e o progresso
não podem ser postos em dúvida: é, grosso modo, o da técnica. É in contestável que um machado de bronze ou de ferro corta melhor do que um machado de madeira ou
de pedra; que o uso da roda reduz o esforço físico necessário. Ora, essas invenções técnicas não surgem do nada: são condiciona das (sem serem diretamente determinadas)
pela evolução do aparelho simbólico próprio do homem, evolução que podemos igualmente observar em determinados compor tamentos sociais. Existe uma "tecnologia" do
simbolismo, que é tão suscetível de evolução quanto a tecnologia dos utensílios, e nessa perspectiva os espanhóis são mais "avan 192
çados" do que os astecas (ou, generalizando: as socieda des com escrita mais do que as sociedades sem escrita), ainda que se trate unicamente de uma diferença de
grau.
Mas voltemos a Sepúlveda. Seria tentador ver nele os germes de uma descrição etnológica dos índios, facilitada pela atenção que dá às diferenças. Porém, é necessário
acrescentar em seguida que, já que as diferenças sempre se reduzem, para ele, a uma inferioridade, sua descrição per de muito do seu interesse. Não somente porque
a curiosi dade de Sepúlveda em relação aos índios é fraca demais para que, uma vez demonstrada a "inferioridade", ele pos sa indagar acerca das razões das diferenças;
nem sim plesmente porque seu vocabulário é carregado de julga mentos de valor ("não civilizados", "bárbaros", "animais"), em vez de visar à descrição; mas também
porque seu pre conceito contra os índios vicia as informações nas quais a demonstração se baseia. Sepúlveda contenta-se em buscar suas informações em Oviedo, que
já é violentamente an tiíndio, e nunca leva em conta as nuanças e as circunstân cias. Por que culpar os índios pela ausência de animais de carga (em vez de constatá-lo
simplesmente), já que o cava lo e o burro, a vaca e o camelo são desconhecidos no con tinente americano: que animais os índios podiam utilizar? Os próprios espanhóis
não conseguem resolver o proble ma rapidamente, e vimos que o número de vítimas entre os carregadores só aumentou depois da conquista. A au sência de roupas, observada
por Colombo no Caribe, não caracterizava, evidentemente, os habitantes do México, que, ao contrário, possuíam, como vimos, modos refinados, admirados por Cortez
e seus camaradas. A questão do di nheiro, assim como a da escrita, também é mais complexa. As informações de Sepúlveda são, portanto, falseadas por seus julgamentos
de valor, pela assimilação da diferença à inferioridade; contudo, o retrato que fornece dos índios continua a ter interesse.
Se a concepção hierárquica de Sepúlveda podia ser colocada sob o patronato de Aristóteles, a concepção igua 193
a-
litarista de Las Casas merece ser apresentada, o que aliás foi feito na época, como proveniente dos ensinamentos do Cristo. O próprio Las Casas diz, em seu discurso
de Vai ladolid: "Adeus, Aristóteles! O Cristo, que é a verdade eterna, deixou-nos este mandamento: 'Amarás ao próximo como a ti mesmo.' (...) Apesar de ter sido
um filósofo profundo, Aristóteles não era digno de ser salvo e de chegar a Deus pelo conhecimento da verdadeira fé" (Apologia, 3).
Não que o cristianismo ignore as oposições, ou as de sigualdades; mas aqui a oposição fundamental é a que exis te entre crente e descrente, cristão e não-cristão;
ora, todos, sem exceção, podem tornar-se cristãos: as diferenças de fa to não correspondem a diferenças de natureza. O mesmo não se dá com a oposição senhor-escravo
derivada de Aristóteles: o escravo é um ser intrinsecamente inferior, pois falta-lhe, ao menos em parte, a razão, que é justamen te o que define o homem, e que não
pode ser adquirida, como a fé. A hierarquia é irredutível nesse segmento da tradição greco-romana, assim como a igualdade é um prin cípio inabalável da tradição
cristã; estas duas componentes da civilização ocidental, aqui extremamente simplificadas, confrontam-se diretamente em Valladolid. Os patronos rei vindicados por
cada uma delas têm, evidentemente, um va lor essencialmente emblemático: não esperemos que aqui se faça justiça às complexidades da doutrina cristã ou às sutilezas
da filosofia de Aristóteles.
Las Casas também não é o único a defender os direi tos dos índios, e a proclamar que eles não podem, em hi pótese alguma, ser escravizados; na verdade, a maior parte
dos documentos oficiais emitidos pela coroa fazem o mes mo. Vimos os reis negarem a Colombo o direito de vender os índios como escravos, e o célebre testamento de
Isabel afirma que eles não devem ser, de maneira nenhuma, pre judicados. Uma ordem de Carlos V, datada de 1530, é par ticularmente explícita: "Que ninguém ouse escravizar
ne nhum índio, no decorrer de uma guerra ou em tempo de paz; nem manter nenhum índio escravo sob pretexto de aquisição por guerra justa, ou de resgate, ou de compra
ou
de troca, ou sob qualquer título ou pretexto que seja, mes mo se se tratar de índios que os próprios nativos dessas ilhas e dessas terras continentais consideram
como escra vos". As Leyes Nuevas, relativas ao governo das colônias espanholas, de 1542, serão redigidas no mesmo espírito (e provocam um verdadeiro clamor entre
os colonos e con quistadores da América).
Do mesmo modo, na bula papal de 1537, Paulo III afir ma: "A Verdade (...) diz, ao enviar os pregadores da fé pa ra que cumpram este preceito: 'Vai e faz discípulos
em todas as nações'. Ele diz 'todas' sem nenhuma distinção, já que todos são capazes de receber a disciplina da fé. (...) Os índios, sendo verdadeiros homens, (...)
não podem de modo algum ser privados de sua liberdade ou da posse de seus bens." Esta afirmação decorre dos princípios cristãos fundamentais: Deus criou o homem
à sua imagem, ofen der o homem é ofender Deus.
Las Casas adota essa posição, e lhe dá uma expressão mais ampla, colocando a igualdade como fundamento de qualquer política humana: "As leis e as regras naturais
e os direitos do homem são comuns a todas as nações, cristã ou gentílica, e qualquer que seja a seita, lei, estado, cor e condição, sem nenhuma diferença." E dá
ainda mais um passo, que consiste não somente em afirmar a igualdade abstrata, mas em precisar que se trata realmente de uma igualdade entre nós e os outros, espanhóis
e índios; daí a freqüência, em seus escritos, de fórmulas do gênero: "To dos os índios que ali se encontram devem ser considera dos livres: pois na realidade o são,
pelo mesmo direito que faz com que eu mesmo seja" ("Carta ao Príncipe Felipe", 20.4.1544). Consegue tornar seu argumento particularmen te concreto recorrendo facilmente
à comparação que colo ca os índios no lugar dos espanhóis: "Se os mouros ou tur cos tivessem vindo fazer [ índiosl o mesmo Requerimien to, afirmando que Maomé é
senhor e criador do mundo e dos homens, será que teriam de acreditar neles?" (Historia, III, 58).
Mas essa afirmação da igualdade dos homens se faz em nome de uma religião particular, o cristianismo, e esse
194
195
particularismo não é reconhecido. Há, conseqüentemente, um perigo potencial de ver afirmar, não somente a natureza humana dos índios, mas também sua "natureza" cristã.
"As leis e as regras naturais e os direitos dos homens dizia Las Casas; mas quem decide o que é natural em matéria de leis e direitos? Não seria justamente a religião
cristã? Já que o cristianismo é universalista, implica uma indiferença essencial de todos os homens. Vemos delinear-se o perigo da assimilação neste texto de São
João Crisóstomo, citado e defendido em Valladolid: "Assim como não há nenhuma diferença natural na criação dos homens, tampouco há di ferença no apelo para salvar
todos eles, sejam bárbaros ou sábios, pois a graça divina pode corrigir o espírito dos bár baros de modo que tenham um entendimento razoável" (Apologia, 42).
A identidade biológica passa a acarretar uma espécie de identidade cultural (diante da religião): todos são cha mados pelo Deus dos cristãos, e é um cristão que
decide qual o sentido da palavra "salvar". Num primeiro momen to, Las Casas constata que, do ponto de vista doutrinário, a religião cristã pode ser adotada por todos.
"Nossa religião cristã convém igualmente a todas as nações do mundo, está aberta a todos do mesmo modo; e, sem tirar de ne nhuma delas a liberdade ou a soberania,
não põe nenhu ma delas em estado servil, com o pretexto de distinguir entre homens livres e servos por natureza" (discurso pro ferido por volta de 1520, diante do
rei; Historia, III, 149). Mas em seguida afirma que todas as nações são destinadas à religião cristã, dando o passo que separa o potencial do ato: "Nunca houve geração,
ou povo, ou língua entre os homens criados (...), e menos ainda desde a Encarnação e Paixão do Redentor (...), que não pudesse ser incluída entre os predestinados,
isto é, entre os membros do corpo místico de Jesus Cristo, que, como diz São Paulo, é a Igre ja" (Historia, 1, "Prólogo"). "A religião cristã, que é o cami nho universal,
foi dada pela misericórdia divina a todos os povos, para que abandonem os caminhos e as seitas da infidelidade" (ibid., 1, 1).
E é como observação empírica que aparecerá a afir mação, incansavelmente repetida, de que os índios já pos suem traços cristãos e que aspiram ao reconhecimento de
sua cristandade um tanto quanto "selvagem": "Jamais foi vista em outras épocas ou em outros povos tanta capacida de, tanta disposição ou facilidade para essa conversão.
(...) Não há no mundo nação tão dócil nem menos refratária, nem mais apta ou mais disposta do que estas a receber o jugo do Cristo" ("Carta ao Conselho das Índias",
20.1.1531). "Os índios são tão doces e tão decentes que, mais do que qualquer outra nação de todo o mundo, estão inclinados e prontos a abandonar a adoração dos
ídolos e aceitar, pro víncia por província e povo por povo, a palavra de Deus e a pregação da verdade" (Apologia, 1).
O traço mais característico dos índios, segundo Las Ca sas, é sua semelhança com os cristãos... O que encontra mos, além disso, em seu retrato? Os índios são dotados
de virtudes cristãs, são obedientes e pacíficos. Eis aqui algumas formulações extraídas de várias obras, escritas em momen tos diferentes de sua carreira: "Estes
povos, tomados em conjunto, são, por natureza, só meiguice, humildade e po breza, sem defesa ou armas, sem a menor malícia, toleran tes e pacientes como ninguém
no mundo" (Historia, 1, "Prólogo"). "Muito obedientes e muito virtuosos, natural mente pacíficos" (Relación, "De los remos ). "São, em sua grande maioria, de natureza
pacífica, meiga, inofensiva" ("Objeções a Sepúlveda"). "Os índios, (...) naturalmente meigos e humildes" ("Carta a Carranza", agosto de 1555).
A percepção que Las Casas tem dos índios não é mais nuançada do que a de Colombo, no tempo em que este acreditava no "bom selvagem", e Las Casas quase admite que
projeta sobre eles seu ideal: "Os lucayos (...) viviam realmente como a gente da Idade do Ouro, uma vida que poetas e historiadores tanto louvaram", escreve, ou
ainda, a propósito de um índio: "Tinha a impressão de ver nele nosso pai Adão, no tempo em que vivia no estado de ino cência" (Historia, III, 44 e 45). Essa monotonia
dos adjeti vos é ainda mais impressionante na medida em que lemos
196
197
aí descrições que, além de terem sido escritas em momentos diferentes, descrevem populações distintas, e até distantes entre si, da Flórida ao Peru; ora, são todas,
invariavelmen te, "'meigas e pacificas". Ele chega a percebê-lo, às vezes, mas não se atém a isso: "Embora em algumas coisas seus ritos e costumes sejam diferentes,
pelo menos nisso todos, ou quase todos, se assemelham: são simples, pacíficos, amáveis, humildes, generosos, e, de todos os descenden tes de Adão, sem exceção, os
mais pacientes. Também são os mais dispostos a serem trazidos ao conhecimento da fé e de seu Criador, não lhe opondo nenhum obstáculo" (His toria, 1, 76). Uma outra
descrição, no "Prefácio" da Rela ción, também é reveladora a esse respeito: "Todos esses povos universais e inumeráveis, de todos os tipos, foram criados por Deus
extremamente simples, sem maldade ou duplicidade, muito obedientes e muito fiéis a seus senho res naturais e aos cristãos que servem, os mais humildes, os mais pacientes,
os mais pacíficos e tranqüilos que há no mundo; sem rancor nem exagero, nem violentos nem bri guentos, sem ressentimentos, sem ódio, sem desejo de vingança." É interessante
ver que Las Casas é levado a des crever os índios em termos quase inteiramente negativos ou restritivos: são gente sem defeitos, nem assim nem assado...
Além disso, o que se afirma positivamente não é senão um estado psicológico (mais uma vez como em Colombo):
bons, tranqüilos, pacientes; nunca uma configuração cul tural ou social que possa ajudar a compreender as diferen ças. Aliás, tampouco determinados comportamentos,
à pri meira vista inexplicáveis: por que os índios obedecem tão humildemente aos espanhóis, pintados como monstros cruéis? Por que são facilmente derrotados por
poucos adversários? A única explicação que, eventualmente ocor re a Las Casas é: porque eles se comportam como verda deiros cristãos. Nota, por exemplo, uma certa
indiferença dos índios em relação aos bens materiais, que faz com que não se apressem em trabalhar e enriquecer. Alguns espa nhóis propuseram, como explicação, o
fato de os índios serem naturalmente preguiçosos; Las Casas replica: "Em
comparação com a preocupação fervente e infatigável que temos em acumular riquezas e bens temporais, devido à nossa ambição inata e à nossa cobiça insaciável, esta
gente, concedo, poderia ser taxada de ociosa; mas não segundo a lei natural, a lei divina e a perfeição evangélica, que lou vam e aprovam que nos contentemos com
o estritamente necessário" (Historia, III, 10). Assim, a primeira impressão, correta, de Las Casas é neutralizada, porque ele está con vencido da universalidade
do espírito cristão: se essa gen te é indiferente à riqueza, é porque tem uma moral cristã.
Sua Apologetica Historia contém, de fato, uma massa de informações, colhidas por ele mesmo ou por outros mis sionários, e relativas à vida material e espiritual
dos índios. Porém, como diz o próprio título da obra, a história se trans forma em apologia: o essencial, para Las Casas, é que ne nhum dos costumes ou práticas
dos índios prova que são seres inferiores; faz uma aproximação de todos os fatos com categorias valorativas, e o resultado do confronto é decidido de antemão: se
o livro de Las Casas tem, atual mente, valor de documento etnográfico, é à revelia do autor. Somos obrigados a reconhecer que o retrato dos índios que se pode extrair
das obras de Las Casas é claramente mais pobre do que o deixado por Sepúlveda: na verdade, acerca dos índios não se aprende nada. Se é incontestável que o preconceito
da superioridade é um obstáculo na via do conhecimento, é necessário também admitir que o pre conceito da igualdade é um obstáculo ainda maior, pois consiste em
identificar, pura e simplesmente, o outro a seu próprio "ideal do eu" (ou a seu eu).
Las Casas percebe todos os conflitos, e particularmen te o de espanhóis e índios, em termos de uma única opo sição, completamente espanhola: fiel/infiel. A originalida
de de sua posição reside no fato de atribuir o pólo valori zado (fiel) ao outro, e o desvalorizado a "nós" (aos espa nhóis). Mas esta distribuição invertida dos
valores, prova incontestável de sua generosidade de espírito, não diminui o esquematismo da visão. Isto é particularmente perceptí vel nas analogias a que Las Casas
recorre para descrever o confronto entre índios e espanhóis. Por exemplo, utiliza
198
199
sistematicamente a comparação evangélica entre os após tolos e os cordeiros, os infiéis e os lobos, ou os leões, etc.; os próprios conquistadores, como vimos, usavam
essa com paração, mas sem lhe dar um sentido cristão. "Foi na casa desses mansos cordeiros, assim dotados, por seu criador, de tantas qualidades, que os espanhóis,
desde que os co nheceram, entraram como lobos, tigres, e leões muito cruéis, esfomeados há dias" (Relación, "Prefácio").
Do mesmo modo, assimilará os índios aos judeus, os espanhóis ao faraó; os índios aos cristãos, os espanhóis aos mouros. "O governo [ Índiasl é muito mais injusto
e cruel do que o reinado pelo qual o faraó do Egito opri mia os judeus" ("Relatório ao Conselho das Índias", 1565). "As guerras foram piores do que as dos turcos
e mouros contra o povo cristão" ("Discurso de Valladolid", 12); note- se que Las Casas nunca demonstra a mínima ternura em relação aos muçulmanos, sem dúvida porque
não podem ser assimilados a cristãos que não têm consciência de sê- lo; e, quando demonstra, em sua Apologia, que é ilegítimo tratar os índios de "bárbaros" simplesmente
porque são outros, diferentes, não se esquece de condenar "os turcos e os mouros, a verdadeira escória bárbara das nações" (4).
Quanto aos espanhóis na América, são finalmente as similados ao diabo. "Não seria conveniente chamar tais cristãos de diabos e não seria preferível confiar os índios
aos diabos do inferno, em lugar de confiá-los aos cristãos das Índias?" (Relación, "Granada"). Lutará contra os con quistadores, diz ainda, "até que Satã seja posto
para fora das Índias" ("Carta ao Príncipe Felipe", 9.11.1545). Esta frase evoca um som conhecido: é o historiador racista Oviedo, que também esperava que "Satã fosse
expulso das ilhas"; só muda o Satã, neste caso índio, no outro, espanhol; mas a "conceitualização" continua a mesma. Assim, Las Casas ao mesmo tempo ignora os índios
e desconhece os espa nhóis. Estes não são, efetivamente, cristãos como ele (ou como seu ideal); mas não se pode captar a mudança que ocorreu na mentalidade espanhola
se for apresentada sim plesmente como a tomada do poder pelo diabo, isto é, conservando justamente o quadro de referências que foi
colocado em questão. Os espanhóis, para quem a noção de acaso substitui a de destino, têm um novo modo de viver a religião (ou de viver sem religião); isto explica
par cialmente o fato de construírem com tanta facilidade seu império transatlântico, de contribuírem para a submissão de grande parte do mundo à Europa: não é essa
a fonte de sua capacidade de adaptação e de improvisação? Mas Las Casas opta por ignorar essa maneira de viver a religião, comporta-se aqui como teólogo, não como
historiador.
Aliás, em matéria de história, Las Casas contenta-se igualmente em manter uma posição egocêntrica, no que concerne não mais ao espaço, mas ao tempo. Se admite haver,
entre espanhóis e índios, diferenças que podem ser desfavoráveis a estes, é para reduzi-las imediatamente, por um esquema evolucionista único: eles (lá) são agora
como nós (aqui) éramos antigamente (é claro que ele não in ventou este esquema). Originariamente, todas as nações foram grosseiras e bárbaras (Las Casas não quer
reconhecer a barbárie especificamente moderna); com o tempo atingi rão a civilização (subentendido: a nossa). "Não temos razão alguma para nos espantarmos com os
defeitos ou costu mes não civilizados e desregrados que podemos encontrar entre as nações indígenas, nem de desprezá-las por isso. Pois a maior parte das nações
do mundo, senão todas, foram bem mais pervertidas, irracionais e depravadas, e deram mostra de muito menos prudência e sagacidade em sua maneira de se governarem
e de exercer as virtudes morais. Nós mesmos fomos bem piores no tempo de nossos ante passados e em toda a extensão de nossa Espanha, tanto pela irracionalidade e
a confusão dos modos quanto pelos vícios e costumes animalescos" (Apologetica Historia, III, 263).
Há, aqui também, uma incontestável generosidade por parte de Las Casas, que se recusa a desprezar os outros simplesmente porque são diferentes. Mas vai mais além,
e acrescenta: aliás, eles não são (ou: não serão) diferentes. O postulado de igualdade acarreta a afirmação de identi dade, e a segunda grande figura da alteridade,
ainda que incontestavelmente mais amável, leva a um conhecimento do outro ainda menor do que a primeira.
201
Escravismo, colonialismo e comunica çao
Las Casas ama os índios. E é cristão. Para ele, esses dois traços são solidários: ama-os precisamente porque é cris tão, e seu amor ilustra sua fé. Entretanto, essa
solidarieda de não é óbvia: vimos que, justamente por ser cristão, não via claramente os índios. Será que é possível amar real mente alguém ignorando sua identidade,
vendo, em lugar dessa identidade, uma projeção de si mesmo ou de seu ideal? Sabemos que isto é possível, e até freqüente, nas relações interpessoais, mas como fica
no encontro das cul turas? Não se corre o risco de querer transformar o outro em nome de si mesmo, e, conseqüentemente, de submetê lo? De que vale então esse amor?
O primeiro grande tratado de Las Casas consagrado à causa dos índios intitula-se: Da única maneira de atrair todos os povos à verdadeira religião. Este título condensa
a ambivalência da posição lascasiana. Essa "única maneira" é, evidentemente, a suavidade, a persuasão pacífica; a obra de Las Casas é dirigida contra os conquistadores,
que pre tendem justificar suas guerras de conquista pelo objetivo almejado, que é a evangelização. Las Casas recusa essa vio 203
lência; mas, ao mesmo tempo, para ele só há uma religião "verdadeira": a sua. E esta "verdade" não é somente pes soal (não é a religião que Las Casas considera verdadeira
para ele mesmo), mas universal; é válida para todos, e por isso ele não renuncia ao projeto evangelizador. Ora, já não há violência na convicção de possuir a verdade,
ao passo que esse não é o caso dos outros, e de que, ainda por cima, deve-se impô-la a esses outros?
A vida de Las Casas é rica em ações variadas em favor dos índios. Porém, excetuando-se as de seus últimos anos, às quais voltaremos no capítulo seguinte, todas são
marca das por alguma forma dessa mesma ambigüidade. Antes de sua "conversão" à causa dos índios, estava cheio de boa vontade e sentimentos humanitários em relação
a eles; no entanto, os limites de sua intervenção aparecem rapida mente. Já foi mencionado o massacre de Caonao, do qual ele foi testemunha, como capelão da tropa
de Narváez. Que pode ele fazer para aliviar as dores dos índios massacra dos? Eis o que ele mesmo conta: "Foi então que, tendo descido o jovem índio, um espanhol
que ali se encontrava sacou um alfanje ou espada curta e lhe deu, como se qui sesse divertir-se, um golpe no flanco que pôs a nu suas entranhas. O infeliz índio
tomou os intestinos nas mãos e fugiu da casa correndo; encontrou o padre [ Casasi que, reconhecendo-o, falou ali mesmo das coisas da fé [ que língua?1, tanto quanto
permitia a angustiante circunstância, fazendo com que ele compreendesse que se quisesse ser batizado, iria para o céu, viver com Deus. O infeliz, cho rando e gritando
sua dor como se estivesse sendo consu mido pelo fogo, respondeu que sim; o padre, então, bati zou-o, e o índio, imediatamente, caiu morto ao solo" (His tona, III,
29).
Aos olhos de quem tem fé, evidentemente, faz dife rença saber se uma alma vai para o paraíso (tendo sido batizada) ou para o inferno; realizando esse gesto, Las
Ca sas está realmente sendo movido pelo amor ao próximo. Há, no entanto, algo de derrisório nesse batismo in extre mis, e o próprio Las Casas diz isso em outras
ocasiões. A
preocupação com a conversão adquire aqui um aspecto absurdo, e o remédio realmente não está à altura do mal. O benefício que a cristianização traz aos índios é então
bem pequeno, como ilustra também esta anedota contada por Berna! Díaz: "Jesus permitiu que o cacique se fizesse cristão: o monge batizou-o, e ele pediu e obteve
de Alvara do que não seria queimado, mas enforcado" (164). Cuauhte moc também "morreu de certo modo cristãmente": "os es panhóis enforcaram-no num cincho", mas "puseram-lhe
nas mãos uma cruz" (Chimalpahin, 7, 206).
Após sua "conversão", que o faz renunciar aos índios que possui, Las Casas lança-se numa nova empresa, que é a colonização pacífica da região de Cumana, na Venezuela
atual: no lugar dos soldados devem estar clérigos, domini canos e franciscanos, e camponeses-colonos trazidos da Espanha; trata-se, sem dúvida, de colonizar, no
plano espi ritual e no plano material, mas deve-se fazê-lo com suavi dade. A expedição é um fracasso: Las Casas se vê obrigado a fazer cada vez mais concessões aos
espanhóis que o acompanham, e os índios, por sua vez, não são tão dóceis quanto ele esperava; tudo acaba em sangue. Las Casas es capa, e não desanima. Aproximadamente
quinze anos mais tarde, dedica-se à pacificação de uma região particularmen te tumultuada, na Guatemala, que receberá o nome de Ve ra Paz. Mais uma vez, os religiosos
devem substituir os sol dados; mais uma vez, o resultado deverá ser a mesma co lonização, talvez melhor do que se fosse feita por solda dos: Las Casas garante o
aumento dos lucros da coroa se seus conselhos forem seguidos. "Declaramo-nos dispostos a pacificá-los e reduzi-los ao serviço do rei nosso senhor, e a convertê-los
e instruí-los no conhecimento de seu cria dor; feito isso, faremos com que essas populações paguem tributos e prestem serviços a Sua Majestade todos os anos, segundo
as possibilidades que seus recursos lhes deixam tudo para melhor proveito do rei, da Espanha e destes paí ses" ("Carta a uma personagem da corte", 15.10.1535). Des
ta vez as coisas dão mais certo do que da outra; mas, alguns anos mais tarde, sentindo-se em perigo, os próprios mis-
204
205
sionários apelam para o exército que, de qualquer modo, não está longe.
A atitude de Las Casas para com os escravos negros também poderia ser evocada neste contexto. Os adversá rios do dominicano, que sempre foram muitos, não deixa ram
de ver aí uma prova de sua parcialidade na questão dos índios e, portanto, um meio de rejeitar seu testemu nho da destruição destes. Esta interpretação é injusta,
mas é fato que Las Casas não teve, no início, a mesma atitude em relação aos índios e aos negros: aceita que estes, mas não aqueles, sejam escravizados. É preciso
relembrar que a escravidão dos negros é então um dado, ao passo que a dos índios começa sob seus olhos. Mas, na época em que escreve a Historia de las Indias, afirma
que não faz mais nenhuma distinção entre os dois: "Sempre considerou os negros injustamente e tiranicamente escravizados, pois as mesmas razões aplicam-se a eles
e aos índios" (III, 102). No entanto, sabemos que, em 1544, ainda possuía um escravo negro (tinha renunciado a seus índios em 1514), e ainda se encontram em sua
Historia expressões do gêne ro: "É uma cegueira incrível a das pessoas que vieram a estas terras e trataram seus habitantes como se fossem afri canos" (II, 27).
Sem ver nisso algo que possa invalidar seu testemunho sobre os índios, devemos constatar que sua atitude em relação aos negros é menos clara. Não seria porque sua
generosidade baseia-se no espírito de assimila ção, na afirmação de que o outro é como eu, e essa afir mação seria esquisita demais no caso dos negros?
Uma coisa é certa: Las Casas não pretende fazer parar a anexação dos índios, quer simplesmente que isso seja feito por padres em vez de soldados. É o que diz sua
carta ao Conselho das Índias, de 20 de janeiro de 1531: é preci so que os conquistadores "sejam expulsos deste país e substituídos por pessoas que temem a Deus,
de boa cons ciência e grande prudência". O sonho de Las Casas é um estado teocrático, onde o poder espiritual esteja acima do poder temporal (o que é um modo de
voltar à Idade Mé dia). A mudança que propõe talvez encontre sua melhor
expressão numa comparação que ele encontra numa carta escrita pelo bispo Santa Maria, para o rei, a 20 de maio de 1541, e que ele cita na Relación: é preciso arrancar
esta terra "do poder de pais desnaturados e dar-lhe um marido que a trate sensatamente e como ela merece". Las Casas, como Sepúlveda, identifica a colônia às mulheres;
e a eman cipação está fora de cogitação (para as mulheres ou para os índios): basta substituir o pai, que mostrou-se cruel, por um marido que, espera-se, será sensato.
Ora, em matéria de emancipação feminina, a doutrina cristã estaria mais pró xima de Aristóteles: a mulher é tão necessária para o homem quanto o escravo para o senhor.
A submissão e a colonização devem ser mantidas, mas feitas de outro modo; os índios não são os únicos que têm a ganhar com isso (não sendo torturados e exterminados),
o rei da Espanha também. Las Casas sempre desenvolve, lado a lado, esses dois argumentos. Pode-se pensar que, ao fazê-lo, não seja sincero, que simplesmente seja
obriga do a usar esse chamariz para que prestem atenção a suas palavras; mas pouco importa: não somente porque é impossível saber ao certo, mas também porque os
textos de Las Casas, isto é, o que pode agir publicamente, dizem claramente que há uma vantagem material a ser tirada da colonização. Recebido pelo velho rei Fernando,
em 1515, diz-lhe que suas palavras "são da mais lata importância para a consciência do rei e para suas possessões" (Histo ria, III, 84). Num relatório de 1516 afirma:
"Tudo será muito proveitoso para Sua Alteza, cuja renda aumentará proporcionalmente" Em sua carta ao Conselho das Índias, de 20 de janeiro de 1531: seguir seus conselhos
traria "além disso, imensos benefícios e a promessa de uma prosperi dade incalculável." Numa carta, da Nicarágua, de 1535: o religioso "serviu ao rei um pouco melhor
do que aqueles que fazem com que ele perca tantos remos imensos, pri vam-no de tantas riquezas, e também de fabulosos tesouros."
Essas afirmações reiteradas não bastam, de resto, para afastar de Las Casas todas as suspeitas de querer rechaçar o poder imperial, e ele tem de se defender explicitamente,
206
207
enumerando por sua vez as razões que o levam a crer na legitimidade desse poder; este é particularmente o caso das Trinta proposições (1547) e do Tratado das provas
(1552). Lê-se neste último texto: "O pontífice romano tem, sem dúvida alguma, poder sobre os infiéis." "A Sé apostólica pode portanto escolher certos territórios
desses infiéis e atribuí-los a um rei cristão." "O rei que a Sé apostólica es colheu para exercer o ministério da pregação da fé nas Ín dias devia necessariamente
ser investido da suprema sobe rania e da monarquia perpétua sobre as ditas Índias e ser constituído imperador acima de muitos reis."
Não soa como uma paráfrase do Requerimiento, ainda que os reis locais conservem nele uma aparência de poder?
Os outros defensores dos índios adotam a mesma ati tude em relação a isso: não se deve combatê-los, não se deve escravizá-los, não somente porque isso faz sofrer
os índios (e a consciência do rei), mas também porque é me lhor para as finanças da Espanha, "Os espanhóis não se dão conta", escreve Motolinia, "de que, não fossem
os padres, eles não teriam servos, em suas casas ou em suas terras, pois todos teriam sido mortos, como se deduz da experiência em São Domingos e nas outras ilhas,
onde os índios foram exterminados" (III, 1). E o bispo Ramirez de Fuenleal, numa carta a Carlos V: "É bom impedir que se escravizem índios, pois são eles que devem
fazer valer o território, e enquanto houve muitos deles, não faltará nada aos espanhóis."
Não pretendo sugerir, acumulando citações, que Las Casas ou outros defensores dos índios deviam, ou podiam, agir de outro modo, De qualquer modo, a maioria dos documentos
que lemos são missivas endereçadas ao rei, e não vemos que interesse poderia haver em sugerir-lhe que renunciasse a seus remos. Pelo contrário, pedindo uma ati tude
mais humana em relação aos índios, fazem a única coisa possível, e realmente útil; se alguém contribuiu para melhorar a situação dos índios, esse alguém foi Las
Casas; o ódio inextinguível que sentiam por ele todos os adversá rios dos índios, todos os defensores da superioridade bran ca, comprova-o suficientemente.
Ele obteve esse resultado utilizando as armas que mais lhe convinham: escrevendo, apaixonadamente. Deixou uma imagem indelével da destruição dos índios, e todas
as li nhas que foram consagradas a eles desde então - inclusi ve esta - lhe devem algo. Ninguém soube, como ele, com tanta abnegação, dedicar uma imensa energia
e meio século de sua vida a melhorar a sorte dos outros. Mas não dimi nui em nada a grandeza da personagem, muito pelo con trário, reconhecer que a ideologia assumida
por Las Casas e outros defensores dos índios é uma ideologia colonialis ta. É justamente por ser impossível não admirar o homem que é importante julgar lucidamente
sua política.
Os reis da Espanha não se enganam. Em 1573, sob Fe lipe II, são regidas as ordenanças definitivas no que con cerne às "Índias". Encabeçando o Conselho das Índias,
res ponsável pelo teor das ordenanças, encontra-se Juan de Ovando, que não somente conhece as doutrinas de Las Ca sas como traz à corte, em 1571, os textos da célebre
con trovérsia de Valladolid. Eis aqui alguns trechos:
"Não se deve chamar as descobertas de conquistas. Como queremos que sejam feitas pacificamente e carido samente, não queremos que o uso da palavra 'conquista' sirva
de desculpa para o emprego da força ou para os da nos causados aos índios. (...) Tratar-se-á de obter informa ções sobre as várias nações, línguas, seitas e grupos
de naturais que há na província, assim como sobre os senho res a quem essas populações obedecem. Feito isso, usando a troca e o comércio como disfarce, estabelecer-se-ão
com eles relações amistosas, manifestando muito amor, lison jeando-os e distribuindo alguns presentes e pequenos obje tos que possam interessar-lhes. E, sem demonstrar
cobiça, estabeleceremos laços de amizade e faremos alianças com os chefes e senhores que pareçam ser os mais aptos a faci litar a pacificação daqueles países. (...)
Para que os índios possam ver a fé com mais temor e reverência, os padres devem sempre trazer o crucifixo nas mãos e devem andar vestidos pelo menos com uma alva
ou uma estola; que se diga aos cristãos que escutem a pregação com muito res
208
209
peito e veneração, de modo que seu exemplo induza os fiéis a aceitarem a instrução. Se parecer desejável, os padres podem chamar a atenção dos infiéis utilizando
música e cantores, encorajando-os assim a se unirem a eles. (...) Os padres devem pedir-lhes os filhos sob pretexto de instruí- los, e mantê-los como reféns; devem
também convencê-los a construir igrejas onde possam ensinar, para nelas estarem seguros. Por esses meios e outros semelhantes, os índios serão pacificados e doutrinados,
mas não devem ser de modo algum prejudicados, pois buscamos unicamente seu bem-estar e sua conversão."
Ao ler o texto das Ordenanças, percebemos que, des de o Requerimiento de Palacios Rubios, houve não somen te Las Casas como também Cortez: a antiga injunção sofreu
a influência inextricável dos discursos de ambos. De Las Casas vem, evidentemente, a suavidade. A escravidão é ba nida, assim como a violência, exceto em caso de
extrema necessidade. A "pacificação" e a gestão ulterior devem ser realizadas com moderação, e os impostos devem ser ra zoáveis. Também devem ser mantidos os chefes
locais, contanto que aceitem servir aos interesses da coroa. A pró pria conversão não deve ser imposta, mas somente propos ta; os índios só devem abraçar a religião
cristã de livre e espontânea vontade. Mas é à influência (difusa) de Cortez que se deve a presença espantosa, e assumida, do discur so do parecer. O texto não podia
ser mais explícito neste ponto: não são as conquistas que se deve extirpar, é a pa lavra "conquista"; a "pacificação" não passa de outra pala vra para designar a
mesma coisa, mas não pensem que este cuidado lingüístico é vão. Em seguida, deve-se agir usan do o comércio como disfarce, manifestando amor, e sem demonstrar cobiça.
Para aqueles que porventura não enten dam esta linguagem, especifica-se que Õs presentes devem ser de pouco valor: hasta que agradem aos índios (é a tra dição do
gorro vermelho presenteado por Colombo). A evangelização também utiliza encenações de espetáculos de "som e luz", inaugurados por Cortez: o rito deve ser cercado
de toda a solenidade possível, os padres são para-
mentados com seus mais belos adornos, e a música tam bém dará sua contribuição. Fato interessante, já não se po de contar automaticamente com a devoção dos espanhóis,
e neste caso também será necessário regulamentar o pare cer: nào se lhes pede que sejam bons cristãos, mas que ajam como se o fossem.
Apesar dessas influências evidentes, a intenção do Re querimiento se mantém, e o objetivo global não é modifi cado: continua a ser a submissão daquelas terras à
coroa espanhola. E tudo é calculado: as igrejas, além de belas, devem também poder servir de fortalezas. Quanto ao ensi no, generosamente oferecido aos filhos dos
nobres, não passa de um pretexto para apoderar-se deles e usá-los, ca so seja necessário, como um meio de chantagem (vossos filhos em nossas escolas são reféns...).
Uma outra lição de Cortez é lembrada: antes de domi nar, é preciso estar informado. O próprio Cortez explicitou essa regra em documentos posteriores à conquista,
como neste relatório (de 1537) endereçado a Carlos V: antes de conquistar uma região é preciso, escreve, "saber se é habi tada e por qual espécie de gente, e quais
são sua religião ou ritos, de que vivem, e o que há nas terras." Pressente- se aqui a função do futuro etnólogo: a exploração desses países levará à sua (melhor)
espoliação, e sabe-se que a Espanha colonial é o primeiro país a aplicar sistematica mente este preceito, graças às investigações instigadas pela coroa. Uma nova
espécie de trindade substitui, ou melhor, coloca em segundo plano, pois é preciso estar sempre pronto para intervir, o antigo conquistador-soldado: é for mada pelo
douto, pelo padre e pelo comerciante. O primei ro colhe informações acerca do estado do país; o segundo possibilita sua assimilação espiritual; o terceiro garante
os lucros; presta-se auxílio mútuo, e todos auxiliam a Espanha.
Las Casas e os outros defensores dos índios não são contrários à expansão espanhola; mas preferem uma de suas formas à outra. Daremos a cada uma delas um nome fami
liar (ainda que estes nomes não sejam totalmente corretos historicamente): têm uma ideologia colonialista, e são con
210
211
tra a ideologia escravista. O escravismo, neste sentido da palavra, reduz o outro ao nível de objeto, o que se mani festa particularmente em todos os comportamentos
onde os índios são tratados como menos do que homens: sua carne é utilizada para alimentar os índios que restam, ou até mesmo os cães; matam-nos para usar sua gordura
que, supõe-se, cura os ferimentos dos espanhóis: e assim são considerados como animais de corte: cortam-se todas as extremidades, nariz, mãos, seios, língua, sexo,
transforman do-os em aleijões, como se cortam árvores; propõe-se uti lizar-lhes o sangue para regar o jardim, como se fosse água de rio. Las Casas conta que o preço
de uma escrava au menta se estiver grávida, exatamente como acontece com as vacas. "Aquele homem perdido gabou-se, vangloriou-se desavergonhadamente, diante de um
venerável padre, de tudo fazer para engravidar muitas índias, de modo a obter melhor preço por elas, vendendo-as grávidas como escra vas" (Relación, "Yucatán").
Mas essa forma de utilização do homem não é, eviden temente, a mais rentável. Se, em vez de considerar o outro como objeto, ele fosse considerado como um sujeito
capaz de produzir objetos que se possuirá, a cadeia teria mais um elo - um sujeito intermediário - e, ao mesmo tempo, o número de objetos possuídos seria infinitamente
maior. Duas preocupações suplementares decorrem desta transfor mação. Primeiramente, é preciso manter o sujeito "interme diário" nesse, papel de sujeito-produtor-de-objetos,
e impedir que venha a ser como nós: a galinha dos ovos de ouro per de todo o interesse se consumir seus próprios produtos. O exército, ou a polícia, cuidará disso.
A segunda preocupação se traduz assim: quanto mais bem tratado, mais produtivo será o sujeito. Os padres, portanto, dispensarão cuidados médicos, além de instrução
(Motolinia e Olarte dizem, inge nuamente, numa carta ao vice-rei Luis de Velasco, de 1554:
"Esta pobre gente ainda não está suficientemente instruída para pagar de boa vontade [ tributosi."). A saúde do corpo e a da alma serão posteriormente garantidas
por espe cialistas leigos: o médico e o professor.
A eficácia do colonialismo é superior à do escravismo, ou pelo menos é isto que podemos constatar atualmente. Na América espanhola não faltam colonialistas de grande
estatura: se um Colombo deve ser colocado do lado dos escravistas, personagens tão diferentes, e inclusive opostas na realidade, como Cortez e Las Casas, estão ligadas
à ideo logia colonialista (é este parentesco que as ordenanças de 1573 tornam explícito). Um afresco de Diego Rivera, no Palácio Nacional da Cidade do México, mostra
da relação entre as duas personagens (cf. fig. 11): de um lado Cortez, espada numa mão e chicote na outra, espezinhando os ín dios; diante dele Las Casas, protetor
dos índios, detém Cor tez com uma cruz. É verdade que muitas coisas separam os dois homens. Las Casas ama os índios mas não os co nhece; Cortez conhece-os, a seu
modo, embora não sinta por eles nenhum "amor" especial; sua atitude em relação à escravidão dos índios, que pudemos observar, ilustra bem sua posição. Las Casas
é contrário ao repartimiento, distri buição feudal dos índios entre os espanhóis, que Cortez, ao contrário, promove. Ignora-se quase completamente o que os índios
da época sentem por Las Casas, o que, em si, já é significativo. Cortez, em compensação, é tão popu lar, que faz tremer os detentores do poder legal, represen tantes
do imperador espanhol, que sabem que os índios se sublevariam ao primeiro sinal de Cortez; os membros da segunda Audiência explicam a situação assim: "A afeição
que os índios têm pelo Marquês vem do fato de ter sido ele quem os conquistou, e, para dizer a verdade, por tê-los tratado melhor do que todos os outros." E, contudo,
Las Casas e Cortez concordam num ponto essencial: a submis são da América à Espanha, a assimilação dos índios à reli gião cristã, a preferência pelo colonialismo
em detrimento do escravismo.
Pode espantar o fato de se estigmatizar, pelo nome de "colonialismo", que atualmente é um insulto, todas as for mas tomadas pela presença espanhola na América. Desde
a época da conquista, os autores pertencentes ao partido pró-espanhol sempre insistem nos benefícios trazidos pelos
212
213
espanhóis às regiões selvagens, e freqüentemente encon tramos estas listas: os espanhóis suprimiram os sacrifícios humanos, o canibalismo, a poligamia, o homossexualismo,
e trouxeram o cristianismo, as roupas européias, animais domésticos, utensílios. Embora hoje em dia nem sempre seja evidente a superioridade de uma determinada novida
de sobre uma prática antiga, e se considere que o preço de alguns desses presentes foi muito alto, ainda assim há pontos indiscutivelmente positivos: progressos
técnicos e também, como vimos, simbólicos e culturais. Ainda se trata de colonialismo? Dito de outro modo, toda influência é, em função de sua exterioridade, nefasta?
Colocada deste modo, a pergunta só pode receber, parece-me, uma resposta nega tiva. Portanto, se o colonialismo se opõe, de um lado, ao escravismo, opõe-se ao mesmo
tempo a uma outra forma, positiva ou neutra, do contato com outrem, que chamarei simplesmente de comunicação. À tríade compreender/to mar/destruir corresponde esta
outra, em ordem inversa:
escravismo/colonialismo/comunicação.
O princípio de Vitória, segundo o qual é preciso per mitir a livre circulação dos homens, das idéias e dos bens, parece ser geralmente aceito atualmente (embora
não bas te para justificar uma guerra). Em nome de que reservar- se-ia "a América para os americanos" - ou os russos para a Rússia? De resto, os próprios índios
não tinham vindo de outros lugares: do norte, ou, até, segundo alguns, de outro continente, a Ásia, pelo Estreito de Behring? A história de um país qualquer pode
ser algo que não a soma de todas as influências sucessivas que sofreu? Se existisse realmente um povo refratário a qualquer mudança, uma tal vontade nào indicaria
uma pulsão de morte hipertrofiada? Gobi neau acreditava que as raças superiores eram as mais puras; não acreditamos, atualmente, que as culturas mais ricas são as
mais misturadas?
Mas também temos outro princípio, o da autodeter minação e não-ingerência. Como conciliá-los? Não é con traditório reivindicar o direito à influência e condenar
a ingerência? Não, ainda que isso não seja evidente, e deva
215
ser precisado. Não se trata de julgar o conteúdo, positivo ou negativo, da influência em questão: só seria possível fazê-lo a partir de critérios totalmente relativos,
e mesmo as sim, correríamos o risco de nunca chegar a um acordo, tão complexas são as coisas. Como medir o impacto da cristia nização sobre a América? A pergunta
parece quase despro vida de sentido, tal a variação possível das respostas. Um pequeno exemplo poderá fazer com que reflitamos sobre a relatividade dos valores;
é um episódio contado por Cortez, durante sua expedição em Honduras: "Aconteceu que um espanhol encontrou um índio de sua comitiva, ori ginário da Cidade do México,
comendo um pedaço da carne de um outro índio que tinha matado ao entrar na aldeia. Veio dizê-lo a mim; ordenei que fosse preso e quei mado vivo na presença do senhor
tíndiol, fazendo com que ele compreendesse a razão daquele castigo: ele tinha mata do e comido um índio, o que é proibido por Vossa Majesta de; em vosso real nome
tinha proibido que se fizesse isso, e assim, por ter matado e comido alguém, mandei queimá lo porque não queria que se matasse ninguém" (5).
Os cristãos ficaram revoltados com os casos de cani balismo (cf. fig. 12). A introdução do cristianismo leva à sua extinção. Mas, para conseguir isso, queimam homens
vi vos! Todo o paradoxo da pena de morte está aí: a instân cia penal executa o próprio ato que condena, mata para melhor proibir de matar. Para os espanhóis, era
um meio de lutar contra o que julgavam ser harbárie; os tempos mudaram, e tornou-se difícil perceber a diferença de "civi lização" entre queimar vivo e comer morto.
Paradoxo da colonização, ainda que seja feita em nome de valores con siderados superiores.
Em compensação, é possível estabelecer um critério ético para julgar a forma das influências: o essencial, eu diria, é saber se são impostas OU propostas. A cristianização,
como a exportação de toda e qualquer ideologia ou técni ca, é condenável a partir do momento em que é imposta, pelas armas ou de outro modo. Há traços de uma civiliza
ção que podem ser considerados superiores ou inferiores;
216
mas isso não justifica sua imposição a outrem. E mais, im por sua própria vontade a outrem implica não considerá lo parte da mesma humanidade de que se faz parte,
o que é precisamente um traço de civilização inferior. Ninguém perguntou aos índios se queriam a roda, ou os teares, ou as forjas; foram obrigados a aceitá-los;
aí reside a violência, e ela independe da eventual utilidade desses objetos. Mas em nome de quê condenar-se-ia o pregador sem armas, mesmo que seu objetivo declarado
seja converter-nos à sua própria religião?
Talvez seja um tanto utopista, ou simplista, reduzir assim as coisas ao uso da violência. Na medida em que ela pode, como se sabe, adquirir formas que não são realmen
te mais sutis, porém menos evidentes: pode-se dizer que uma ideologia ou técnica é somente proposta, quando o é por todos os meios de omunicaçào existentes? Não,
sem dúvida. Reciprocamente, uma coisa não é imposta se hou
Fig. 72- Cena de canibalismo
217
ver a possibilidade de escolher uma outra, e de saber disso. A relação entre o saber e o poder, que pudemos observar durante a conquista, não é contingente, mas
constitutiva. Vitória, um dos fundadores do direito internacional mo derno, já tinha consciência disso. Vimos que admitia a exis tência de guerras justas, as que
têm por motivo a supres são de uma injustiça. Ora, ele mesmo se perguntava: como decidir acerca da justiça de uma guerra? Sua resposta põe em evidência o papel da
informação. Não basta que o príncipe acredite nisso: está comprometido demais, e um homem pode se equivocar. Nem que a população, ainda que toda, pense assim: o
povo não tem acesso aos segre dos de estado, e é, por definição, não informado. É preci so que a causa em si seja justa, e não somente segundo uma opinião sempre
manipulável. Esta justiça absoluta só é acessível para os sábios, e torna-se obrigação destes. "E preciso consultar homens honestos e sábios, capazes de falar livremente,
sem cólera, ódio ou cobiça" (O direito de guerra, 21, 59). A ignorância é uma desculpa provisória; a partir de um certo ponto, é culpada. "Aquele que tiver dú vidas,
e deixar de lado a busca da verdade, não tem boa fé' (ibid., 29, 84).
Quando Vitória aplica esta doutrina ao caso das guerras contra os índios, não esquece esse cuidado com a infor mação: os espanhóis só poderão queixar-se das hostilida
des dos índios se puderem provar que estes foram devida- mente informados das boas intenções dos recém-chega dos; o ato de fornecer informação é uma obrigação, tanto
quanto o de buscá-la. Porém o próprio Vitória não ilustra com perfeição seu preceito - e assim encarna a separação característica do intelectual moderno, entre o
dizer e o fazer, entre o conteúdo do enunciado e o sentido da enun ciação. Além das razões "recíprocas" que podem justificar uma guerra, e além das que poderiam
ser imputadas a seu próprio etnocentrismo, dava outras, cujo vício não é a falta de reciprocidade, mas o descuido em relação à informa ção. Admite, por exemplo,
que os chefes, ou uma parte da população, apelem para as potências estrangeiras, cuja intervenção estaria então ligada à guerra justa. Mas não diz
uma palavra sobre as modalidades de consulta à popula ção nesse caso, e não encara a possibilidade de má-fé por parte dos chefes. Ou ainda, justifica as intervenções
feitas em nome de alianças militares. Mas o exemplo que forne ce - tirado da conquista do México - o trai: "Diz-se que os tlaxcaltecas agiram assim em relação aos
mexicanos:
entenderam-se com os espanhóis para que estes os ajudas sem a combater os mexicanos; os espanhóis posteriormen te receberam tudo o que caberia a eles em virtude
do direito de guerra" (Os índios, 3, 17, 296). Vitória fala como se a guerra entre mexicanos e tlaxcaltecas fosse a relação de base, e os espanhóis interviessem
somente enquanto aliados destes últimos. Mas sabemos que isto é uma defor mação brutal da realidade; por isso, Vitória é culpado, por ter-se fiado na aproximação
dos "dizem", dos "dizeres da queles que lá estiveram" (ibid., 3, 18, 302), sem realmente "buscar a verdade".
A boa informação é o melhor meio de estabelecer o poder: vimos com Cortez e as ordenanças reais. Mas, por outro lado, o direito à informação é inalienável, e não
há legitimidade do poder se este direito não for respeitado. Aqueles que não se preocupam em saber, assim como os que se abstêm de informar, são culpados diante
de sua sociedade; ou, para dizê-lo em termos positivos, a função da informação é uma função social essencial. Ora, se a informação for eficaz, a distinção entre
"impor" e "propor" continuará a ser pertinente.
Não é preciso fechar-se numa alternativa estéril: ou se justificam as guerras coloniais (em nome da superioridade da civilização ocidental), ou então se recusa qualquer
inte ração com o estrangeiro, em nome de uma identidade pró pria. A coínunicação não-violenta existe e pode ser defen dida como um valor. Isto poderia fazer com
que a tríade escravismo/colonialismo/comunicação não seja apenas um instrumento de análise conceitual, mas acabe por corres ponder também a uma sucessão no tempo.
218
219
Iv
Conhecer
Tipologia das relações com outrem
Há algo de paradoxal em identificar o comportamento de Las Casas com o de Cortez em relação aos índios, e tor nou-se necessário cercar essa afirmação de várias restrições;
é que a relação com o outro não se dá numa única dimen são. Para dar conta das diferenças existentes no real, é preciso distinguir entre pelo menos três eixos, nos
quais pode ser situada a problemática da alteridade. Primeira mente, um julgamento de valor (um plano axiológico): o outro é bom ou mau, gosto dele ou não gosto
dele, ou, como se dizia na época, me é igual ou me é inferior (pois, evidentemente, na maior parte do tempo, sou bom e te nho auto-estima...). Há, em segundo lugar,
a ação de apro ximação ou de distanciamento em relação ao outro (um plano praxiológico): adoto os valores do outro, identifico me a ele; ou então assimilo o outro,
impondo-lhe minha própria imagem; entre a submissão ao outro e a submissão do outro há ainda um terceiro termo, que é a neutralidade, ou indiferença. Em terceiro
lugar, conheço ou ignoro a identidade do outro (seria o plano epistêmico); aqui não há, evidentemente, nenhum absoluto, mas uma gradação
223
infinita entre os estados de conhecimento inferiores e su periores.
Existem, é claro, relações e afinidades entre esses três planos, mas nenhuma implicação rigorosa; não se pode, pois, reduzi-los um ao outro, nem prever um a partir
do outro. Las Casas conhece os índios menos do que Cortez, e gosta mais deles; os dois se encontram em sua política comum de assimilação. O conhecimento não implica
o amor, nem o inverso; e nenhum dos dois implica, ou é implica do, pela identificação com o outro. Conquistar, amar e co nhecer são comportamentos autônomos e, de
certo modo, elementares (descobrir, como vimos, está mais relacionado à terra do que aos homens; quanto a estes, a atitude de Colombo pode ser descrita em termos
inteiramente negati vos: não gosta, não conhece e não se identifica).
Essa delimitação dos eixos não deve ser confundida com a diversidade que se observa num só eixo. Las Casas forneceu o exemplo de amor pelos índios; mas, na verda
de, ele mesmo ilustra mais de uma atitude; e, para fazer- lhe justiça, devemos completar aqui seu retrato. Las Casas passou por uma série de crises, ou transformações,
que o levaram a tomar uma série de posições próximas, e contu do distintas, durante sua longa vida (1484-1566). Renuncia a seus índios em 1514, mas só se torna dominicano
em 1522-1523, e esta segunda conversão é tão importante quan to a primeira. E uma transformação que nos interessará no momento: a que acontece no fim de sua vida,
após seu retorno definitivo do México, e também após o fracasso de ãrios de seus projetos; pode-se tomar o ano do debate de Valladolid, 1550, como ponto de referência
(mas, na reali dade, não há "conversão" nítida neste momento). A atitude de Las Casas em relação aos índios, o amor que sente por eles, não são os mesmos antes e
depois dessa data.
A mudança parece ter-se operado a partir da reflexão à qual é levado pelos sacrifícios humanos praticados pelos astecas. A existência desses ritos era o argumento
mais convincente do partido representado por Sepúlveda, que afirma a inferioridade dos índios; era, por outro lado, in
contestável (ainda que discordassem acerca da quantida de; cf. figs. 13 e 14). Não é difícil, mesmo vários séculos mais tarde, imaginar a reação: não se consegue
ler sem pestanejar as descrições redigidas pelos monges espanhóis da época, ditadas por seus informantes.
Tais práticas não são a prova gritante da selvageria e, portanto, da inferioridade dos povos que as executam? Es te é o tipo de argumento que Las Casas tinha de
refutar. Dedica-se a isto em sua Apologia, escrita em latim, apre sentada aos juízes em Valladolid, e em alguns capítulos da Apologetica Historia, que devem ter
sido escritos na mes ma época. Seu raciocínio a esse respeito merece ser acom panhado detalhadamente. Num primeiro momento, Las Ca sas afirma que, embora o canibalismo
e o sacrifício huma no sejam condenáveis em si, não decorre daí que seja pre ciso declarar guerra àqueles que os praticam: o remédio corre então o risco de ser pior
do que o mal. Além disso há o respeito, que, supõe Las Casas, é comum a índios e a espanhóis, pelas leis do país. Se a lei impõe o sacrifício, ao praticá-lo, age-se
como bom cidadão, e não se pode censu rar o indivíduo por fazê-lo. Em seguida vai mais adiante: a própria condenação torna-se problemática. Las Casas em prega, para
isso, dois tipos de argumentos, que desembo cam em duas afirmações gradativas.
O primeiro argumento é da ordem dos fatos, e baseia- se em aproximações históricas. Las Casas quer tornar o sa crifício humano menos estranho, menos excepcional
para o espírito de seu leitor, e lembra que esse sacrifício não está totalmente ausente da própria religião cristã. "Seria pos sível pleitear de modo convincente,
a partir do fato de Deus ter ordenado a Abraão que sacrificasse seu único filho, Isaac, que Deus não detesta completamente que lhe sacrifiquem seres humanos" (Apologia,
37). Do mesmo mo do, Jefté se viu obrigado a sacrificar sua filha (Juízes, 11, 31 ss.). Os primogênitos não eram todos prometidos a Deus? A quem objetasse que todos
esses exemplos provêm do Antigo Testamento, Las Casas responderia que, afinal, Jesus tinha sido sacrificado por Deus Pai, e que os primei-
224
225
ros cristãos eram igualmente obrigados a isso, a menos que renunciassem à sua fé; essa era, aparentemente, a vontade divina. De modo análogo, no capítulo anterior,
Las Casas reconciliava seu leitor com a idéia do canibalismo, con tando casos em que os espanhóis, impelidos pela necessi dade, tinham comido o fígado ou a coxa
de um de seus compatriotas.
A segunda afirmação (que aparece em primeiro lugar na argumentação de Las Casas) é ainda mais ambiciosa:
trata-se de provar que o sacrifício humano é aceitável não somente por razões de fato como também de direito. Ao fazê-lo, Las Casas é levado a pressupor uma nova
defini ção do sentimento religioso, e é aí que seu raciocínio é particularmente interessante, Os argumentos são tirados da "razão natural", de considerações a priori
acerca da natu reza humana. Las Casas vai acumulando, uma após outra, quatro "evidências":
1. Todos os seres humanos têm conhecimento intuiti vo de Deus, isto é, daquilo "que é maior e melhor
do que tudo" (ibid., 35).
2. Os homens adoram a Deus de acordo com suas ca pacidades, e cada um a seu modo, tentando sempre
fazer o melhor possível.
3. A maior prova que se pode dar de amor por Deus consiste em oferecer-lhe o que se tem de mais pre cioso, ou seja, a própria vida humana. Este é o cer ne do argumento,
e assim se exprime Las Casas: "A maneira mais intensa de adorar a Deus é oferecer- lhe um sacrifício. É o único ato que nos permite mostrar, àquele para quem o sacrifício
é oferecido, que somos seus súditos e servos. Além disso, a na tureza nos ensina que é justo oferecer a Deus, de quem admitimos ser devedores, por tantas razões,
as coisas preciosas e excelentes, devido à excelência de sua majestade. Ora, segundo o julgamento hu mano e de acordo com a verdade, nada na natureza é maior ou
mais precioso do que a vida do homem OU o próprio homem. Assim, é a própria natureza
227
que instrui e ensina aos que não têm fé, a graça, ou a doutrina, aos que vivem guiados unicamente pela luz natural e que, a despeito de qualquer lei positi va que
estabeleça o contrário, que devem sacrificar vítimas humanas ao verdadeiro Deus ou ao falso deus que crêem ser o verdadeiro, de modo que ofe recendo-lhe uma coisa
sumamente preciosa pos sam expressar sua gratidão pelos múltiplos favores que receberam" (ibid., 36).
4. O sacrifício existe, pois, por força da lei natural e suas formas são fixadas pelas leis humanas, particu larmente no que se refere à natureza do objeto sa crificado.
Graças a essa série de encadeamentos, Las Casas aca bou por adotar uma nova posição, introduzindo o que po deria ser chamado de "perspectivismo" no seio da religião.
Vimos que ele toma precauções, para lembrar que o deus dos índios, embora não seja o "verdadeiro" Deus, é consi derado assim por eles, e que este deve ser o ponto
de par tida: "O verdadeiro Deus, ou o suposto deus, se este for considerado o verdadeiro Deus" (ibid., 36); "o verdadeiro Deus ou aquele que pensam ser Deus" (ibid.,
35); "o ver dadeiro Deus ou aquele que, por engano, eles pensam ser o verdadeiro Deus" (ibid., 35). Mas reconhecer que o deus deles é verdadeiro para eles, não significa
dar um passo na direção de um outro reconhecimento, a saber, que o nosso Deus é verdadeiro para nós - somente para nós? O que resta então de comum e universal não
é mais o Deus da religião cristã, ao qual todos deveriam chegar, mas a pró pria idéia de divindade, daquilo que está acima de nós; a religiosidade, e não a religião.
É o pressuposto de seu ra ciocínio, e também seu elemento mais radical (mais do que o que diz acerca do sacrifício): é realmente surpreendente ver introduzir o "perspectivismo"
num campo que se preta tão mal a isso.
O sentimento religioso não se define por um conteú do universal e absoluto, mas por sua orientação, e mede-se por sua intensidade; assim, mesmo que o Deus cristão
seja
em si uma idéia superior à que se expressa através de Tezcatlipoca (é o que crê o cristão Las Casas), os astecas podem ser superiores aos cristãos em matéria de
religiosi dade, e de fato o são. A própria noção de religião sai disso completamente transformada. "As nações que ofereciam sacrifícios humanos a seus deuses mostravam
assim, como idólatras desorientados, a alta idéia que tinham da excelên cia da divindade, do valor dos deuses, o quanto era nobre, e grande sua veneração pela divindade.
Demonstraram, conseqüentemente, que possuíam, mais do que as outras nações, a reflexão natural, a retidão da palavra e o julgamen to da razão; melhor do que as outras,
usaram seu entendi mento. E em religiosidade superaram todas as outras nações, pois são as nações mais religiosas do mundo que, para o bem de seus povos, oferecem
em sacrificio seus próprios filhos" (Apologetica Historia, III, 183). No interior da tradi ção cristã, só os mártires dos primeiros tempos, segundo Las Casas, podiam
se comparar aos fervorosos astecas.
É, pois, ao enfrentar o argumento mais incômodo que Las Casas se vê obrigado a modificar sua posição e ilustra assim uma nova variante do amor pelo outro; um amor
não mais assimilacionista, mas, de certo modo, distributi vo: cada um tem seus próprios valores; a comparação só pode ser feita no nível das relações - entre o ser
e seu deus - e não no nível das substâncias: só há universais for mais. Embora afirme a existência de um único deus, Las Casas não privilegia apriori a via cristã
para chegar a ele. A igualdade já não é estabelecida à custa da identidade, não se trata de um valor absoluto: cada um tem o direito de se aproximar de deus pelo
caminho que lhe convier. Não há mais um verdadeiro Deus (o nosso), mas uma coe xistência de universos possíveis: se alguém o considerar verdadeiro... Las Casas,
sub-repticiamente, deixou a teolo gia e passa a praticar uma espécie de antropologia religiosa, o que, nesse contexto, é realmente subversivo, pois pare ce que quem
assume um discurso sobre a religião dá um passo em direção ao abandono do próprio discurso reli gioso.
228
229
Será ainda mais fácil para ele aplicar esse princípio ao caso geral da alteridade e, conseqüentemente, evidenciar a relatividade da noção de "barbárie" (ele parece
ser o pri meiro a fazê-lo na época moderna): cada um é o bárbaro do outro, basta, para sê-lo, falar uma língua que esse outro ignora: para ele, será apenas um burburinho.
"Um homem será chamado de bárbaro, quando comparado a outro, por ser estranho em seus modos de falar e por pronunciar mal a língua do outro (...). Segundo Estrabão,
Livro XIV, essa era a principal razão pela qual os gregos chamavam os ou tros povos de bárbaros, isto é, porque pronunciavam mal a língua grega. Mas, desse ponto
de vista, não há homem ou raça que não seja bárbaro em relação a um outro homem ou uma outra raça. Como diz São Paulo, de si mesmo e dos outros, na Primeira Epístola
aos Coríntios (14, 10-1): 'Por mais numerosas que possam ser as diversas línguas no mundo, não há nenhuma que não seja uma língua; se, pois, eu não conheço o sentido
da língua, serei um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será um bárbaro para mim.' Assim como nós consideramos bárbara a gente das Índias, eles nos julgam
da mesma maneira, porque não nos com preendem" (ibid., III, 254). O radicalismo de Las Casas impossibilita qualquer meio-termo: ou ele afirma, como no período anterior,
a existência de uma única religião verda deira, o que leva, fatalmente, a identificar os índios a uma fase anterior, e portanto inferior, da evolução dos euro peus;
ou então, como na velhice, aceita a coexistência de ideais e valores, e nega qualquer sentido não relativo da palavra "bárbaro" e, portanto, qualquer evolução.
Ao afirmar a igualdade em detrimento da hierarquia, Las Casas reata com um tema cristão clássico, como indica a referência a São Paulo, citado também na Apologia,
e esta outra, ao Evangelho segundo São Mateus: "Tudo o que que reis que os homens façam por vós, fazei-o pois por eles" (7, 12). "É algo", comenta Las Casas, "que
todo homem conhece, percebe e compreende graças à luz natural que foi repartida entre nossos espíritos" (Apologia, 1). Já tínha mos encontrado este tema do igualitarismo
cristão, e tínhamos
igualmente visto o quanto continuava ambíguo. Todos, nes sa época, arvoram o espírito do cristianismo. É em nome da moral cristã que os católicos (e, por exemplo,
o primeiro Las Casas) vêem os índios como iguais a eles, portanto, se melhantes a eles, e tentam assimilá-los a si mesmos. Com as mesmas referências em mente, os
protestantes, ao con trário, apontam as diferenças e isolam suas comunidades das indígenas, quando se encontram em situação de con tato (curiosamente, esta posição
lembra um pouco a de Sepúlveda). Em ambos os casos nega-se a identidade do outro: quer seja no plano da existência, como no caso dos católicos; ou no plano dos valores,
como os protestantes; é um tanto derrisório procurar saber qual dos times é o re cordista na via da destruição do outro. Mas á na doutrina cristã que o último Las
Casas descobre esta forma superior do igualitarismo que é o perspectivismo, onde cada um é relacionado a seus próprios valores, em vez de ser referi do a um ideal
único.
Ao mesmo tempo, não se deve esquecer o caráter pa radoxal desta união dos termos, "uma religião igualitaris ta"; ele explica a complexidade da posição de Las Casas,
e é este mesmo paradoxo que ilustra um outro episódio da história das ideologias e dos homens, mais ou menos con temporâneo: o debate sobre a finitude ou a infinitude
do mundo, e, conseqüentemente, sobre a existência ou não de uma hierarquia no mundo. Em seu tratado em forma de diálogo, De l'infinito universo e mondi, escrito
em 1584, Giordano Bruno, dominicano, como Las Casas, faz com que se confrontem duas posições. Uma, que afirma o cará ter finito do mundo e a hierarquia necessária,
é defendida pelo aristotélico (que não se chama Sepúlveda); a outra é a dele. Do mesmo modo que Las Casas (e antes dele São Paulo) tinha afirmado a relatividade
das posições a partir das quais se julga os aspectos humanos, Bruno o faz em relação ao espaço físico, e nega a existência de qualquer posição privilegiada. 'Tampouco
a terra, ou qualquer ou tro mundo, está no centro [ Universol; e não há pontos no espaço que constituam pólos definidos e determinados
230
231
para nossa terra, assim como ela não constitui um pólo definido e determinado para nenhum outro ponto do éter ou do espaço do mundo; e isto vale para todos os outros
corpos [ Universol. Desde pontos de vista diferentes to dos eles podem ser vistos como centros, ou como pontos da circunferência, como pólos, ou como zênites, e
assim por diante. Portanto, a terra não é o centro do Universo; só é central em relação ao nosso próprio espaço circunvizi nho. (...) Desde que se suponha um corpo
de tamanho infinito, será preciso renunciar a atribuir-lhe centro ou pe riferia" (2).
Não somente a terra não é o centro do universo como nenhum ponto físico o é; a própria noção de centro só faz sentido em relação a um ponto de vista particular:
o cen tro e a periferia são noções tão relativas quanto as de civi lização e barbárie (e até mais). "Não há no universo nem centro nem circunferência, mas, por assim
dizer, o todo é central, e pode-se também considerar cada ponto como parte de uma circunferência, em relação a um outro ponto central" (5).
Mas a Inquisição, que tinha sido indulgente para com Las Casas (sem falar em São Paulo!), não admite a informa ção de Bruno: já excluído da ordem dominicana no mo
mento em que escreve essas frases, será, pouco depois, preso, julgado por heresia e queimado em praça pública, em 1600, nesse último ano do século que tinha presencia
do os combates de Las Casas. Em seu igualitarismo, seu discurso, como o de Las Casas, é simultaneamente cristão e anti-religioso: mas os juízes de Las Casas ouvirão
a pri meira componente, e os de Bruno, a segunda. Talvez por que a afirmação de Las Casas se refere ao mundo dos homens, em relação ao qual, de qualquer modo, afirma
ções diferentes são concebíveis; ao passo que a de Bruno diz respeito ao universo inteiro, que inclui Deus - ou, jus tamente, não o inclui, o que é um sacrilégio.
De qualquer modo, este é um fato digno de espanto:
ninguém critica os projetos propriamente políticos de Las Casas, no fim de sua vida, O que evidentemente não signi
fica que sejam aceitos; mas são ignorados; é difícil imagi nar, de resto, como tais projetos poderiam ser postos em prática, tanto são utópicos e levam pouco em
conta os in teresses envolvidos na empresa. A solução pela qual se inclina Las Casas é conservar os antigos Estados, com seus reis e governantes; pregar o Evangelho,
mas sem o apoio dos exércitos; se os reis locais pedirem para fazer parte de uma espécie de federação, presidida pelo rei da Espanha, que sejam aceitos; não tirar
proveito de suas riquezas, a menos que eles mesmos o proponham: "Supondo-se que os reis e senhores naturais dos índios cedam ao rei de Castela seus direitos sobre
as minas de ouro, de prata, de pedras preciosas, salinas e outros" ("Carta ao E Bartolomé Carranza de Miranda", agosto de 1555). Em outras pala vras, Las Casas sugere
ao rei da Espanha que renuncie a suas possessões ultramarinas, nem mais nem menos. E a única guerra que concebe seria feita pelo rei contra os conquistadores espanhóis
(pois Las Casas duvida que eles se retirem espontaneamente): "O meio que apresenta menos inconvenientes, e o verdadeiro remédio para todos esses males, que, na minha
opinião (e creio nisso como creio em Deus) os reis de Castela, por preceito divino, devem aplicar, inclusive pela guerra, se não puderem fazê-lo pacificamente, e
ainda que tivessem de arriscar todos os bens temporais que possuem nas Índias, é livrar os índios do poder diabólico ao qual estão submetidos, devolver- lhes a liberdade
original e restabelecer em suas soberanias todos os reis e senhores naturais" (ibid.).
Eis que a justiça "distributiva" e "perspectivista" de Las Casas leva-o a modificar uma outra componente de sua posição: renunciando, na prática, ao desejo de assimilar
os índios, escolhe a via neutra: os índios decidirão eles mes mo acerca de seu próprio futuro.
Examinemos agora alguns comportamentos na pers pectiva do segundo eixo utilizado para descrever as rela ções com o outro, o da ação de identificação ou de assimi
lação. Vasco de Quiroga é um exemplo original desta últi ma. É membro da segunda Audiência de México, isto é,
232
233
pertence ao poder administrativo; mais tarde torna-se bispo de Michoacán. Em vários aspectos se parece com outros humanistas, leigos ou religiosos, que tentarão,
no México, proteger os índios dos abusos dos conquistadores; mas é muito diferente deles num ponto: sua atitude é assimilacio nista, mas o ideal ao qual ele quer
assimilar os índios não é encarnado por ele e nem pela Espanha de seu tempo, em suma, assimila-os a um terceiro. O espírito de Vasco de Quiroga formou-se pela leitura:
dos livros cristãos, inicial- mente, e também das célebres Saturnais de Luciano, em que há uma descrição detalhada do mito da idade do ouro; enfim, e principalmente,
a Utopia de Thomas More. Em resu mo, Vasco de Quiroga afirma que os espanhóis pertencem a uma fase decadente da história, ao passo que os índios são semelhantes
aos primeiros apóstolos e às personagens do poema de Luciano (ainda que Vasco de Quiroga seja igualmente capaz de punir-lhes os defeitos): "Têm os mes mos costumes
e modos, a mesma igualdade, simplicidade, bondade, obediência e humildade, as mesmas festas, jogos, prazeres, bebidas, lazeres, passatempos e nudez, possuem apenas
os mais modestos bens domésticos e não têm ne nhum desejo de adquirir melhores; têm as roupas, os cal çados e alimentos que lhes são oferecidos pela fertilidade
do solo, quase sem nenhum trabalho, cuidado ou esforço de sua parte" ("Información en derecho", pp. 80 ss.).
Pode-se ver aí que Vasco de Quiroga, apesar de sua experiência "de campo", não tinha avançado muito no co nhecimento dos índios: como Colombo, ou como Las Casas,
apoiando-se em algumas semelhanças superficiais, vê ne les, não o que são, mas o que quer que sejam, uma varian te das personagens de Luciano. Todavia, as coisas
são mais complexas, pois esta visão idealizante é barrada no meio do caminho: os índios são, efetivamente, uma encarnação da visão idílica de Vasco de Quiroga, mas
estão longe da perfeição. É portanto ele que, por uma ação deliberada so bre os índios, vai transformar essa promessa numa socie dade ideal. Por isso, à diferença
de Las Casas, não agirá junto aos reis, mas sobre os próprios índios. Para isso re correrá aos ensinamentos de um sábio; um pensador so
cial, Thomas More, já encontrou, em sua Utopia, as formas ideais que convêm à vida de tais pessoas; significativamen te, More, por sua vez, tinha-se inspirado, para
pintar sua utopia, nos primeiros relatos entusiásticos sobre o Novo Mundo (há aí um fascinante jogo de espelhos, em que os mal-entendidos de interpretação motivam
a transformação da sociedade). Só falta, pois, realizar esse projeto. Vasco de Quiroga organizará duas aldeais segundo as prescri ções utopistas, uma perto da Cidade
do México, outra no Michoacán, ambas batizadas Santa Fé, que ilustram simul taneamente seu espírito filantrópico e os princípios inquie tantes do Estado utópico.
A unidade social de base é a fa mília extensa, composta de dez a doze casais de adultos aparentados, sob a autoridade de um padre defamiia; os padres, por sua vez,
elegem o chefe da aldeia. Não há ser viçais, e o trabalho é obrigatório, tanto para os homens quanto para as mulheres, mas não pode ultrapassar seis horas diárias.
Todos alternam obrigatoriamente trabalho no campo e trabalho artesanal na aldeia; os rendimentos da produção são divididos eqüitativamente, de acordo com as necessidades
de cada um. Os cuidados médicos e a apren dizagem (tanto espiritual como manual) são gratuitos e obrigatórios; os objetos e atividades de luxo são proibidos, e é
inclusive proibido usar roupas coloridas. Os "hospi tais"-aldeias são os únicos proprietários de bens e têm o direito de expulsar os maus elementos, isto é, os rebeldes,
os bêbados e os preguiçosos (na verdade, a realidade fica rá aquém deste programa).
Vasco de Quiroga não tem nenhuma dúvida quanto à superioridade deste modo de vida, e considera bons todos os meios para atingi-lo: será, pois, com Sepúlveda, e con
tra Las Casas, um partidário das "guerras justas" contra os índios e de sua repartição nas encomiendas feudais. Isto não o impedirá, por outro lado, de agir como
verdadeiro de fensor dos índios contra as pretensões dos colonos espa nhóis, e suas aldeias são muito populares junto aos índios.
Vasco de Quiroga ilustra um assimilacionismo incon dicional, embora original. Os exemplos de comportanien to inverso, de identificação à cultura e à sociedade indíge
234
235
nas, são muito mais raros (ao passo que abundam os casos de identificação no sentido oposto: a Malinche era um de les). O exemplo mais puro é o de Gonzalo Guerrero.
Em conseqüência de um naufrágio ao largo do México, em 1511, vai dar, juntamente com alguns outros espanhóis, na costa do Yucatán. Seus companheiros morrem; apenas
Aguilar, futuro intérprete de Cortez, sobrevive, e é vendido como escravo no interior do país. O bispo de Yucatán, Diego de Landa, narra a continuação: "Quanto a
Guerrero, como tinha aprendido a língua do país, foi a Chectemal, que é a Salamanca do Yucatán, e lá foi recebido por um chefe de nome Nachancan. Este encarregou-o
das coisas da guerra, no que ele foi grande perito, conseguindo várias vitórias sobre os inimigos de seu senhor. Ensinou os índios a com bater, a construir fortes
e bastiões; deste modo, e se com portando como um índio, adquiriu uma grande reputação. Assim, casaram-no com uma mulher de alta categoria, de quem teve filhos,
o que foi a causa de nunca ter tentado fugir, como fez Aguilar; muito pelo contrário, cobriu o pró prio corpo de pinturas, deixou crescer o cabelo, furou as orelhas
para usar brincos como os índios, e é possível que se tenha tornado idólatra como eles" (3).
Trata-se, portanto, de uma identificação completa: Guer rero adotou a língua e os costumes, a religião e os modos. Não é surpreendente que se recuse a unir-se às
tropas de Cortez quando este desembarca no Yucatán, e justifique sua decisão, segundo Bernal Díaz, justamente a partir de sua integração à cultura indígena: "Fizeram-me
cacique, e até capitão, em tempo de guerra, ora. Tenho o rosto tatua do e as orelhas furadas. Que dirão os espanhóis ao ver-me assim? E depois, vejam meus filhinhos,
como são bonitos" (27). Pensa-se inclusive que Guerrero não manteve essa posição neutra e reservada, e chegou a combater os exér citos dos conquistadores, na liderança
das unidades yuca tecas; de acordo com Oviedo (II, 32, 2), teria sido morto, em 1528, pelo lugar-tenente de Montejo, Alonso de Avila, numa batalha travada contra
o cacique de Chectemal.
Curioso, por ilustrar uma das variantes possíveis da re lação com o outro, o caso de Guerrero não tem grande sig
nificação histórica e política (nisso também é o contrário do da Malinche): seu exemplo não é seguido, e hoje em dia vemos claramente que não podia sê-lo, não corres
pondia em nada à relação de forças existente. Somente trezentos anos mais tarde, na independência do México, veremos - mas em circunstâncias totalmente diferentes
- criolios tomarem o partido dos índios, contra os espanhóis.
Um exemplo mais interessante, por ser mais complexo, na submissão dos/aos índios, é o do conquistador Alvar Nufiez Cabeza de Vaca. Seu destino é extraordinário.
Parte inicialmente para a Flórida, numa expedição cujo chefe é Pánfilo de Narváez, que já tínhamos encontrado em outras circunstâncias. Naufrágio, iniciativas desastrosas,
calamida des de todos os tipos: o resultado é que Cabeza de Vaca e alguns de seus companheiros são obrigados a viver com os índios, e como eles. Depois fazem uma
longa viagem (a pé!), e emergem no México oito anos após sua chegada à Flórida. Cabeza de Vaca retorna à Espanha, e parte nova mente, alguns anos depois, desta vez
como chefe de uma nova expedição, no atual Paraguai. Esta expedição tam bém acaba mal, mas por outras razões: em conflito com seus subordinados, Cabeza de Vaca é
destituído e enviado, acorrentado, à Espanha. Segue-se um longo processo, que ele perde; mas deixa dois relatos, consagrados às suas duas viagens.
As opiniões de Cabeza de Vaca sobre os índios não apresentam uma grande originalidade: sua posição é bas tante similar à de Las Casas (de antes de 1550). Estima-os
e não quer fazer-lhes mal; se houver evangelização, deve ser feita sem violência. "Para fazer com que todos esses ho mens se tornem cristãos, e obedeçam à Vossa
Majestade Imperial, é preciso tratá-los com brandura; é o único meio seguro, e não o outro" (1, 32). Faz esta reflexão no mo mento em que está só entre os índios;
mas, quando se tor na governador no Rio de la Plata, não esquece a lição, e tenta colocá-la em prática em suas relações com os índios; esta é, sem dúvida, uma das
razões do conflito com os ou tros espanhóis. Mas essa "brandura" não o faz esquecer o
236
237
objetivo almejado, e ele declara, com muita naturalidade, durante o périplo na Flórida: "Estes índios são os mais obedientes que já encontramos, em todos os países,
e têm o melhor temperamento" (1, 30), ou ainda: "Ali a popula ção é muito bem disposta, eles servem os cristãos (os que são seus amigos) de muito bom grado" (1,
34). Na realida de, ele não exclui o recurso às armas, e relata em detalhes a técnica de guerra dos índios, "para que aqueles que um dia terão de lidar com estes
povos estejam cientes de seus modos e artifícios, o que será muito útil em tais circunstân cias" (1, 25); os ditos povos foram, desde então, extermina dos, e não
deixaram vestígios. Em resumo, ele nunca se afasta do Requerimiento, que promete a paz no caso de os índios aceitarem submeter-se, e a guerra se recusarem (cf. por
exemplo 1, 35).
Cabeza de Vaca distingue-se de Las Casas não somen te por agir, como Vasco de Quiroga, sobre os índios e não junto à corte, como também por seu conhecimento preci
so e direto do modo de vida deles. Seu relato contém uma descrição notável dos países e populações que descobre, detalhes preciosos da cultura material e espiritual
dos ín dios. Não é por acaso; sua preocupação é explicitada re petidas vezes: se escolhe um percurso, é "porque atraves sando o país podíamos observar melhor suas
particularida des" (1, 28); se descreve uma técnica, é "a fim de dar a ver e a conhecer o quanto a invenção e a indústria dos homens humanos são diversas e espantosas"
(1, 30); se se interessa por uma determinada prática, é "porque os homens desejam conhecer os modos e as práticas dos outros povos" (1, 25).
Mas é, evidentemente, no plano da identificação (pos sível) que o exemplo de Cabeza de Vaca é o mais interes sante. Para sobreviver, é obrigado a exercer dois ofícios.
O primeiro é o de mascate: durante aproximadamente seis anos, refaz incessantemente o percurso entre a costa e o interior, levando a cada um os objetos que lhe faltam,
mas que são disponíveis para o outro: alimentos, medicamentos, conchas, peles de animais, caniços para as flechas, cola. 'Esse ofício me convinha, eu ia e vinha
livremente, não
tinha nenhuma ocupação obrigatória, não era escravo. On de quer que me apresentasse era bem recebido, davam me de comer, e tudo isso graças às minhas mercadorias.
Essas viagens eram proveitosas para mim, observava por onde podia avançar, e me tornava conhecido dos habitan tes" (1, 16).
O segundo ofício de Cabeza de Vaca é ainda mais in teressante: torna-se curador ou, em outros termos, xamã. Não é uma escolha deliberada; devido a certas peripécias,
os índios decidem que Cabeza de Vaca e seus companhei ros cristãos podem curar os doentes, e pedem a eles que intervenham. No início os espanhóis ficam reticentes,
de claram-se incompetentes; mas, como os índios lhes cortam os víveres, acabam aceitando. As práticas a que se entre gam têm uma dupla inspiração: por um lado, observam
os curadores indígenas, e imitam-nos: apalpam, sopram so bre os doentes, sangram e cauterizam com fogo. Por outro lado, como garantia, recitam as orações cristãs.
"Nosso método consistia em fazer sobre eles o sinal da cruz, so prar sobre eles, e dizer um Pai Nosso e uma Ave Maria; rezávamos a Deus nosso Senhor que os curasse
o mais breve possível e que os inspirasse a tratar-nos bem" (1, 15). De acordo com o relato de Cabeza de Vaca, essas inter venções são sempre coroadas de sucesso,
e ele até ressus cita um morto...
Cabeza de Vaca adota os ofícios dos índios, e veste-se como eles (ou fica nu como eles), come da mesma forma que eles. Mas a identificação nunca é completa: há uma
ra zão "européia" para que o ofício de mascate lhe agrade, e orações cristãs em suas práticas de curador. Em momento algum esquece sua própria identidade cultural,
e essa afir mação lhe serve de amparo nas provas mais difíceis. "No meio de todos esses tormentos, meu único remédio e meu consolo era pensar na paixão de nosso
redentor Jesus Cristo, no sangue que tinha derramado por mim; e imagi nava o quão devia ter sido mais cruel o suplício dos espi nhos que ele tinha suportado" (1,
22). Tampouco esquece seu objetivo, que é partir e reencontrar os seus. "Posso
238
239
dizer que nunca perdi a esperança de que a misericórdia divina me tiraria daquele cativeiro, e não parava de dizer isso a meus companheiros" (1, 22). Apesar de sua
profun da integração à sociedade indígena, sente uma enorme alegria ao encontrar outros espanhóis: "Aquele dia foi para nós um dos mais felizes de nossas vidas"
(1, 17). O próprio fato de redigir uma história de sua vida indica claramente que pertence à cultura européia.
Portanto, Cabeza de Vaca não tem nada de Guerrero, e é impossível imaginá-lo liderando exércitos indígenas contra os espanhóis ou casando-se e tendo filhos mesti
ços. De resto, assim que reencontra "a" civilização no Mé xico, pega o navio para voltar à Espanha; nunca mais vol tará à Flórida, ao Texas ou ao norte do México.
E, no en tanto, esta longa estada deixa marcas nele, como se vê especialmente no relato do fim de seu périplo. Chega aos primeiros postos dos espanhóis acompanhado
de índios- amigos; encoraja-os a renunciar a qualquer ação hostil e garante que os cristãos não lhes farão nenhum mal. Mas estava subestimando a cobiça destes últimos,
e seu desejo de conseguir escravos; acaba sendo enganado por seus próprios correligionários. "Procurávamos assegurar a liber dade dos índios, e no momento em que
acreditávamos tê-la obtido, aconteceu o contrário. Eles los cristãosl tinham na verdade combinado de atacar os índios que tínhamos man dado de volta, com a garantia
de paz. Puseram o plano em prática, fazendo-nos perambular nos bosques durante dois dias, e ali ficamos sem água, perdidos e sem rumo defini do. Pensamos que todos
morreríamos de sede, sete dos nossos pereceram, e um grande número de índios amigos que os cristãos traziam, chegaram ao ponto de água que encontramos na segunda
noite somente dois dias depois, ao meio-dia" (1, 34). O universo mental de Cabeza de Vaca parece vacilar aqui, a incerteza quanto aos referentes de seus pronomes
pessoais contribui, já não há dois partidos, nós (os cristãos) e eles (os índios), mas três: os cristãos, os índios e "nós". Mas quem são esse "nós", exteriores
a am bos os mundos, por tê-los vivido "de dentro"?
Além desse embaralhamento da identidade, observa-se também, como é de esperar, identificações parciais muito mais controladas. São especialmente as dos monges fran
ciscanos, que, sem nunca renunciar a seu ideal ou a seu objetivo evangelizador, adotam facilmente o modo de vida dos índios; na verdade, uma coisa ajuda a outra,
o movi mento inicial de identificação facilita a assimilação em pro fundidade. "Quando o presidente Ida segunda Audiência] perguntou-lhes porque preferiam aqueles
religiosos los franciscanos] aos outros, os índios responderam: 'É porque andam vestidos pobremente, e descalços como nós; comem o que comemos, instalam-se conosco,
e falam mansamen te" (Motolinia, III, 4). A mesma imagem encontra-se nos Diálogos dos sacerdotes cristãos e indígenas, contados pe los antigos mexicanos: a primeira
palavra que eles põem na boca dos franciscanos é uma afirmação de semelhança:
"Não vos inquietai, evitai ver-nos como seres superiores; na verdade, somos apenas vossos semelhantes e também somos apenas gente comum e mais, somos homens da mes
ma espécie que vós, realmente não somos deuses. Tam bém habitamos a terra, bebemos também, também morre mos de frio, também sofremos com o calor, também so mos mortais,
também somos perecíveis" (1, 28-36).
Alguém como Cabeza de Vaca avança bastante na via da identificação, e conhece bem os índios que freqüenta. Mas, como já foi dito, não há nenhuma relação de implica
ção entre esses dois traços. A prova disso seria dada, se fosse necessário, pelo exemplo de Diego de Landa. Este franciscano deve sua celebridade a um duplo gesto,
decisi vo para o nosso conhecimento da história dos maias. É por um lado, o autor da Relación de las cosas de Yucatán, o documento mais importante sobre o passado
dos maias; é, por outro lado, o instigador de vários autos-de-fé públicos, em que serão queimados todos os livros maias existentes na época, como conta Landa em
sua Relación: "Encontramos muitos livros escritos com aquelas letras dos índios, e como não havia nenhum em que não houvesse superstição e mentiras do demônio, queimamos
todos; sofreram por isso amargamente e isso causou-lhes muito pesar" (41).
240
241
Na verdade, esse paradoxo do homem que simulta neamente queima e escreve livros não é realmente um pa radoxo: dissipa-se se observamos que Landa recusa qual quer
identificação com os índios e exige, ao contrário, que eles adotem a religião cristã; mas, ao mesmo tempo, está interessado em conhecê-los. Na realidade, há uma
suces são em seus gestos. Landa tinha permanecido no Yucatán de 1549 a 1562, ano do auto-de-fé descrito. Seus atos, que compreendem não somente a destruição dos
livros como também punições para os índios "heréticos", que são en carcerados, chicoteados e até executados por ordens suas, fazem com que seja chamado de volta
à Espanha para ser julgado (justificava o uso da tortura sobre os índios alegan do que de outro modo teria sido impossível obter deles qualquer informação). É inicialmente
condenado pelo Con selho das Índias, mas, em seguida, é absolvido por uma comissão especial e mandado de volta ao Yucatán, desta vez com os poderes mais importantes
de bispo. Redige seu livro na Espanha, em 1566, em parte para se defender das acusações que lhe fazem. Nota-se, pois, a completa se paração das duas funções: o assimilador
age no Yucatán; o erudito escreve livros na Espanha.
Outras personagens do clero da época combinaram esses dois traços: procuram converter todos os índios à religião cristã e, ao mesmo tempo, descrevem sua história,
seus modos, sua religião, dando sua contribuição para o conhecimento deles; mas nenhum deles comete os exces sos de Landa, e todos lamentam a queima dos manuscri
tos. Formam um dos dois grandes grupos de autores aos quais devemos o conhecimento de que atualmente dispo mos acerca do México antigo; há entre eles representantes
de diversas ordens religiosas, franciscanos, dominicanos, jesuítas. O outro grupo é constituído pelos autores índios on mestiços, que aprenderam o espanhol, ou lançam
mãó do alfabeto latino para escrever o nahuatl: são Muõoz Camargo, Alva Ixtlilxochitl, Bautista Pomar, Alvarado Tezo zomoc e outros (alguns textos são anônimos).
Em conjun to produzem uma massa incomparável de documentos,
mais rica do que a disponível acerca de qualquer outra so ciedade tradicional.
Duas figuras excepcionais dominam o conjunto das obras consagradas aos índios, e merecem um exame deta lhado: são Diego Durán e Bernardino de Sahagún.
242
243
Durán, ou a mestiçagem das culturas
Encontra-se um deslocamento da personalidade, reali zado de modo infinitamente mais complexo, no autor de uma das melhores descrições do mundo pré-colombiano, o
dominicano Diego Durán. Nasceu na Espanha (por volta de 1537); mas, à diferença de muitas outras personagens marcantes dessa época, virá viver no México aos cinco
ou seis anos de idade e será, portanto, formado in loco. Resul tará dessa experiência uma compreensão interna da cultu ra indígena que não seria igualada por ninguém
naquele século XVI. Pouco antes de morrer (em 1588), de 1576 a 1581, Durán redigirá uma Historia de las Indias de Nueva Espai e Is/as de la Tierra Firme (título
incoerente, e certa mente acrescentado a seu livro por outra pessoa), cujas duas primeiras partes tratam da religião dos astecas, e a terceira de sua história. Essas
obras só seriam publicadas no sé culo XIX.
A ambivalência de Durán é mais complexa porque sua vida não consiste em permanências alternadas na Es panha e no México, e também porque seu conhecimento da cultura
indígena é bem mais íntimo; é também uma posi 245
ção mais dramática. Há, por um lado, o cristão convicto, o evangelizador obstinado; este decide que a conversão dos índios exige um conhecimento mais profundo de
sua antiga religião. Mais exatamente, Durán concatena estas duas in ferências: 1. para impor a religião cristã, é preciso extirpar todos os vestígios da religião
pagã; 2. para conseguir eli minar o paganismo, é preciso conhecê-lo bem antes. "Os índios não encontrarão Deus enquanto não tiverem sido arrancadas as raízes, até
o menor vestígio da antiga religião. (...) Se tentarmos seriamente afastar a memória de Amalech, jamais conseguiremos, se não levarmos em conta, previa- mente, todas
as modalidades da religião na qual viviam" (1, "Introdução"). Toda a motivação explícita de Durán está nessas duas implicações, que ele não se cansa de repetir ao
longo de sua obra acerca da religião asteca, desde (lite ralmente) o primeiro parágrafo da primeira parte até o últi mo da segunda; ele vê aí a única razão que o
levou a em preender esse trabalho: "Minha única intenção era e é aler tar nossos sacerdotes contra as adivinhações e práticas idó latras dessa gente, de modo que
os sacerdotes fiquem conscientes e vigilantes em relação às sobrevivências das antigas crenças" (1, 19).
Para poder extirpar as idolatrias, é preciso aprender a reconhecê-las primeiro: Durán não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Ora, o clero de seu tempo, que se encarre
ga da evangelização, é ignorante. Os padres ficam satisfeitos com um conhecimento superficial da língua (duas expres sões lhe bastam, protesta Durán, "que nome dais
a isto?" e "vamos esperar", 1, 8); mas, sem dominar em profundida de a língua, é impossível compreender a cultura, e as pes soas deixam-se levar a interpretações
falaciosas, guiadas por esses dois auxiliares pérfidos que são a analogia e o wishful thinking. Durán conta que uma certa forma de ton sura, ligada às práticas pagãs,
era tomada por uma home nagem aos monges, por ser parecida com a sua. "Esfor çava-me em acreditar nessa explicação, dada em tão santa simplicidade, mas devo admitir
que na realidade ela pro vém de sua extrema ignorância e de sua não-compreensão
das palavras dos índios" (1, 5). Por isso, Durán censura aqueles que, como Diego de Landa ou como Juan de Zu marraga, primeiro bispo da Cidade do México, queimaram
os livros antigos, por terem dificultado ainda mais o trabalho de evangelização. "Aqueles que, no início, com um zelo fervoroso (mas pouco discernimento) queimaram
e des truíram todos os desenhos contendo as antigas tradições, cometeram um erro. Deixaram-nos no escuro - a ponto de os índios adorarem os ídolos em nossa presença
e não compreendermos nada do que acontece em suas danças, em seus mercados, em seus banhos públicos, em seus can tos (em que choram seus antigos deuses e senhores),
em suas refeições e banquetes" (1, "Introdução).
Há aí um debate, e alguns - que tinham tomado co nhecimento do trabalho a que Durán se dedicava - não hesitavam em acusá-lo de contribuir para um resultado exatamente
oposto ao que ele pretendia: a saber, reavivar as superstições antigas ao produzir um repertório tão deta lhado delas. Durán retruca que as sobrevivências da antiga
religião estão por toda parte (mas invisíveis para os igno rantes), e que os índios não precisam de seus trabalhos para recuperá-las. Se, todavia, fosse esse o caso,
"seria eu o primeiro a lançar essas coisas ao fogo, de modo que essa abominável religião fosse totalmente esquecida" (II, 3). Portanto, ele não é contra o princípio
dos autos-de-fé, sim plesmente duvida de que esse seja o meio apropriado de lutar contra o paganismo; assim se perde mais do que se ganha. É por isso que se entrega
com paixão ao trabalho:
"Quando meu livro tiver sido publicado, ninguém mais poderá fingir-se de ignorante" (1, 19).
Ora, uma vez conhecida a idolatria, deve-se prosse guir até que seja inteiramente eliminada: esta é a segunda afirmação de Durán, interessante justamente por seu
cará ter radical. A conversão deve ser total: nenhum indivíduo, nenhuma parcela do indivíduo, nenhuma prática, por mais fútil que possa parecer, deve escapar-lhe.
Não se deve fi car satisfeito, diz, com uma adoção dos ritos exteriores ao cristianismo, "como um macaco" (1, 17), o que, infelizmen
246
247
te, é muito freqüente: "Contentamo-nos com as aparências cristãs que os índios fingem para nós" (1, 8). Tampouco deve-se ficar feliz com a conversão da maioria:
basta uma ovelha sarnenta para contagiar todo o rebanho. "Nem todos seguem esses costumes, mas basta um no povoado para causar um grande malj' (JJ, 3). E, sobretudo,
não se deve pensar que basta limitar-se ao essencial: a mínima reminis cência da antiga religião pode perverter inteiramente o culto novo (e único certo). "Que o
servo de Deus não pen se que essas coisas têm pouca importância! Se não as com bater, se não as reprimir, mostrando sua cólera e seu des gosto, os índios ficarão
habituados à nossa permissividade e farão coisas de maior peso e gravidade. (...) Certas pes soas dirão que essas coisas são insignificantes. Eu digo que é uma forma
sutil de idolatria, além de ser um rito antigo" (1, 7). "Se persistir a menor lembrança das tradições anti gas entre eles, é preciso arrancá-la" (1, 17).
Quem rouba um vintém rouba cem: quem deixa sub sistir o mínimo vestígio de paganismo trai o próprio espírito da tradição cristà. "Que os ministros do culto não se
deixem levar pela moleza e negligência, pela preguiça e distração, e que proíbam os índios de praticar inclusive as pequenas coisas, como tonsurar a cabeça das crianças,
enfeitá-las com penas de pássaros selvagens, ou esfregar goma em suas cabeças ou testas, ou untá-los com breu, ou ungi-los com betume divino" (1, 5). Em seu zelo,
frei Durán chega a per seguir todos os restos de idolatria até nos sonhos dos índios. "Devem ser interrogados no confessionário acerca do que sonham; em tudo isso
pode haver reminiscências das antigas tradições. Ao tratar disso, seria aconselhável perguntar-lhes: 'O que sonhastes?' em vez de passar por cima disso como um gato
sobre a brasa. Nossa pregação deve ser consagrada à condenação e abominação de tudo isso" (1, 13).
O que mais irrita Durán é que os índios consigam in serir segmentos de sua antiga religião no seio das práticas religiosas cristãs, O sincretismo é um sacrilégio,
e é a este combate específico que se atém a obra de Durán: "Esta é
nossa principal intenção: prevenir o clero da confusão que pode existir entre as nossas festas e as deles. Os índios, si mulando a celebração das festas de nosso
Deus e dos san tos, inserem e celebram as de seus ídolos quando caem no mesmo dia. E introduzem seus antigos ritos no nosso ceri monial" (1, 2). Se numa determinada
festa cristã os índios dançarem de um certo modo: atenção, é uma maneira de adorarem seus deuses, bem na frente dos padres espanhóis. Se um determinado canto for
integrado ao ofício dos mor tos, são também os demônios que eles celebram. Se ofere cem flores e folhas de milho pela Natividade de Nossa Se nhora, é porque através
dela se dirigem a uma antiga deusa pagã. "Durante esses dias de festa, ouvia cantos louvando a Deus e aos santos que eram misturados com suas metá foras e coisas
antigas que só o demônio compreende, pois foi ele quem lhas ensinou" (II, 3). Durán chega a se pergun tar se os que vão à missa na catedral da Cidade do México não
o fazem, na verdade, para poder adorar os antigos deuses, já que suas representações na pedra foram usadas para construir o templo cristão: as colunas da catedral,
nes sa época, repousam sobre serpentes emplumadas!
Se o sincretismo religioso é a forma mais escandalosa da persistência das idolatrias, as outras formas não são me nos repreensíveis, e o perigo está, justamente,
em sua mul tiplicidade. Numa sociedade profundamente hierarquiza da, codificada e ritualizada, como a dos astecas, tudo está ligado, de perto ou de longe, à religião:
Durán tem razão, afinal de contas. Por mais que sinta prazer em assistir a certos espetáculos de teatro encenados na cidade, percebe seu caráter pagão: "Todas essas
farças eram extremamente divertidas e agradáveis, mas sua representação continha alusões secretas íà antiga religião]" (1, 6). Ir ao mercado, oferecer banquetes,
comer certas comidas (cães que não ladram, por exemplo), embriagar-se, tomar banhos: todos esses atos têm um significado religioso, e devem ser elimi nados! E Durán,
que não queima livros porque não acredi ta na eficácia desse gesto, não hesita em destruir objetos cuja relação mais ou menos remota com o culto antigo ele
248
249
percebe: "Eu mesmo demoli algumas dessas casas de banho construídas nos tempos antigos" (1, 19). Algumas pessoas certamente lhe diziam que eram apenas costumes,
e não superstições, ou decorações, e não imagens pagãs; um ín dio certa vez lhe disse, respondendo às suas reprimendas, que "aquela prática não se devia às tradições
antigas, mas era apenas o modo deles de fazer as coisas" (1, 20); às ve zes aceita o argumento, a contragosto, mas no fundo pre feriria as conseqüências radicais
de sua posição intransi gente: se toda a cultura asteca está impregnada dos antigos valores religiosos, que desapareça. "Superstição e idolatria estão presentes
por toda a parte: na semeadura e na co lheita, na conservação do grão, inclusive na lavoura e na construção das casas, nos velórios dos mortos e nos fune rais, nos
casamentos e nos nascimentos" (1, "Introdução"). "Gostaria que desaparecessem e fossem esquecidos todos os antigos costumes" (1, 20): todos!
Nesse ponto, Durán não exprime a opinião de todos os religiosos espanhóis no México; ele toma partido num conflito entre duas políticas em relação aos índios, que
são, simplificando, a dos dominicanos e a dos franciscanos. Os primeiros são rigoristas: a fé não se barganha, a conversão deve ser total, ainda que isso implique
uma transformação de todos os aspectos da vida dos conversos. Os outros são mais realistas: ou porque efetivamente ignoram as sobrevi vências da idolatria entre
os índios, ou porque decidem ignorá-las, o fato é que recuam diante da imensidão da ta refa (a conversão integral) e conformam-se com o presen te, mesmo que seja
imperfeito. Esta segunda política, que se imporá, revelará ser eficaz; mas é fato que o cristianis mo mexicano ainda traz vestígios de sincretismo.
Durán escolhe o partido rigorista, e dirige amargas censuras a seus adversários: 'Alguns religiosos diziam que não era necessário forçar aquela gente a respeitar
todas as festas que sobrevêm durante a semana, mas eu considero isso impróprio e errôneo, pois eles são cristãos e deviam saber disso" (1, 17). Uma santa indignação
arde em suas imprecações quando ele quer infligir punições severas a
seus colegas, tão culpados, segundo ele, quanto os here ges, pois não conservam a pureza da religião. "Os atos que descrevo deveriam ser julgados como casos para
a Inqui sição, e os religiosos que se comportam assim deveriam ser suspensos para sempre desse ofício" (1, 4). Mas o outro partido também fala alto, e Durán queixa-se
das injunções a que tem de se conformar, não falando mais acerca das antigas idolatrias; essa é certamente uma das razões pelas quais a obra de Durán ficou inédita
durante trezentos anos, e quase não foi lida.
Essa é uma das faces de Durán: um cristão rígido, in transigente, defensor da pureza religiosa. E pois, com certa surpresa que percebemos que ele próprio utiliza
facilmente a analogia e a comparação, para tornar as realidades mexi canas inteligíveis para seu leitor, presumidamente europeu; nada de condenável nisso, claro,
mas para alguém que professa a manutenção vigilante das diferenças, ele decidi damente vê muitas semelhanças. Os traidores são punidos do mesmo modo aqui e lá, e
as punições acarretam o mes mo sentimento de vergonha. A tribo adota o nome de seu líder, e a família, o de seu chefe: exatamente como nós fa zemos. Eles subdividem
o país em regiões, como na Espa nha, e sua hierarquia religiosa se parece com a nossa. Suas roupas lembram as casulas e suas danças, a sarabanda. Têm os mesmos ditados
e o mesmo gênero de narrações épicas. Brincando, falam e blasfemam, exatamente como os espanhóis, e, de resto, seu jogo alquerque lembra tanto o xadrez que pode-se
até confundi-los: nos dois as peças são pretas e brancas...
Algumas analogias de Durán parecem realmente um pouco forçadas; mas a surpresa do leitor transforma-se em estupefação quando ele descobre que as analogias são par
ticularmente abundantes no campo religioso! Não são mais os índios que tentam, mais ou menos conscientemente, misturar elementos pagãos com os ritos cristãos; é
o próprio Durán que descobre, nos antigos ritos pagãos, tal como eram praticados antes da conquista, elementos cristãos - cujo número acaba se tornando perturbador.
"As antigas cren
250
251
ças ainda são tantas, tão complexas, tão semelhantes às nossas em vários casos, que se encavalam. (...) Sempre tiveram seus próprios sacramentos e um culto divino
que coincide de vários modos com a nossa religião, como veremos ao longo desta obra" (1, "Introdução).
E, de fato, vemos coisas impressionantes! Pensavam que a festa de Páscoa era especificamente cristã? Mas, para a festa de Tezcatlipoca o templo é coberto de flores,
como fazemos na Sexta-Feira Santa. E as oferendas a Tlaloc são "exatamente" como as da Sexta-Feira Santa. Quanto ao fo go que se acende a cada cinqüenta e dois anos,
é como as velas que acendemos na Páscoa... O sacrifício em honra de Chicomecoatl o faz pensar numa outra festa cristã: "Era quase como a noite de Natal" (1, 14),
porque a multidão olha os fogos tarde da noite! Durán também não encontra nenhuma dificuldade em descobrir os ritos essenciais da religião cristã reproduzidos "exatamente"
no ritual asteca:
o grande tambor tocado ao pôr-do-sol é como os sinos da Ave Maria; a purificação asteca pela água é como a confis são. As penitências são muito semelhantes aqui
e lá, e tam bém os padres mendicantes. Ou melhor, não, as abluções astecas são como o batismo: água nos dois casos... "Con sideravam a água como purificadora do
pecado. Nisso os índios não estavam enganados, pois Deus colocou o sacra mento do batismo na substância da água, e é por ela que fomos lavados do pecado original"
(1, 19). E se isso não for o bastante, descobriremos que Tezcatlipoca, que tem múl tiplas encarnações, reduzidas a três para o ensejo, não é senão uma transformação
da Santíssima Trindade: "Eles reverenciavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e chama vam-nos Tota, Topiltzin e Yolometl. Estas palavras signifi cam Nosso Pai,
Nosso Filho e Coração dos Dois, honrando cada um deles separadamente e os três como um todo. Vê-se aqui a prova de que essa gente sabia algo acerca da Santíssima
Trindade" (1, 8).
O que vemos, sobretudo, é que Durán dá um jeito de descobrir semelhanças onde os idólatras, que ele mesmo arrasa, nunca tinham ousado procurá-las: pelo que ele diz,
bastaria obedecer à antiga religião, com algumas modifica ções, já que é a mesma que a nova! Durán clamava pela Inquisição e pelo anátema sobre aqueles que misturavam
os dois ritos, e até para os outros, profissionais do culto cristão, que não eram suficientemente severos para com os primeiros; mas que opinião teriam dele se soubessem
que confissão e batismo, Natal e Páscoa, e até a Santíssima Trindade, ao ver de Durán, não diferiam em nada dos ritos e conceitos próprios dos pagãos astecas? Aquilo
que ele considerava como a maior infâmia - o sincretismo religio so -, Durán o tinha em sua própria visão...
Para tantas semelhanças, só há duas explicações pos síveis. Segundo a primeira, que tem toda a preferência de Durán, se os ritos astecas lembram tanto os dos cristãos,
é porque os astecas já tinham recebido, num passado remo to, um doutrinamento cristão. "Interroguei os índios acerca de seus antigos pregadores. (...) Na verdade,
eram católi cos. Quando compreendi o saber que os índios tinham no que concerne às beatitudes do repouso eterno e à vida santa que se deve viver na terra para conseguir
essas coi sas, fiquei admirado. Mas tudo isso estava misturado com sua idolatria, sangrenta e abominável, que comprometia o bem. Menciono essas coisas simplesmente
porque acredi to que, na realidade, houve um pregador nestes países que deixou esses ensinamentos" (1, 9).
Durán vai além dessa afirmação geral, e especifica sua crença: o pregador em questão era São Tomás, e sua lem brança é preservada nos relatos astecas sob os traços
de Topiltzin, o que é apenas um Outro nome de Quetzalcoatl. A razão dessa identificação é uma outra semelhança, apontada por Durán. "Como eles também eram criaturas
divinas, racionais, e suscetíveis de salvação, Ele não pôde tê-los deixado sem um pregador do Evangelho. E se isso for verdade, esse pregador é Topiltzin, que veio
a este país. Segundo a história, ele era escultor, e cinzelava imagens admiráveis na pedra. Lemos que o glorioso apóstolo São To más era mestre artesão, nesse mesmo
ofício" (1, 1). Durán teria adorado encontrar provas dessa passagem do evan
252
253
gelizador um pouco mais tangíveis do que essas analogias; às vezes ele tem a impressão de estar na pista certa, mas, no último minuto, elas lhe escapam por entre
os dedos. Falam-lhe acerca de uma cruz gravada na montanha; infe lizmente, não se sabe mais onde se encontrava. Ele tam bém ouve dizer que os índios de uma certa
aldeia tinham um livro escrito em caracteres que não compreendiam. Corre para lá, mas para saber que o livro tinha sido quei mado há alguns anos. "Fiquei desolado
ao ouvir isso, por que o ljvro poderia ter esclarecido nossa suspeita de que podia ser o santo Evangelho em hebraico. Censurei com veemência os que o tinham queimado"
(1, 1). Esta falta de provas definitivas não impede Durán de escolher este títu lo para o capítulo consagrado a Quetzalcoatl: "Do ídolo chamado Quetzalcoatl, deus
dos cholultecas, altamente ve nerado e temido por eles, pai dos toltecas e dos espa nhóis, pois tinha anunciado a vinda destes" (1, 6).
De modo que Quetzalcoatl era o pai comum dos tol tecas e dos espanhóis! Às vezes, no entanto, uma dúvida cruel se apodera da alma de Durán, e ele percebe que uma
outra explicação para todas essas semelhanças é igualmen te possível. "Em muitos casos a religião cristã e as crenças supersticiosas encontraram um terreno comum.
E embora eu esteja convencido (por vários argumentos que descobri e que me firmaram na crença) que houve pregadores nes te país, meus argumentos não estão suficientemente
com provados para serem utilizados como provas definitivas. (...) Não é possível emitir uma opinião definitiva. Por ou tro lado, pode-se dizer que o demônio os persuadiu
e ins truiu a roubar e desfigurar o culto divino, de modo que ele seja honrado como Deus, pois tudo era uma mescla de mil superstições" (1, 16). "Ou, como afirmo,
nossa santa reli gião cristã era conhecida neste país, ou então o demônio, nosso maldito adversário, forçou os índios a executar as cerimônias da religião cristã
em seu próprio serviço e culto, sendo desse modo adorado e servido" (1, 3).
Que alternativa aterradora! Vai-se de um extremo a ou tro: ou astúcia diabólica particularmente pérfida, ou graça
divina excepcional. Durán não suporta a tensão da dúvida por muito tempo, na época em que escreve seu livro de história, isto é, 1580-1581, já tomou sua decisão:
os astecas são, nada mais nada menos, do que uma das tribos perdi- das de Israel. O primeiro capítulo de sua história abre-se com esta afirmação: "Afinal das contas,
poderíamos afir mar que, por sua natureza, eles são judeus e fazem parte do povo hebreu. Ao fazê-lo, não se corre o risco de come ter um grande erro, dadas as suas
maneiras de viver, suas cerimônias, seus ritos e superstições, seus presságios e fin gimentos, tão próximos dos judeus que não diferem em nada" (III, 1). As provas
dessa origem comum são também analogias: ambos fizeram uma longa viagem, multiplica ram-se rapidamente, tiveram um profeta, conhecerem ter remotos, receberam o maná
divino, provêm do encontro entre a terra e o céu e conhecem o sacrifício humano (para Durán uma semelhança só pode ser explicada pela difu são). E, se no livro sobre
a religião, Durán alternava com parações com os cristãos e comparações com os judeus, no livro de história ele praticamente só indica semelhanças entre ritos astecas
e ritos judaicos.
É bastante provável que o próprio Durán viesse de fa mília de judeus convertidos. Poder-se-ia ver aí a razão do zelo com que se concentra nas semelhanças e desconside
ra as diferenças: já devia ter-se dedicado, mais ou menos conscientemente, a uma atividade desse gênero, numa ten tativa de reconciliar as duas religiões, judaica
e cristã. Talvez ele já tivesse uma predisposição para a mestiçagem cultu ral; o fato é que o encontro que se dá nele, entre civilização indígena e civilização européia,
faz dele o exemplo mais acabado do mestiço cultural no século XVI.
O encontro dessas duas civilizações tão diferentes e a necessidade de conviverem só podem introduzir a dispari dade no coração de cada um, seja ele espanhol ou asteca.
Durán é antes de mais nada sensível à mutação que os ín dios sofrem. No fim da guerra de conquista, durante o sítio da Cidade do México, já aponta para a divisão
que reina entre os astecas. 'O país estava aflito e dividido. Alguns que-
254
255
riam fazer a paz com os espanhóis, ao passo que outros queriam a guerra. Alguns queriam destruir os estrangeiros e preparavam seu equipamento militar e construíam
muros e diques. Mas outros ficavam passivos, só queriam a paz, a calma e a salvaguarda de suas vidas e bens" (III, 76). Cin qüenta anos mais tarde, na época em que
escreve seus li vros, a divisão continua profunda, ainda que seu objeto, de militar, tenha-se tornado religioso; os índios também sa bem disso. Durán conta que tinha
descoberto que um ín dio insistia em suas práticas pagãs. "Censurei-o pelas bo bagens que tinha feito, e ele respondeu: 'Padre, não se es pante; ainda somos nepantia.'
Embora eu conhecesse o significado dessa palavra, isto é, 'no meio', insisti para que ele me dissesse a qual 'meio' se referia. Disse que, já que as pessoas ainda
não estavam bem firmes na fé, eu não de veria ficar assombrado por continuarem neutros; não eram guiados por nenhuma das duas religiões. Ou, melhor di zendo, acreditavam
em Deus e também seguiam seus anti gos ritos e costumes diabõlicos" (II, 3). Mas os espanhóis também não podem sair ilesos desse encontro, e Durán, sem saber, esboça
assim o que é também o seu retrato, ou melhor, escreve a alegoria de seu destino.
A sua mestiçagem manifesta-se de vários modos. O mais evidente, mas talvez também o mais superficial, é o fato de compartilhar o modo de vida dos índios, suas provações,
suas dificuldades; segundo ele, era essa a vida de muitos missionários. "Tornaram-se bichos com os bichos, índios com os índios, bárbaros com os bárbaros, homens
aliena dos de nossos modos e nação." Mas esse é o preço que de vem pagar para compreender: "Os que falam de fora, que nunca quiseram tomar parte nesses assuntos,
compreen dem pouca coisa" (II, 3). Nessa vida, às vezes ele chega a aceitar e até a adotar certos comportamentos, apesar de desconfiar de seu caráter idólatra, porque
prefere deixar pairar a dúvida, como diante de cantos provavelmente re ligiosos, quando não pode conter sua admiração: "Escutei esses cantos muitas vezes no decorrer
das danças públicas, e embora celebrassem seus senhores, ficava muito satisfeito
em ouvir tais louvores e tão grandes feitos. (...) Algumas vezes vi dançarem esses cantos juntamente com outros dedicados às divindades, e são tão tristes que fui
tomado de melancolia e de tristeza" (1, 21); ou porque perde as esperanças de modificar suas ovelhas, como quando des cobre que as flores que substituem as velas
numa cerimô nia cristã são, na verdade, uma reminiscência de Tezcatli poca: "Vejo essas coisas mas fico quieto, pois me dou conta de que todos consentem. Então pego
meu bastão florido como os outros e sigo" (1, 4).
Outras formas de mestiçagem cultural são menos cons cientes, e na verdade mais importantes. Em primeiro lugar, Durán é um dos raros indivíduos que realmente compreen
deram ambas as culturas - ou, em outras palavras, é capaz de traduzir os signos de uma para os da outra; devido a is so, sua obra é o ápice da atividade do conhecimento,
à qual os espanhóis do século XVI se dedicam em relação aos índios. O próprio Duran deixou um testemunho das dificul dades com que depara a prática da tradução.
"Todos os cantos deles são entremeados de metáforas tão obscuras que é quase impossível alguém compreendê-los, a menos que sejam estudados de modo muito especial
e que sejam explicados, para que seu significado se torne acessível. Por essa razão comecei, deliberadamente, a escutar com muita atenção o que era cantado; e se
no início as palavras e os termos das metáforas me pareciam incoerentes, após ter discutido e debatido, vejo que são sentenças admiráveis, tanto nos cantos relacionados
às coisas divinas que eles compõem atualmente, quanto nos relativos aos assuntos humanos" (1, 21). Vê-se aqui como o conhecimento acarre ta o julgamento de valor:
tendo compreendido, Durán não pode conter a admiração pelos textos astecas, apesar de se referirem às coisas divinas - isto é, idólatras.
O resultado dessa compreensão é a inestimável obra sobre a religião asteca, produzida por Durán - inestimável, pois ele é praticamente o único que não se contenta
em descrever do exterior, ainda que com benevolência e aten ção, mas que tenta, pelo menos, compreender o porquê
256
257
das coisas. "A cabeça de Tezcatlipoca era rodeada por um círculo de ouro polido, que terminava numa orelha de ouro, com baforadas de fumaça": eis a descrição, preciosa,
sem dúvida, mas em si incompreensível. A explicação, ou melhor, a associação corrente, aparece em seguida: "Isso significava que ele escutava as orações e os pedidos
dos desgraçados e dos pecadores" (1,. 4). Ou ainda: "Quando o sacerdote matava as duas mulheres nobres, excepcional mente, para significar que tinham morrido virgens,
suas pernas eram cruzadas uma por sobre a outra, enquanto os braços eram estendidos, como de hábito" (1, 16): a indica ção da finalidade permite compreender qual
o sentido das evocações simbólicas dos astecas. Talvez nem tudo o que Durán sugere seja verdade: pelo menos ele tem o mérito de procurar respostas.
Uma outra manifestação fascinante da mestiçagem cul tural pode ser notada na evolução do ponto de vista a par tir do qual é escrita a obra de Durán. Em seu livro
acerca da religião, como vimos, os dois pontos de vista, asteca e espanhol, são diferenciados, ainda que existam passagens de um para o outro; mas o sincretismo
arraigado de Durán coloca em perigo qualquer repartição nítida. O livro de his tória, posterior ao primeiro, é ainda mais complexo nesse ponto. Contudo, á primeira
vista, a intenção de Durán é simples: é a de um tradutor, no sentido mais estrito da pa lavra. Ele diz que tem diante de si um manuscrito redigido em nahuatl, que
traduz para o espanhol, confrontando-o esporadicamente com outras fontes, ou esclarecendo as passagens obscuras para o leitor espanhol; é a célebre e enigmática
"Crônica X" (assim chamada pelos especialistas da atualidade), admirável afresco épico da história asteca, cujo original é desconhecido, mas serviu igualmente de
pon to de partida para os livros de Tezozomoc e de Tovar. "Mi nha única intenção foi traduzir o nahuatl para nossa pró pria língua espanhola" (III, 18). Não deixa
de indicar, quan do é preciso, a diferença entre seu ponto de vista pessoal e o do relato asteca. "Tudo isso me pareceu tão inacreditá vel que, se não seguisse minha
Crônica e se não tivesse
encontrado a mesma coisa em vários outros manuscritos pintados ou escritos, não ousaria afirmar essas coisas, te mendo que me tomem por um mentiroso. Quem traduz
uma história não deve fazer um romance daquilo que encontra escrito na língua estrangeira; e eu obedeci a essa regra" (III, 44). Seu objetivo não é uma verdade pela
qual ele se responsabilizaria, mas a fidelidade em relação a uma outra voz; o texto que nos oferece é não somente uma tradução, mas também uma citação: Durán não
é o sujeito da enun ciação das frases que lemos. "Devo escrever a verdade, segundo os relatos e as crônicas dos índios" (III, 74): evi dentemente, é outra coisa
contar somente a verdade.
Mas esse projeto não é mantido ao longo de todo o livro. Quando Durán diz: "Meu único desejo é falar da nação asteca, de suas grandes proezas e de seu destino infeliz,
que a levou à perdição" (III, já não menciona um su jeito do discurso intermediário entre ele e a história dos as tecas: ele mesmo tornou-se o narrador. E vai ainda
mais longe numa outra comparação: "O rei ordenou que escul pissem e consagrou estátuas de pedra para perpetuar a me mória deles [ membros de sua famílial, já que
o Estado asteca tinha sido muito beneficiado quando estavam vivos. Os historiadores, com suas histórias, e os pintores, por\ meio de seus pigmentos, com o pincel
de sua curiosidade, pintaram a vida e os feitos desses valentes cavaleiros e se nhores, com as cores mais vivas. De modo que sua glória voou com a luz do sol, atingindo
todas as nações. Nesta minha história, eu também quis narrar sua glória e sua me mória, para que aqui se perpetuem, enquanto durar meu próprio livro. Esses homens
serão assim imitados por to dos os amantes da virtude e sua lembrança será bendita, porque são amados por Deus e pelos homens; e serão en tão iguais aos santos em
sua apoteose" (III, 11).
Parece que estamos sonhando: longe de se restringir ao papel de um modesto tradutor, mesmo auxiliado por um "anotador", Durán reivindica para si mesmo o lugar de
historiador, cuja função é perpetuar a glória dos heróis. E fará isso do mesmo modo que as imagens, esculpidas ou
258
259
pintadas, deixadas pelos próprios astecas - exceto pelo fato de visualizar os heróis semelhantes aos santos do paraíso cristão, o que provavelmente não acontecia
com os pinto res astecas. Durán identifica-se portanto, completamente, ao ponto de vista asteca - e, no entanto, não, pois nunca põe em dúvida sua fé cristã, e a
última parte do livro diz:
"Concluirei esta obra para a honra e para a glória de Nosso Deus e Senhor, e de sua mãe bendita, a soberana Virgem Maria, e submetê-lo-ei ao exame de nossa santa
mãe a Igreja Católica, de quem sou servo e filho, e sob cuja pro teção prometo viver e morrer, como verdadeiro e fiel cris tão" (III, 78). Nem espanhol nem asteca,
Durán é, como a Malinche, um dos primeiros mexicanos, O autor do relato histórico original (a "Crônica X") devia ser um asteca; o leitor de Durán, forçosamente,
um espanhol; Durán é um ser que permite a passagem de um ao outro, e ele mesmo é a mais notável de suas obras.
É no relato da conquista que a fusão dos pontos de vista se manifesta de modo mais claro. Na verdade, no que se refere à história mais antiga, Durán só podia se
basear num único tipo de testemunho, os relatos tradicionais, e estes encarnavam um ponto de vista consistente. Ora, no que se refere à conquista, o próprio ponto
de vista asteca não é mais totalmente coerente. No início, o relato apre senta Montezuma como um rei ideal, na tradição das ima gens dos reis precedentes. "Era um
homem maduro, reca tado, virtuoso, muito generoso e de um espírito inflexível. Era dotado de todas as virtudes que podiam ser encontradas num bom principe, suas
opiniões e conselhos sempre eram corretos, particularmente para as coisas da guerra" (III, 52). Mas um julgamento assim causa problemas, pois não permite mais compreender
de dentro as razões do desaba mento do Império Asteca. Como vimos, nada é mais insu portável para a mentalidade histórica dos astecas do que esse acontecimento totalmente
exterior à sua própria his tória. Torna-se necessário encontrar nela razões suficientes para o fracasso de Montezuma; é, segundo o cronista aste ca, seu orgulho
desmedido. "Ele verá e sentirá em breve o
260
seu destino, e isso acontecerá porque ele quis fazer mais do que Deus" (III, 66). "Está embriagado por sua soberba. (...) Irritou o Deus de todas as coisas criadas
e buscou ele mesmo o mal que lhe acontecerá" (III, 67). De modo se melhante, o manuscrito Tovar, derivado da mesma "Crôni ca X" e com um espírito parecido, traz
uma ilustração que atribui a mestiçagem ao próprio imperador Montezuma (cf. fig. 15): ele é apresentado sob os traços de um homem barbudo, de aspecto europeu, embora
paramentado com os atributos de um chefe asteca; uma personagem assim evidentemente prepara a transição entre astecas e espa nhóis, e a torna menos chocante.
Essas frases, no livro de história de Durán, apesar de
provirem, provavelmente, da crônica original, já revelam a
influência cristã. Mas se o cronista asteca começa a referir-se
Fig 19- Retrc de Montezum li in Manuscrit Tovar, John Carter
Brown Library, Providence, R. 1., Estados Unidos
261
a seus compatriotas como "eles", Durán fará o mesmo em relação aos espanhóis! Ambos estão alienados de seu meio de origem; o relato que resulta de seus esforços
conjuntos é, portanto, inextricavelmente ambivalente. Progressiva- mente, a diferença entre os dois desaparece, e Durán começa a assumir diretamente o discurso que
enuncia. Por isso introduz, pouco a pouco, outras fontes de saber (re nunciando a seu ideal de fidelidade e abraçando o de ver dade), especialmente os relatos dos
conquistadores. O que o obriga a confrontar as várias fontes, pois freqüentemente elas discordam, e a escolher, entre as várias versões de um acontecimento, aquela
que ele possa autenticar pessoal- mente. "Foi difícil acreditar naquilo, e não encontrei ne nhum conquistador que me esclarecesse. Mas como todos negam as coisas
mais óbvias e evidentes, e mantiveram o silêncio a esse respeito em suas histórias, escritos e narra ções, também negarão esta e não lhe farão menção, por que foi
um erro e uma atrocidade extrema" (III, 74). "Disso minha Crônica não fala e não menciona; mas por tê-lo ou vido de pessoas dignas de fé, escrevo-o aqui. (...) Minha
razão para acreditar neles e preferir dizer uma coisa em vez de outra decorre do fato de ter sido certificada pela boca de um conquistador religioso" (III, 74).
"Mesmo se a Crônica não conta isso, não creio que a virtude dos nos sos fosse grande o bastante para aconselharem aquelas mu lheres a perseverar em sua castidade,
honestidade e reca to" (III, 75).
Assim, a história da conquista contada por Durán é sen sivelmente diferente dos relatos indígenas dos mesmos fa tos, e situa-se a meio-caminho entre eles e uma história
espanhola como a de Gomara. Durán eliminou de sua re lação todos os mal-entendidos que porventura persistissem nos relatos astecas, indica os motivos dos conquistadores
tais como provavelmente se apresentavam a um espanhol da época. O relato do massacre perpetrado por Alvarado no templo da Cidade do México é exemplar nesse sentido,
e é explicitamente assumido por Durán. Aqui está um pe queno trecho: "Os sacerdotes tiraram uma grossa viga e
fizeram-na rolar desde o alto do templo. Mas dizem que ela se chocou com os primeiros degraus, e que sua queda foi interrompida. Consideram que aquilo era um milagre,
e real mente era, pois a bondade divina não quis que aqueles que tinham cometido um ato tão vil e cruel [ o ataque ao templo, portanto, os espanhóis] fossem para
o inferno com os outros, mas que ficassem vivos para fazer penitência. Mas sua selvageria era tanta que, não reconhecendo esse favor e essa graça divina que permitia
que se salvassem de tão grande perigo, mataram todos os sacerdotes e tenta ram jogar o ídolo escada abaixo" (III, 75).
Nessa cena, em que os soldados espanhóis atacam o templo de Huitzilopochtli e derrubam os ídolos, Durán vê a intervenção da misericórdia divina - mas onde não se
es perava que estivesse: Deus salvou os espanhóis unicamen te para que pudessem expiar os pecados; derrubar o ídolo e matar seus sacerdotes significava recusar essa
graça. Por pouco tomaríamos Huitzilopochtli por um profeta de Deus ou por um santo cristão; o ponto de vista de Durán é si multaneamente índio e cristão. Justamente
por isso, Durán não se parece com nenhum dos grupos de que faz parte:
nem os espanhóis nem os astecas do tempo da conquista podiam pensar como ele. Tendo acedido ao status de mes tiço cultural, Durán, sem saber, teve de abandonar o
de mediador e intérprete, que tinha escolhido. Afirmando sua própria identidade mestiçada ante os seres que procura descrever, não consegue mais realizar seu projeto
de com preensão, pois atribui às suas personagens pensamentos e intenções que só cabem a ele e aos outros mestiços cultu rais de seu tempo. O domínio do saber leva
a uma aproxi mação com o objeto observado; mas essa aproximação, justamente, bloqueia o processo do saber.
Não é de espantar que Durán emita opiniões profun damente ambíguas, para não dizer contraditórias, acerca dos índios e de sua cultura. Não há dúvidas de que ele
não os considera nem bons selvagens nem animais des providos de razão; mas não sabe muito bem como conci liar os resultados de suas observações: os índios possuem
262
263
uma organização social admirável, mas sua história só con tém crueldade e violência; são homens extraordinariamente inteligentes e, no entanto, se mantêm cegos em
sua fé pagã. Assim, Durán finalmente opta por não optar, e por manter, com toda a honestidade, a ambivalência de seus sentimen tos. "Esse povo era em parte bem organizado
e civilizado, mas, por outro lado, era tirânico e cruel, repleto de som bras dos castigos e da morte" (1, "Introdução"). "Cada vez que me atenho ao exame das coisas
pueris nas quais fun damentavam sua fé, sou tomado de espanto diante da igno rância que os cegou - um povo que não era nem ignorante nem bestial, mas hábil e sábio
em todas as coisas munda nas, especialmente as pessoas de valor" (1, 12). No que diz respeito aos espanhóis, ao contrário, Durán está bem deci dido; aproveita todas
as ocasiões para condenar os que pregam a fé com uma espada na mão; nisso a sua posição não é muito diferente da de Las Casas, este outro domini cano, ainda que
suas expressões sejam menos virulentas. Isto coloca Durán numa grande perplexidade quando ele tem de pesar os prós e os contras de tudo o que resultou da conquista.
"Foi no ano Um Caniço [ calendário aste ca] que os espanhóis chegaram a estas terras. O benefício para as almas [ índios] foi algo grande e venturoso, pois eles
receberam a nossa fé, que se expandiu e conti nua a se expandir. Mas, quando sofreram mais do que na quele ano?" (II, 1).
No plano axiológico, assim como no da práxis, Durán é um ser dividido: um cristão convertido ao indianismo que converte os índios ao cristianismo... Nenhuma ambi
güidade, entretanto, no plano epistêmico: o êxito de Durán é incontestável. E, no entanto, não era esse o seu projeto explícito: "Eu poderia contar muitos outros
divertimentos, farças e troças, os jogos e as representações. Mas não é esse o objetivo de minha crônica, pois desejo unicamënte expôr o mal que então existia, de
modo que atualmente, se se desconfiar, ou pressentir, sua volta, seja possível cor rigi-lo, e extirpá-lo como convém" (II, 8). Temos sorte que esse projeto utilitário
tenha sido suplantado por um outro,
certamente proveniente do fato de Durán ser, em seus pró prios termos, "um eterno curioso que gosta de fazer per guntas" (1, 8). Para nós, conseqüentemente, será
sempre uma figura exemplar daquilo que ele mesmo chama de "o desejo de saber" (1, 14).
264
265
A obra de Sabagún
Bernardino de Sahagún nasceu na Espanha, em 1499; adolescente, estudou na Universidade de Salamanca, e pos teriormente ingressou na ordem dos franciscanos. Em 1529,
chegou ao México, onde permaneceria até sua morte, em 1590. Sua carreira não tem nenhum acontecimento extraor dinário: é a de um letrado. Dizem que era tão belo
quan do jovem que os outros franciscanos não queriam que se mostrasse em público; e que, até morrer, observava escru pulosamente o ritual de sua ordem e as obrigações
dela decorrentes. "Era doce, humilde e pobre, muito discreto ao falar e afável com todos", escreve seu contemporâneo e companheiro Gerónimo de Mendieta (V, 1, 41).
A atividade de Sahagún, um pouco como a do intelec tual moderno, tem duas grandes orientações: o ensino e a escrita. Sahagún era, inicialmente, gramático ou "lingüista";
no México, aprende nahuatl, seguindo o exemplo de seus predecessores religiosos, como Olmos e Motolinia. Este fato em si já é bastante significativo. Normalmente,
é o vencido que aprende a língua do vencedor. Não é por acaso que os primeiros intérpretes são índios: os que Colombo levou
267
para a Espanha, os que vêm das ilhas já ocupadas pelos es panhóis ("Julián" e "Melchior"), a Malinche, ofertada aos espanhóis como escrava. Do lado espanhol também,
apren de-se a língua quando se está em posição de inferioridade:
é o caso de Aguilar e de Guerrero, obrigados a viver entre os maias ou, mais tarde, Cabeza de Vaca. É impossível ima ginar Colombo, ou Cortez, aprendendo a língua
daqueles que subjugam, e o próprio Las Casas nunca chegou a do minar a língua indígena. Os franciscanos e outros religiosos vindos da Espanha são os primeiros a
aprender a língua dos vencidos, e ainda que este gesto seja completamente interessado (deve servir à propagação da religião cristã), tem muita significação: mesmo
que seja unicamente para melhor assimilar o outro a si, começa-se por se assimilar, pelo menos parcialmente, a ele. Várias implicações ideoló gicas desse ato já
são percebidas na época, já que, em car ta inacabada ao papa, em 1566, Las Casas conta que "certas pessoas indignas se apresentam diante de Vossa Beatitude e depreciam
os bispos que aprendem a língua de suas ovelhas"; e que os superiores das ordens agostiniana, domi nicana e franciscana no México pedem à Inquisição, em pe tição
de 16 de setembro de 1579, que proíba que a Bíblia seja traduzida para as línguas indígenas.
Sahagún aprende bem a língua nahuatl e torna-se pro fessor de gramática (latina) no Colégio de Tlatelolco desde a sua fundação, em 1536. Este colégio, destinado
à elite me xicana, recruta seus alunos entre os filhos da antiga nobre za; o nível dos estudos elevou-se rapidamente. O próprio Sahagún conta mais tarde: "Os espanhóis
e os monges de outras ordens que souberam disso riam muito e zomba vam de nós, considerando fora de dúvida que ninguém se ria capaz de ensinar gramática para gente
que possuía tão poucas aptidões. Mas após termos trabalhado com eles por dois ou três anos, conseguiram impregnar-se de tudo o que concerne à gramática, falar, compreender
e escrever em latim, e até compor versos heróicos" (X, 27).
Podemos ficar pensativos diante dessa rápida evolu ção dos espíritos: por volta de 1540, nem vinte anos após o
cerco da Cidade do México por Cortez, os nobres mexica nos compõem versos heróicos latinos! Também é notável o fato de a instrução ser recíproca: enquanto introduz
os jo vens mexicanos nas sutilezas da gramática latina, Sahagún aproveita esse contato para aperfeiçoar seu conhecimento da língua e da cultura nahuatl; ele conta:
"Como já estão instruídos na língua latina, fazem-nos compreender as pro priedades das palavras e de seus modos de falar, assim como as coisas incongruentes que
dizemos em nossos ser mões ou inserimos em nosso ensino. Corrigem tudo isso, e nada do que deve ser traduzido para a sua língua pode estar livre de erros se não
for examinado por eles" (ibid.).
Os rápidos progressos dos estudantes mexicanos pro vocam tanta hostilidade no meio ambiente quanto o inte resse dos monges pela cultura dos outros. Um certo Ge rónimo
Lopez, depois de visitar o Colégio de Tlatelolco, escreve a Carlos V: "É bom que eles saibam o catecismo, mas saber ler e escrever é tão perigoso quanto aproximar-
se do diabo"; e Sahagún explica: "Quando os leigos e os religiosos ficaram convencidos de que os índios progre diam e eram capazes de mais ainda, começaram a contra
riar o negócio e a levantar muitas objeções no intuito de impedir que prosseguisse. (...) Diziam que, já que aquela gente não devia ingressar nas ordens, de que
servia ensi nar-lhes gramática? Desse modo, eles corriam o risco de se tornarem hereges, e diziam também que, vendo as Santas Escrituras, eles compreenderiam que
os antigos patriarcas tinham muitas mulheres ao mesmo tempo, exatamente como era costume entre eles" (ibid.). A língua sempre acompa nhou o império; os espanhóis
temiam que, perdendo a su premacia numa, pudessem perdê-la também no outro.
A segunda orientação dos esforços de Sahagún é a es crita, para a qual utiliza, evidentemente, os conhecimentos adquiridos durante o tempo em que ensinava. É o autor
de vários escritos, alguns deles perdidos, todos funcionando como intermediários entre as duas culturas que ele tinha adotado: quer apresentem a cultura cristã aos
índios quer, inversamente, destinem-se aos espanhóis, registram e des
268
269
crevem a cultura nahuatl. Esta atividade de Sahagún tam bém depara com vários obstáculos. É quase um milagre que seus escritos, e particularmente sua Historia, tenham
sido preservados até hoje. Ele está constantemente à mercê de seu superior hierárquico, que tanto pode encorajá-lo como tornar seu trabalho impossível. Num determinado
mo mento, alegando que a empreitada é dispendiosa demais, cortam-lhe os créditos: "Foi ordenado ao autor que dis pensasse seus copistas, e que escrevesse tudo com
sua própria mão. Ora, como ele tinha mais de setenta anos de idade, e suas mãos tremiam, não pôde escrever nada, e a ordem supracitada não pôde ser suspensa durante
mais de cinco anos" (II, "Prólogo"). "Não pude fazer melhor, escreve, por falta de ajuda e proteção" (1, "Ao sincero leitor"). Ge rónimo de Mendieta escreve sobre
ele estas frases amar gas: "Esse pobre monge teve tão pouca sorte, a propósito de seus vários escritos, que esses mesmos onze livros de que falo lhe foram habilmente
subtraídos por um governa dor do país que os enviou à Espanha, para um cronista que pedia escritos acerca das Índias, que certamente serão usados como papel de embrulho
nas mercearias. Quanto aos seus trabalhos que ficaram entre nós, só pode impri mir cânticos para serem usados pelos índios nos dias de festa de Nosso Senhor e de
seus Santos" (V, 1, 41). Os ou tros escritos serão impressos nos séculos XIX e XX.
A obra principal de Sahagún é a Historia general de las cosas de Nueva Espa O projeto desta obra nasceu, co mo no caso de Durán, de considerações religiosas e prose
litistas: para facilitar a expansão do cristianismo, Sahagún se propõe a descrever em detalhes a antiga religião dos mexicanos. Assim ele mesmo se explica: "Foi
obedecendo às ordens de meu prelado mayor que descrevi em língua mexicana o que me parece ser o mais útil para o dogma, a cultura e a duração do cristianismo entre
os nativos da Nova Espanha, e que seria, ao mesmo tempo, o mais apropriado para servir de apoio para os ministros e colaboradores que os doutrinam" (II, "Prólogo").
É preciso conhecer os modos dos futuros conversos, assim como para curar uma doença
é preciso conhecer o doente: essa comparação é utilizada por ele noutra ocasião. "O médico não poderia prescrever com exatidão remédios para seu doente sem conhecer
pri meiramente o humor e as causas de que procede a doen ça (...), os pregadores e os confessores são os médicos das almas e, para curar as doenças espirituais,
convém que co nheçam os remédios e as doenças. (...) Os pecados da ido latria, seus ritos, suas superstições e presságios, seus abu sos e cerimônias não desapareceram
totalmente. Para pregar contra essas coisas, e para saber se ainda existem, é neces sário saber como eram usadas no tempo da idolatria" (1, "Prólogo"). Durán, por
sua vez, dizia: "Os campos da cul tura e as árvores frutíferas não germinam em solo inculto, coberto de ervas e de mato, a menos que sejam extirpadas todas as raízes
e cepos" (1, "Introdução"). Os índios são essa terra e esse corpo passivos, que devem receber a in seminação viril e civilizada da religião cristã.
Esta atitude, aliás, estaria perfeitamente de acordo com a tradição cristã: "O divino Agostinho não achou que fosse coisa vã ou supérflua tratar da teologia fabulosa
dos Gen tios, no sexto livro d'A cidade de Deus; porque, como ele mesmo diz, uma vez conhecidas as fábulas e vás ficções que os Gentios empregavam, em relação a
seus falsos deu ses, tornava-se mais fácil convencê-los de que não eram deuses e que, de sua essência, não podia decorrer nada de útil para seres razoáveis" (III,
"Prólogo"). Este projeto está de acordo com milhares de ações praticadas por Sahagún no decorrer de sua vida: redação de textos cristãos em nahuatl, participação
na prática de evangelização.
Mas, além desse motivo declarado, existe um outro, e é a presença conjunta dos dois objetivos a responsável pela complexidade da obra: é o desejo de conhecer e preservar
a cultura nahuatl. Este segundo projeto começou a ser exe cutado antes do primeiro. Com efeito, a partir de 1547, Sa hagún recolhe um conjunto de discursos rituais,
os bue huetlatolli, espécie de filosofia moral aplicada dos astecas; e, a partir de 1550, começa a registrar os relatos indígenas da conquista; o primeiro projeto
da Historia só adquire
270
271
forma a partir de 1558, quando Sahagún se encontra em Tepepulco. Mas o mais importante aqui é que esse segun do projeto, o conhecimento da cultura dos antigos mexica
nos, decide o método que será empregado na redação da obra, o qual, por sua vez, é responsável pelo texto tal qual se nos apresenta hoje em dia,
Na verdade, a preocupação que preside a construção da obra é menos a procura do melhor meio de converter os índios do que a fidelidade em relação ao objeto descri
to; o conhecimento ganha precedência sobre o interesse pragmático, num grau ainda mais alto do que em Durán. É isso o que leva Sahagún às suas decisões mais importan
tes: o texto será composto a partir de informações recolhi das junto às testemunhas mais dignas de fé; e, para garan tir sua fidelidade, ficarão consignadas na língua
dos infor mantes: a Historia será escrita em nahuatl. Num segundo momento, Sahagún decide acrescentar uma tradução livre, e colocar ilustrações no conjunto. O resultado
é uma obra de grande complexidade estrutural, onde três media se entrelaçam continuamente, o nahuatl, o espanhol e o de senho.
Inicialmente, é preciso escolher bem os informantes, e certificar-se, por múltiplos cruzamentos de informação, da exatidão de seus relatos. Sahagún, que é, na história
oci dental, um dos primeiros a recorrer a essa prática, cumpre sua tarefa com um escrúpulo exemplar. Durante sua estada em Tepepulco, de 1558 a 1560, reúne à sua
volta alguns notáveis da cidade. "Expus diante deles o que me propu nha a fazer e pedi-lhes que me fornecessem algumas pes soas hábeis e experientes, com as quais
eu pudesse discutir, e que estivessem aptas a satisfazer-me em tudo o que eu lhes pedisse" (II, "Prólogo"). Os notáveis se retiram e vol tam no dia seguinte com
uma lista de doze anciões parti cularmente peritos nos assuntos antigos. Sahagún, por sua vez, convoca seus quatro melhores alunos do colégio de Tlatelolco. "Durante
quase dois anos discutia freqüentemen te com aqueles notáveis e gramáticos, igualmente gente de qualidade, seguindo o plano que tinha feito. Puseram em
imagens o que constituía o assunto de nossas entrevistas (pois essa era a escrita que utilizavam noutros tempos), e os gramáticos formularam-no em sua língua, escrevendo
abaixo do desenho" (ibid.).
Sahagún volta a Tlatelolco em 1561, e permanece ali até 1565; a operação inicial é repetida: os notáveis esco lhem os especialistas, ele chama seus melhores discípulos:
"Durante mais de um ano, fechados no colégio, corrigiu- se, escreveu-se, completou-se tudo o que eu já tinha escrito em Tepepulco, e fizemos uma nova cópia" (íbid.).
É nesse momento que se constitui o essencial do texto definitivo. Finalmente, a partir de 1565, está na Cidade do México, e todo o trabalho é mais uma vez revisto:
é então que ele chega a uma divisão em doze livros, incluindo em seu pla no materiais reunidos anteriormente, sobre a filosofia mo ral (que se tornam o livro VI)
e sobre a conquista (livro X "Ali, durante três anos, revisei sozinho, várias vezes, meus escritos, e fiz correções; dividi-os em doze livros, e cada um dos livros
em capítulos e parágrafos. (...) Os me xicanos corrigiram e acrescentaram várias coisas a meus doze livros, enquanto tratávamos de passá-los a limpo" (ibid.). Em
todo o decorrer de seu trabalho Sahagún con sulta, além de seus informantes, os codex antigos onde a história dos mexicanos está consignada por meio de ima gens,
e pede que lhas expliquem; sua atitude em relação a isso é o inverso da de Diego de Landa e idêntica à de Diego Durán. Ele relata a existência dos autos-de-fé, mas
acres centa: "Conservaram-se vários deles, que foram escondidos, e que nós vimos. São conservados até hoje, e foi graças a eles que pudemos compreender suas tradições"
(X, 27).
Depois de o texto nahuatl ter sido definitivamente esta belecido, Sahagún decide acrescentar uma tradução. Essa decisão é tão importante quanto a primeira, senão
mais, (encontrar os melhores especialistas e controlar seus dize res por meio de cruzamentos de informação). Compare mos nesse particular, para apreciar sua originalidade,
o tra balho de Sahagún ao de seus contemporâneos igualmente interessados na história mexicana, que também recorreram
272
273
- não podiam agir de outro modo - aos informantes e aos codex (colocaremos, pois, de lado, as compilações corno a Apologetica Historia de Las Casas e a Historia
natural y moral de las Indias de José de Acosta). Um Motolinia cer tamente ouviu discursos; mas sua Historia foi escrita de seu próprio ponto de vista, e a palavra
dos outros só inter vém na forma de breves citações, eventualmente acompa nhadas de observações do tipo: "Este é o modo de falar dos índios, assim como outras expressões
utilizadas neste livro, que não concordam com o uso espanhol" (111, 14). O resto do tempo, temos pois um "estilo indireto livre", uma mistura de discursos cujos
ingredientes é impossível isolar com precisão: o conteúdo vem dos informantes, o ponto de vista, de Motolinia; mas como saber onde acaba um e começa o outro?
O caso de Durán é mais complexo. Seu livro foi tira do, diz ele, "da crônica e dos desenhos desse povo, assim como de alguns velhos" (II, 1), e ele descreve com
cuida do uns e outros; está naturalmente atento às escolhas, mas não se envolve, como Sahagún, em procedimentos com plexos. Para seu livro de história, ele também
utiliza a "Crônica X" em nahuatl, que já não é um codex pictográfi co. Como vimos, ele às vezes concebe seu trabalho como o de um tradutor; mas, na realidade, não
se trata de uma simples tradução: o próprio Durán indica freqüentemente que faz cortes, ou que troca sua crônica por informações provenientes de testemunhas ou de
outros manuscritos; enuncia continuamente as razões que o levaram a escolher uma determinada versão. No devido momento, refere-se também à sua própria experiência
de criança criada no México; o resultado é que seu livro, como vimos, registra uma voz cuja multiplicidade é interior.
Além disso Durán, como os outros tradutores-compi ladores, pratica uma espécie de intervenção, que podería mos qualificar de anotações (embora figurem no interior
do texto e não fora dele). Para observar essa prática, tome mos um outro exemplo, o do padre Martin de Jesus de Co ruã, suposto tradutor da Relación de Michoacán.
São expli
cações de expressões idiomáticas ou metafóricas: "Eles di zem: 'Desposar-te-ei' e sua intenção é a copulação, pois é assim que falam a sua língua" (III, 15; é possível
pergun tar-se se essa é uma maneira de falar que caracteriza ex clusivamente os tarascos); indicações acerca da maneira de falar: "É preciso compreender que o narrador
sempre atri buía as guerras e a perpetração dos atos a seu deus Curica veri, não dizendo mais nada dos senhores do país" (II, 2); complementos de informação que
tornam o relato inteligí vel, explicitando os subentendidos pela descrição dos cos tumes: "Isso estava de acordo com seu costume habitual, pois, quando agarravam
um prisioneiro que devia ser sa crificado, dançavam com ele e diziam que a dança expri mia sua compaixão por ele e fazia com que ele chegasse ao céu rapidamente"
(II, 34); e finalmente algumas indica ções acerca do que aconteceu desde a época do relato: "Mais tarde, um espanhol exumou suas cinzas e encontrou muito pouco ouro,
pois ainda era o início da conquista" (II, 31).
Mas há também outras intervenções desse padre Co rufla, que fazem com que partes de seu texto se tornem de estilo indireto livre, em vez de continuarem a ser de
estilo direto. Ele designa o sujeito falante por um "eles", "as pes soas", e nunca "nós"; determinadas asserções são precedidas por fórmulas modalizantes como "as
pessoas acreditam" (III, 1); às vezes, ele introduz comparações que não po dem vir de seus informantes: "Eles não misturam as linha gens, como fazem os judeus" (III,
11); e inclusive detalhes cuja autenticidade parece problemática: "A mulher parou diante da porta, fez o sinal da cruz (II, 15). Essas inter venções não suprimem
o valor documentário de um texto como a Relación de Michoacán, mas mostram os limites da fidelidade da tradução; limites que teriam sido abolidos se se dispusesse
do texto original, ao lado da tradução.
Sahagún opta pela fidelidade integral, já que reproduz os discursos que ouviu, e acrescenta sua tradução, em vez de substituí-los por ela (Olmos foi um dos raros,
no Mé xico, a fazê-lo antes dele). Essa tradução, aliás, não precisa mais ser literal (será que as dos outros eram? nunca sabe-
274
275
remos), sua função é diferente da do texto em nahuatl; ela omite certos desenvolvimentos e acrescenta outros; o diálo go das vozes torna-se mais sutil. Essa fidelidade
integral, observe-se desde já, não significa autenticidade integral; mas esta é por definição impossível, não por razões metafísi cas, mas porque são os espanhóis
que introduzem a escrita. Mesmo quando dispomos do texto nahuatl, não podemos separar o que é expressão do ponto de vista mexicano do que está ali para agradar,
ou, ao contrário, para desagra dar, aos espanhóis: eles são os destinatários de todos esses textos, e o destinatário é tão responsável pelo conteúdo de um discurso
quanto seu autor.
E, finalmente, o manuscrito será ilustrado; os dese nhistas são mexicanos, mas já sofreram a forte influência da arte européia, de modo que o próprio desenho é um
ponto de encontro de dois sistemas de representação, diá logo que se superpõe ao das línguas e dos pontos de vista que compõem o texto. No total, a criação (que
não contei aqui em todos os detalhes) dessa obra excepcional em todos os sentidos, a Historia general de las cosas de Nueva Espan ocupa Sahagún durante quase quarenta
anos.
O resultado desses esforços é uma inestimável enci clopédia da vida espiritual e material dos astecas de antes da conquista, o retrato detalhado de uma sociedade
que diferia especialmente de nossas sociedades ocidentais e que estava destinada a perecer definitivamente dentro em breve. Corresponde bem à ambição que Sahagún
confes sava, de "não deixar na obscuridade as coisas dos nativos da Nova Espanha" (1, "Prólogo") e justificaria que uma de suas comparações se aplique não somente
às palavras, como queria Sahagún, mas também às coisas que elas designam:
"Esta obra é comparável a uma rede, cuja função seria tra zer à tona todas as palavras daquela língua com seu signi ficado próprio e metafórico, todas as maneiras
de falar e a maior parte das tradições boas ou más" (ibid.).
Mas se essa enciclopédia tem sido devidamente apre ciada desde a sua publicação, e serviu de base para todos os estudos sobre o mundo asteca, deu-se menos atenção
ao fato de ser também um livro, um objeto, ou melhor, um ato, que merece ser analisado enquanto tal; ora, é precisa mente nessa perspectiva que Sahagún nos interessa
aqui, no âmbito desta pesquisa acerca das relações com outrem, e acerca do lugar que nelas ocupa o conhecimento. Poder- se-ia ver em Durán e em Sahagún duas formas
opostas de uma relação, um pouco como se costumava descrever a oposição entre os clássicos e os românticos: interpenetra ção dos contrários num caso, sua separação
no outro; e é certo que se Sahagún é mais fiel ao discurso dos índios, Durán está mais perto deles, e os compreende melhor. Mas, na realidade, a diferença entre
os dois não é tão clara, pois a Historia de Sahagún, por sua vez, é o locus de interação de duas vozes (deixando, portanto, de lado os desenhos); mas esta adquire
formas menos visíveis, e exige, para ser analisada, uma observação mais atenta.
1. Seria evidentemente ingênuo imaginar que a voz dos informantes se exprime unicamente no texto nahuatl, e a de Sahagún, no texto espanhol: não somente, o que é
evi dente, os informantes são responsáveis pela maior parte do texto espanhol, mas também, como veremos, Sahagún está presente, ainda que de modo menos discreto,
no texto nahuatl. Mas existem trechos, ausentes em uma ou outra versão, que são diretamente pertinentes para nossa ques tão. As intervenções mais evidentes de Sahagún
no texto espanhol são os diversos prólogos, advertências, prefácios e digressões, que desempenham a função de moldura:
garantem a transição entre o texto apresentado e o mundo à sua volta. Todavia os prefácios não têm o mesmo objeto que o texto principal: são um metatexto, dizem
respeito ao livro mais do que aos astecas, e a comparação, conseqüen temente, nem sempre é esclarecedora. Por várias vezes, en tretanto, Sahagún intervém no fundo,
como no Apêndice do livro 1 ou no final do capítulo 20, livro II. Na primeira vez, depois de descrever o panteão dos astecas, Sahagún acrescenta uma refutação, precedida
por esta apóstrofe:
"Vós, habitantes desta Nova Espanha, mexicanos, tlaxcal
276
277
tecas, habitantes do país de Michoacán, e todos os outros índios destas Índias ocidentais, saibais que tendes vivido nas profundas trevas da infidelidade e da idolatria,
em que vos deixaram vossos antepassados, como provam claramente vossas escritas, vossos desenhos, e os ritos idólatras nos quais vivestes até hoje. Escutai agora
com atenção..." E Sahagún transcreve literalmente (em latim) quatro capítu los da Bíblia que tratam da idolatria e de seus efeitos ne fastos; segue-se a refutação
propriamente dita. Dirige-se, pois, a seus próprios informantes, falando por si mesmo; em seguida vem uma nova apóstrofe, desta vez "ao leitor"; e finalmente algumas
"Exclamações do autor", que não são dirigidas a ninguém em particular, ou talvez a Deus, nas quais exprime sua tristeza por ver os mexicanos tão equi vocados.
A segunda intervenção, igualmente isolada pelo título "Exclamação do autor", segue a descrição de um sacrifício de crianças. "Não creio que possa existir um coração
tão duro que não se enterneça e não se sinta invadido pelas lágrimas, o horror e o pavor, ao ouvir uma crueldade tão desumana, mais do que brutal e diabólica, tal
como a que acabamos de ler acima." Ali, a "exclamação" serve princi palmente para procurar uma justificativa, uma defesa dos mexicanos que poderiam, em conseqüência
de tais relatos, ser mal julgados. "A causa desta cegueira cruel, de que as infelizes crianças eram o objeto, não deve ser imputada à crueldade de seus pais, que
derramavam copioso pranto e se entregavam a essa cruel prática com dor na alma; deve ser imputada ao ódio infinitamente cruel de nosso antiqüís simo inimigo Satã
(II, 20).
O que há de notável nessas intervenções não é so mente o fato de serem tão poucas (lembrarei aqui que o texto espanhol da obra de Sahagún ocupa aproximadamen te
setecentas páginas), mas também o fato de serem tão nitidamente separadas do resto: aqui, Sahagún justapõe sua voz à dos informantes, sem que seja possível qualquer
con fusão entre as duas. Em compensação, ele se abstém de qualquer comentário nas descrições dos ritos astecas, que
apresentam exclusivamente o ponto de vista dos índios. To memos como exemplo a evocação de um sacrifício huma no, e reparemos como os diversos autores da época pre
servam ou influenciam o ponto de vista indígena que se expressa no relato. Em primeiro lugar, Motolinia:
"Sobre essa pedra eles punham os pobres infelizes, dei tados de costas, para sacrificá-los, com o peito bem estica do, pois tinham os pé e as mãos amarrados, e o
principal sacerdote dos idolos, ou seu substituto, que sacrificavam habitualmente, (...) como o peito do pobre infeliz estava tão esticado, abriam-no com muita força,
por meio daque la faca cruel, e arrancavam rapidamente o coração, e o ofi ciante desse ato vil batia então o coração contra a parte exterior dos pés do altar, deixando
ali uma mancha de sangue. (...) E que ninguém pense que os que eram sacri ficados, pelo arrancamento do coração ou por outra morte, iam de livre e espontânea vontade;
eram levados à força e sentiam violentamente a morte e sua pavorosa dor" (1, 6).
"Cruel", "vil", "pobres infelizes", "pavorosa dor": é evi dente que Motolinia, que dispõe de um relato indígena mas não o cita, introduz seu próprio ponto de vista
no texto, salpicando-o de termos que exprimem a posição compar tilhada por Motolinia e seu leitor eventual; Motolinia pres sente e explicita, de um certo modo, a
reação deste último. As duas vozes não estão em posição de igualdade, cada uma se exprime na sua vez: uma das duas (a de Motolinia) inclui e integra a outra, que
já não fala diretamente ao lei tor, mas somente por intermédio de Motolinia, que perma nece sendo o único sujeito, no sentido pleno do termo.
Vejamos agora uma cena semelhante descrita por Du rán: "O índio segurava sua pequena carga de presentes trazida pelos cavaleiros do sol, assim como o bastão e o
escudo, e começava a subir degrau por degrau em direção ao topo do templo, o que representava o percurso do sol de leste a oeste. Quando atingia o topo e se colocava
no centro da grande pedra solar, que estava lá para indicar o meio-dia, os sacrificadores chegavam e sacrificavam-no, abrindo-lhe o peito ao meio. Tiravam o coração
e o ofere
278
279
ciam ao sol, jogando o sangue em sua direção. Depois dis so, para representar a descida do sol em direção ao oeste, deixavam rolar o cadáver escadaria abaixo" (III,
23).
Acabaram-se os "cruel", os "vil", os "infelizes": Durán transcreve esse relato num tom tranqüilo, abstendo-se de qualquer julgamento de valor (coisa que faz em outras
oca siões). Mas, em lugar disso, um novo vocabulário, ausente em Motolinia, apareceu: o da interpretação. O escravo re presenta o sol, o centro da pedra está ali
para marcar o meio-dia, a queda do corpo representa o pôr-do-sol... Durán, como vimos, compreende os ritos de que fala, ou mais exa tamente, conhece as associações
que geralmente os acom panham; e reparte seus conhecimentos com seu leitor.
O estilo de Sahagún é diferente dos dois anteriores:
"Os senhores [ prisioneiros ou dos escravos] arrasta vam-nos pelos cabelos até o cepo onde deviam morrer. Chegando ao cepo, que era uma pedra de três palmos de altura
ou um pouco mais, e dois de largura, ou quase, eles eram derrubados sobre ela de costas, e cinco pessoas os agarravam: duas pelas pernas, duas pelos braços, e um
pela cabeça; então vinha o sacerdote que devia matá-los e que os golpeava no peito com as duas mãos e uma pedra de sílex, feita como um ferro de lança, e, pela abertura
que acabava de fazer, introduzia a mão e arrancava-lhes o coração, depois oferecia-o ao sol e jogava-o numa cabaça. Depois de ter retirado o coração e jogado o sangue
numa cabaça que recebia o senhor do morto, jogavam o corpo, que rolava pelos degraus até a base do templo" (III, 2).
De repente, é como se lêssemos uma página de "novo romance": essa descrição é oposta às de Durán e de Mo tolinia: nenhum julgamento de valor, mas também nenhu ma
interpretação; temos aí uma pura descrição. Sahagún parece praticar a técnica literária do distanciamento: des creve tudo do exterior, acumulando precisões técnicas,
de onde a abundância de medidas: "três palmos ou um pouco mais", "dois ou quase" etc.
Mas seria um equívoco imaginar que Sahagún nos ofe rece o relato bruto dos índios, ao passo que Durán e Mo
tolinia lhe impõem a marca de sua própria personalidade, ou de sua cultura; que a monofonia, em outras palavras, substitui a difonia. É mais do que certo que os
índios não falavam como Sahagún: seu texto cheira a investigação etnológica, as questões minuciosas (e finalmente um pouco deslocadas, pois apreende-se a forma,
mas não o sentido); os índios não precisavam se expressar assim entre eles; esse discurso é profundamente determinado pela identidade de seu interlocutor. Além disso,
o texto de Sahagún com prova: o trecho que acabamos de ler não tem contrapartida em nahuatl; foi redigido pelo próprio Sahagún, em espa nhol, a partir dos testemunhos
que estão reunidos num ou tro capítulo (II, 21); ali se encontram os elementos do rito, mas nenhuma das precisões técnicas. Seria então esta última versão o grau
zero da intervenção? Pode-se duvidar disso, não porque os missionários se desincumbissem mal de seu trabalho etnográfico, mas porque o próprio grau zero tal vez
seja ilusório. O discurso, como se disse, é fatalmente determinado pela identidade de seu interlocutor; ora, ele é, em todos os casos possíveis, um espanhol, um
estran geiro. Pode-se ir ainda mais longe, e, sem poder observá-lo, ter certeza de que entre si os astecas não falavam do mes mo modo quando se dirigiam a uma criança,
ou a um re cém-iniciado, ou a um sábio ancião; e o sacerdote e o guerreiro não tinham a mesma maneira de falar.
2. Uma outra intervenção bastante circunscrita de Sa hagún encontra-se nos títulos de certos capítulos, particular- mente no livro 1. Esses títulos constituem uma
tentativa, bem tímida, a bem da verdade, embora Sahagún a tenha recomeçado diversas vezes, de estabelecer uma série de equivalências entre os deuses astecas e os
deuses romanos:
"7. A deusa chamada Chicomecoatl. É uma outra Ceres." "11. A deusa da água, chamada Chalchiuhtlicue; é uma outra Juno." "12. A deusa das coisas carnais, chamada
Tlazolteotl, uma outra Vênus.", etc. No prólogo do livro 1, ele propõe uma analogia que concerne as cidades e seus habitantes. "Essa célebre e grande cidade de Tula,
muito rica e decen
280
281
te, muito sábia e valente, teve finalmente a sorte infeliz de Tróia. (...) A Cidade do México é uma outra Veneza [ do aos canais] e eles mesmos são outros vênetos
por seu saber e sua civilidade, Os tiaxcaltecas parecem ter sucedi do os cartagineses." Esse gênero de comparação é, na ver dade, muito comum nos escritos da época
(voltarei a isso); o que se nota aqui também, é o papel limitado que assu me: mais uma vez, fora do texto que descreve o universo asteca (essas analogias não aparecem
na versão nahuatl), na moldura (títulos, prefácios) e não no quadro. De novo, é possível equivocar-se quanto à origem da voz; a interven ção é franca, não dissimulada,
até exibida.
Essas duas formas de interação, "exclamações" e ana logias, separam, pois, de modo perfeitamente nítido, os discursos de uns e do outro. Mas outras formas encarnarão
interpenetrações cada vez mais complexas das duas vozes.
3. Quando se trata da descrição de um sacrifício, Sa hagún não acrescenta, na tradução, nenhum termo que im plique um julgamento moral. Mas, ao falar do panteão
as teca, encontra-se diante de uma escolha difícil: qualquer que seja o termo empregado, o julgamento de valor é ine vitável: ele se compromete igualmente se traduzir
por "deus" ou por "diabo"; ou, em relação a seu servidor, tanto por "sacerdote" quanto por "necromante": o primeiro termo já legitima, o segundo condena; nenhum
deles é neutro. Como livrar-se disso? A solução de Sahagún consiste em não optar por um dos dois termos, e alterná-los; consiste, em suma, em erigir a ausência de
sistema em sistema; e, desse modo, neutralizar os dois termos, em princípio portadores de jul gamentos morais opostos, que agora se tornam sinônimos. Por exemplo,
um título no Apêndice 3 do livro II anuncia uma "Relação das cerimônias que se faziam para honrar o demônio", e o título do Apêndice seguinte, 4, é "Relação das
diferenças entre os ministros encarregados do serviço dos deuses". O primeiro capítulo do terceiro livro inverte a or dem: o título diz "Da origem dos deuses", e
a primeira frase: "Eis aqui o que os anciões indígenas sabiam e nos dis
seram do nascimento e da origem do diabo que se chama Huitzilopochtli." No prólogo da obra inteira, Sahagún esta belece a mesma neutralidade através de um lapso
contro lado: "Escrevi doze livros acerca das coisas divinas ou, me lhor dizendo, idólatras Seria possível imaginar que são os informantes que pensam "deus" e Sahagún,
"o diabo". Mas, ao acolher os dois termos em seu próprio discurso, ele o curva na direção de seus informantes, sem por isso adotar completamente a posição deles:
graça à sua alternância, os termos perdem suas nuanças qualitativas.
Num outro tímio, encontra-se um testemunho diferente da ambivalência própria da posição de Sahagún: "É a ora ção do grande sátrapa, onde se encontram várias sutilezas..."
(VI, 5). Talvez, como afirmam certas pessoas, Sahagún, nisso semelhante a Durán, admire as coisas naturais dos as tecas (aqui a linguagem) e condene as sobrenaturais
(os idolos); de qualquer modo tem-se aqui mais um exemplo em que a voz dos informantes pode ser ouvida no interior da de Sahagún, transformando-a. Em outros textos
de Sahagún, prédicas cristãs endereçadas aos mexicanos e redigidas em nahuatl, observa-se uma outra interferência: Sahagún em prega por sua vez alguns procedimentos
estilísticos da pro sa dos astecas (paralelos, metáforas).
4. Se a voz dos informantes estava presente no discurso de Sahagún, a voz de Sahagún, por sua vez, impregnou-lhes os discursos. Não se trata de intervenções diretas
que, co mo vimos, são claramente indicadas e delimitadas; mas de jma presença simultaneamente mais difusa e mais maciça. É que Sahagún trabalha a partir de um plano
estabelecido íor ele após seus primeiros contatos com a cultura asteca, mas também em função de sua idéia do que seria uma ci vilização. Sabemos através do próprio
Sahagún que ele utiliza um questionário, e é impossível superestimar esse fato. Os questionários não foram, infelizmente, conservados; mas foram reconstituídos,
graças ao engenho dos pesqui sadores atuais. Por exemplo, a descrição dos deuses aste cas no livro 1 revela que todos os capítulos (e, portanto,
282
283
todas as respostas) seguem uma ordem, que corresponde às seguintes questões: 1. Quais são os títulos, os atributos, as características desse deus? 2. Quais são seus
poderes? 3. Quais são os ritos executados em sua honra? 4. Qual é sua aparência? Sahagún impõe portanto seu recorte conceitual ao saber asteca, e este parece-nos
ser portador de uma or ganização que na realidade lhe é dada pelo questionário. É verdade que, no interior de cada livro, percebe-se uma transformação: o começo
sempre segue uma ordem rígida, ao passo que a seqüência apresenta cada vez mais digres sões e desvios a partir do esquema; Sahagún teve o bom senso de preservá-las
e a parte concedida à improvisação compensa, numa certa medida, o efeito do questionário. Mas isso impede Sahagún de compreender, por exemplo, a natureza da divindade
suprema (Tezcatlipoca é um de seus nomes), pois ela é invisível e inatingível, é a origem de si mesma, criadora da história mas desprovida de histó ria ela mesma;
Sahagún calcula que os deuses astecas se parecem com os deuses romanos, não com o Deus dos cristãos! Em certos casos, o resultado é francamente nega tivo, como no
livro VII, que trata da "astrologia natural" dos índios, em que Sahagún não entende muito bem as respostas que se baseiam numa concepção cósmica com pletamente diferente
da sua, e aparentemente volta inces santemente a seus questionários.
Não somente os questionários impõem uma organiza ção européia ao saber americano, e às vezes impedem a passagem da informação pertinente, como também deter minam
os temas a serem tratados, e excluem outros. Para tomar um exemplo maciço (mas há muitos outros), apren demos muito pouco acerca da vida sexual dos astecas, pela
leitura do livro de Sahagún. Talvez essa informação fosse afastada pelos próprIos informantes; talvez, inconscjente mente, por Sahagún; não podemos saber, mas tem-se
a impressão de que os atos de crueldade, já presentes na mitologia cristã, não chocam demais o investigador espa nhol, e que ele os transcreve fielmente; ao passo
que a se xualidade não tem vez.
É bastante divertido ver que os primeiros editores do livro, no século XIX, exerceram uma censura totalmente consciente em relação aos raros trechos do livro que
con têm referências à sexualidade, que consideravam escabro sos: nessa época, não existem mais interditos no que con cerne à religião (sumariamente falando), portanto,
não há mais sacrilégios nem blasfêmias; em compensação, o pudor aumentou, e acham tudo obsceno. Em seu prefácio (de 1880), o tradutor francês se sente obrigado a
justificar lon gamente "esses contrastes entre a pureza da alma e as li berdades na expressão do pensamento" nos monges espa nhóis do século XVI, e culpa finalmente
os indígenas, cujas palavras, durante as confissões, teriam corrompido os ou vidos do bom padre - "ora, preciso eu dizer em que imundas sujeiras os primeiros confessores
dos índios eram obrigados a ouvir suas longas conversas de todos os dias" ("Prefá cio", p. XIII). O tradutor, pois, por sua vez, vangloria-se de sua coragem em traduzir
integralmente o texto de Saha gún; embora de tempos em tempos se permita algumas emendas: "O tradutor acredita que deve aqui, como Bus tamante, o primeiro editor
do texto espanhol, suprimir um trecho escabroso, que as delicadezas da língua francesa tornariam de leitura insuportável" (p. 430); na verdade o dito trecho é preservado
em nota, em espanhol - língua aparentemente menos delicada. Ou então: "O capítulo que vem a seguir contém trechos escabrosos que só são per doáveis em função da
ingenuidade da linguagem primiti vamente empregada e da intenção de Sahagún de tudo traduzir com sinceridade (...). Seguirei incondicionalmente o texto em minha
tradução, sem fazer outra modificação além de substituir pela palavra nudez a palavra mais rea lista utilizada por Sahagún, para não se afastar daquilo que seus
anciões lhe diziam em língua nahuatl" (p. 210). O texto espanhol diz, simplesmente: miembro genital (III, 5):
devem-se realmente responsabilizar os anciões astecas por essa expressão? Felicitemo-nos portanto por Sahagún não ter sido tão hipócrita quanto seus editores, trezentos
anos mais tarde! De qualquer modo, ele é responsável pelo pró-
284
285
prio texto nahuatl, e não somente pela versão espanhola; o original carrega marcas das convicções religiosas, da edu cação e da camada social de Sahagún.
5. Se passarmos agora para o nível macroestrutural, após essas observações acerca da microestrutura, encon traremos o mesmo gênero de "visita" de uma voz à outra.
A escolha dos temas tratados, por exemplo, faz com que a voz dos informantes seja ouvida na de Sahagún. Como vimos, o projeto explícito de Sahagún era facilitar
a evan gelização dos índios, por meio do estudo de sua religião. Mas um terço da obra, nem isso, corresponde a essa idéia. Qualquer que tenha sido a primeira intenção
de Sahagún, fica claro que a riqueza do material que tinha à disposição convenceu-o a substituir seu projeto inicial por um outro, e que procurou constituir uma
descrição enciclopédica, na qual os assuntos humanos ou mesmo naturais ocupam tanto espaço quanto o divino ou o sobrenatural; essa transforma ção tem toda a chance
de se dever à influência de seus in formantes indígenas. Qual pode ser a utilidade cristã de uma descrição como esta, da serpente aquática (cf. fig. 16):
"Para ir à caça aos homens, essa serpente recorre a um ardil notável. Cava um buraco do tamanho de uma gran de bacia a pouca distância da água. Apanha nos vãos peixes
grandes, carpas ou outras espécies, e transporta-os em sua boca até o buraco que cavou. Antes de jogá-los ali dentro, levanta a cabeça e olha em todas as direções.
Somente de pois disso deposita-os em seu pequeno viveiro e vai pro curar outros. Alguns índios ousados apoderam-se dos pei xes que ela depositou em seu buraco, enquanto
ela se afasta, e fogem com eles. Quando a serpente volta, perce be que lhe tomaram os peixes; estica o corpo apoiando-se sobre a cauda, olha para todos os lados
e avista o ladrão, embora ele já se encontre longe. Se não o vir, segue seu rastro pelo odor, e se lança no encalço dele como uma fle cha. Dir-se-ia que voa por
sobre a relva e os tufos de plan tas. Quando atinge o ladrão, se enrola em torno de seu pescoço apertando com força e introduz as duas pontas de
286
sua cauda bifurcada em suas narinas, uma ponta em cada na rina, ou então no cu. Assim colocada, ela aperta com muita força o corpo daquele que roubou seus peixes
e o mata"
(XI, 4,3).
Sahagún transcreve e traduz aqui aquilo que lhe con tam, sem se preocupar com a função de tal informação em
relação ao projeto inicial.
6. Ao mesmo tempo, o plano dc) conjunto é sempre o de Sahagún: é uma súmula escolástica que vai do mais ele vado (deus) ao mais baixo (pedras). Os vários retoques
e adendos esconderam um pouco o plano; mas consideran do apenas as grandes linhas, pode-se reconstruí-lo assim:
os livros 1, II e III tratam dos deuses; os livros IV, V e VII
287
Fig. 16- A se,7ente fabulosa in Codex Florentino, XI, 5.
(Biblioteca Laurenciana, Florença)
de astrologia e de adivinhação, ou seja, das relações entre deuses e homens; os livros VIII, IX e X são consagrados aos assuntos humanos; e o livro XI concerne aos
animais, às plantas e aos minerais. Dois livros, que correspondem a material colhido anteriormente, não têm realmente um lugar nesse plano: o livro VI, coleção de
discursos rituais, e o livro XII, relato da conquista. Não somente esse plano corresponde melhor ao espírito de Sahagún do que ao de seus informantes, como a própria
existência de um tal pro jeto enciclopédico, com suas subdivisões em livros e em capítulos, não tem correspondente na cultura asteca. Em bora a obra de SahagÚn não
seja comum nem mesmo na tradição européia, pertence completamente a esta, pouco importa que seu conteúdo venha dos informantes. Pode-se dizer que, a partir dos discursos
dos astecas, Sahagún pro duziu um livro; ora, o livro é, nesse contexto, uma categoria européia. E no entanto, o objetivo inicial é invertido: Sa hagún tinha partido
da idéia de utilizar o saber dos índios para contribujr na propagação da cultura dos europeus; e acabou por colocar seu próprio saber a serviço da preser vação da
cultura indígena...
Haveria, sem dúvida, outras formas de interpenetração das duas vozes a serem destacadas; mas essas bastam para atestar a complexidade do sujeito da enunciação na
His toria general de las cosas de Nueva Espa fia; ou, poder-se-ia igualmente dizer, a distância entre a ideologia professada por Sahagún e a que é imputável ao autor
do livro. Isso transparece também nas reflexões que apresenta à margem da exposição central. Não que Sahagún duvide de sua fé ou renuncie à sua missão. Mas é levado
a distinguir, como Las Casas e Durán, entre a religiosidade em si mesma e seu objeto: se o Deus dos cristãos é superior, o sentimento re ligioso dos índios é mais
forte. "Em matéria de religião e de culto de seus deuses, creio que jamais houve no mundo idólatras mais inclinados a reverenciar seus deuses do que os índios da
Nova Espanha, à custa de tanto sacrifício" (1, "Prólogo"). A substituição da sociedade asteca pela socieda
de espanhola é portanto uma faca de dois gumes; e, após ter pesado com atenção os prós e os contras, Sahagún de cide, com mais força do que Durán, que o resultado
final é negativo. "Como todas essas práticas [ cessaram com a chegada dos espanhóis, que assumiram a tarefa de pisotear todos os costumes e todas as formas de governo
que tinham os naturais, com a pretensão de reduzi-los a viver como na Espanha, tanto nas práticas divinas quanto nas coisas humanas, simplesmente por considerá-los
idóla tras e bárbaros, perdeu-se todo o seu antigo governo. (...) Mas percebe-se agora que essa nova organização torna os homens viciosos, produz neles péssimas
tendências e pio res obras que os tornam odiáveis para Deus e para os ho mens, sem contar as graves doenças e suas vidas encurta das" (X, 27).
Sahagún, portanto, percebe perfeitamente que os va lores sociais formam um conjunto em que tudo está ligado:
não se pode derrubar os ídolos sem derrubar a sociedade inteira; e, mesmo do ponto de vista cristão, a que foi edifi cada em seu lugar é inferior à primeira. "Se
é verdade que eles demonstravam ainda mais aptidões nos tempos passa dos, na administração da coisa pública como no serviço de seus deuses, é porque viviam sob um
regime mais condi zente com suas aspirações e suas necessidades" (ibíd.). Sa hagún não formula nenhuma conclusão revolucionária; mas a implicação de seu raciocínio
não é que a cristianização trouxe, afinal, mais mal do que bem, e que, conseqüente mente, teria sido preferível que ela não tivesse ocorrido? Na realidade, seu sonho,
e também o de outros francisca nos, seria a criação de um Estado ideal novo: mexicano (e, portanto, independente da Espanha) e cristão ao mesmo tempo, um reino de
Deus sobre a terra. Mas sabe também que esse sonho está longe de se realizar, e contenta-se em ressaltar os aspectos negativos do Estado presente. Essa posição,
entretanto, aliada à importância que ele dá à cul tura mexicana, faz com que sua obra acarrete uma franca condenação por parte das autoridades: não somente cor tam-lhe
os créditos, como vimos; mas uma cédula real de
288
289
Felipe 11, datada de 1577, proíbe qualquer pessoa de to mar conhecimento dessa obra, e mais ainda de contribuir para a sua difusão.
Na prática cotidiana também, a presença dos frades tem, segundo Sahagún, um efeito ambíguo. A nova religião leva a novos modos, e estes provocam uma reação ainda
mais afastada do espírito cristão do que a antiga religião. Saha gún conta sem humor os dissabores que os esperam na educação dos jovens: "À semelhança de seus antigos
cos tumes (...) nós os habituamos a levantar-se no meio da noite e a cantar as matinas de Nossa Senhora; de manhãzi nha, fazíamos com que recitassem as Horas; chegamos
a ensiná-los a se flagelarem durante a noite e a se ocuparem com orações mentais. Mas, como eles não se dedicavam aos trabalhos físicos de outros tempos, segundo
exige sua condição de viva sensualidade, como além disso comiam muito melhor do que costumavam em seu antigo Estado, e devido à suavidade e à compaixão a que estávamos
habi tuados entre nós, começaram a sentir impulsos sensuais e tornaram-se peritos nas práticas lascivas (ibid.). É assim que o bom Deus leva ao demônio!
Mais uma vez, não se trata de dizer que Sahagún pas sou para o lado dos índios. Outros trechos do livro mos tram-no completamente firme em suas convicções cristãs,
e todos os documentos de que dispomos comprovam que, até o fim de sua vida, ele continua preocupado com a cris tianização dos mexicanos mais do que com qualquer
outra coisa. Mas deve-se ver até que ponto sua obra é o produ to da interação entre duas vozes, duas culturas, dois pontos de vista, mesmo que essa interação seja
menos evidente do que em Durán. Por isso, só podemos rejeitar a tentativa feita por alguns especialistas contemporâneos de quebrar essa obra excepcional, e, negligenciando
toda a interação, declarar que os informantes são os únicos responsáveis pelo texto nahuatl do livro, e Sahagún, unicamente pelo texto espanhol; em outras palavras,
de fazer dois livros de uma obra que deve a maior parte de seu interesse justa mente ao fato de ser uma! Um diálogo não é a adição de
dois monólogos, pensem o que pensarem. E só podemos desejar a publicação rápida de uma edição enfim comple ta, ou crítica, que permitiria ler e dar o devido valor
a esse monumento único do pensamento humano.
Como situar Sahagún na tipologia das relações com ou trem? No plano dos julgamentos de valor, ele adere à dou trina cristã da igualdade de todos os homens. "Na verdade,
no que concerne ao governo, eles não perdem em nada, excetuando-se algumas violências tirânicas, para outras na ções que têm grandes pretensões de civilidade" (1,
"Prólo go"). "O que é certo, é que todos eles são nossos irmãos, oriundos do tronco de Adão como nós mesmos; eles são o nosso próximo a quem devemos amar como a
nós mes mos" (ibid.).
Mas essa posição de princípio não o arrasta para uma afirmação de identidade, nem para uma idealização dos ín dios, como em Las Casas; os índios têm qualidades e
defei tos, como os espanhóis, mas numa distribuição diferente. Em certas ocasiões ele lamenta diversos traços do caráter dos índios que lhe parecem lastimáveis;
mas não os explica por uma inferioridade natural (como teria feito Sepúlve da), mas pelas condições diferentes em que vivem, princi palmente climáticas; a mudança
é sensível. Depois de evo car a preguiça e hipocrisia dos índios, ele nota: "Não fico muito espantado com os defeitos e tolices que se encon tram nos naturais deste
pais, porque os espanhóis que aqui vivem e mais ainda os que aqui nasceram também adqui rem essas más tendências. (...) Penso que isso se deve ao clima ou às constelações
deste país" (X, 27). Um detalhe ilustra bem a diferença entre Las Casas e Sahagún: para Las Casas, como vimos, todos os índios são portadores das mes mas qualidades:
não há diferenças entre os povos, sem fa lar dos indivíduos. Sahagún nomeia seus informantes por seus nomes próprios.
No plano do comportamento, Sahagún também ocupa uma posição específica: não renuncia em nada a seu modo de vida e nem à sua identidade (nada tem de um Guer rero);
contudo, aprende a conhecer em profundidade a
290
291
língua e a cultura do outro, consagra a esta tarefa toda a sua vida e acaba, como vimos, por compartilhar alguns valores daqueles que eram inicialmente seu objeto
de estudo.
Mas é evidentemente no plano epistêmico, ou do co nhecimento, que o exemplo de Sahagún é o mais interes sante. É inicialmente o aspecto quantitativo que impressio
na: a soma de seus conhecimentos é enorme, e ultrapassa todas as outras (a de Durán é a que mais se aproxima). Mais difícil de formular é a natureza qualitativa
desse co nhecimento. Sahagún traz uma massa impressionante de ma terial, mas não o interpreta, quer dizer, não o traduz para as categorias de uma outra cultura (a
sua), evidenciando por isso mesmo a relatividade desta; é o trabalho a que se dedicarão - a partir de suas investigações - os etnólogos de hoje. Na exata medida
em que seu trabalho, ou o dos outros monges eruditos seus contemporâneos, continha o germe da atitude etnológica, não podia ser recebido em sua época: de qualquer
modo, é muito impressionante ver que os livros de Motolinia, Olmos, Las Casas (Apologetica Historia), Sahagún, Durán, Tovar, Mendieta não seriam pu blicados antes
do século XIX, ou até se perderiam. Saha gún só deu um passo tímido nessa direção, como vimos:
são suas comparações entre panteão asteca e panteão ro mano. Las Casas irá muito mais longe na via comparatista, na Apologetica Historia, e outros virão depois.
Mas a atitu de comparatista não é a do etnólogo. O comparatista colo ca no mesmo plano objetos, todos exteriores a ele, e conti nua a ser o único sujeito. A comparação
se refere, tanto em Sahagún quanto em Las Casas, aos deuses dos outros:
dos astecas, dos romanos, dos gregos; nào coloca o outro no mesmo plano que si mesmo, e não coloca em questão suas próprias categorias. O etnólogo, em compensação,
con tribui para o esclarecimento recíproco de uma cultura por meio de uma outra, para "nos fazer mirar na face de ou trem", segundo a bela fórmula utilizada já no
século XVI por Urbain Chauveton: conhece-se o outro por meio de si e também a si por meio do outro.
Sahagún não é um etnólogo, digam o que disserem seus admiradores modernos. E, à diferença de Las Casas, não
é fundamentalmente comparatista; seu trabalho estaria mais ligado á etnografia, à coleta de documentos, premissa in dispensável para o trabalho etnológico. O diálogo
das cul turas é nele fortuito e inconsciente, é uma derrapagem não controlada, não é (e não pode ser) erigido em método; ele é inclusive um inimigo decidido da hibridação
cultural; que seja fácil assimilar a Virgem Maria à deusa asteca Tonantzin está relacionado, segundo ele, a uma "invenção satânica" (X 12, Apêndice 7) e não se cansa
de alertar seus correli gionários contra qualquer entusiasmo fácil diante das coin cidências entre as duas religiões, ou diante da rapidez com que os índios abraçam
o cristianismo. Sua intenção é justa- por as vozes em vez de fazer com que elas se interpene trem: ou são os índios que contam suas "idolatrias" ou é a palavra da
Bíblia, copiada no interior de seus livros; uma das vozes diz a verdade, a outra, não. E, contudo, vemos aqui os primeiros esboços do futuro diálogo, os embriões
sem forma que anunciam nosso presente.
292
293
Epílogo
A profecia de Las Casas
Bem no fim de sua vida, Las Casas escreve em seu tes tamento: "Creio que por causa dessas obras impias, crimi nosas e ignominiosas, perpetradas de modo tão injusto,
tirânico e bárbaro, Deus derramará sobre a Espanha sua fúria e sua ira, porque toda a Espanha, bem ou mal, teve o seu quinhão das sangrentas riquezas, usurpadas
à custa de tanta ruína e extermínio."
Essas palavras, entre a profecia e a maldição, estabele cem a responsabilidade coletiva dos espanhóis, e não so mente dos conquistadores; para os tempos futuros,
e não somente para o presente. Anunciam a punição do crime, e a expiação do pecado.
Estamos, atualmente, em posição de julgar se Las Ca sas previu corretamente ou não. Pode-se fazer uma peque na correçào na extensão de sua profecia, e substituir
a Es panha pela 'Europa ocidental": embora a Espanha desem penhe o papel principal no movimento de colonização e de destruição dos outros, ela não está só: portugueses,
france ses, ingleses e holandeses vêm logo em seguida; belgas, italianos e alemães virão unir-se a eles mais tarde. E se, em
297
matéria de destruição, os espanhóis fazem mais do que as outras nações européias, isso não significa que elas não te nham tentado igualar-se aos espanhóis e superá-los.
Leia-se, pois, "Deus derramará sua fúria sobre a Europa", se isso pu der fazer com que nos sintamos mais diretamente implicados.
Realizou-se a profecia? Cada um responderá a essa per gunta de acordo com sua opinião. No que me diz respeito, e consciente da arbitrariedade que existe em qualquer
apreciação do presente, já que a memória ainda não fez a sua triagem, e portanto, da escolha ideológica que estaria implicada, prefiro assumir abertamente minha
visão das coisas, sem disfarçá-la em descrição das próprias coisas. Ao fazê-lo, escolho no presente elementos que me pare cem ser os mais característicos; que, conseqüentemente,
contêm em germe o futuro - ou deveriam contê-lo. Como se deve, essas observações serão elípticas.
Não há dúvida de que vários acontecimentos da histó ria recente parecem dar razão a Las Casas. A escravidão foi abolida há cem anos, e o colonialismo às antigas
(à espa nhola), há uns vinte. Numerosas vinganças têm sido prati cadas, e continuam a sê-lo, contra cidadãos das antigas po tências coloniais, cujo único crime é,
freqüentemente, o fato de pertencerem à nação em questão; os ingleses, os ame ricanos, os franceses são, portanto, considerados como cole tivamente responsáveis
por seus antigos colonizados. Não sei se devemos ver nisso o efeito da fúria e da ira divinas, mas penso que duas reações se impõem àquele que tomou conhecimento
da história exemplar da conquista da Amé rica: inicialmente, que tais atos nunca poderão equilibrar a balança dos crimes perpetrados pelos europeus (e que, nesse
sentido, não se pode desculpá-los; e, em seguida, que esses atos não são senão a reprodução daquilo que os europeus fizeram de mais condenável; ora, nada é mais
aflitivo do que ver a história se repetindo - ainda mais no caso da história de uma destruição. Ver a Europa, por sua vez, colonizada pelos povos da África, da Ásia
ou da Amé rica Latina (possibilidade remota, eu sei), talvez fosse uma bela revanche", mas não poderia constituir meu ideal.
Uma mulher maia morreu devorada pelos cães. Sua his tória, reduzida a algumas linhas, concentra uma das versões extremas da relação com outrem. Seu marido, em relação
a quem ela é o "Outro interior", já não lhe dá nenhuma chance de se afirmar enquanto sujeito livre: temendo ser morto na guerra, o marido quer conjurar o perigo
privando a mulher de sua vontade; a guerra não será apenas uma história de homens: mesmo que ele esteja morto, a mulher deve continuar a lhe pertencer. Quando sobrevém
o con quistador espanhol, a mulher é apenas o locus onde se enfrentam os desejos e vontades de dois homens. Matar os homens, violentar as mulheres: essas são, simultaneamente,
as provas de que um homem detém o poder, e suas re compensas. A mulher opta por obedecer a seu marido e às regras de sua própria sociedade; ela utiliza tudo o que
ainda lhe resta de vontade pessoal para defender a violên cia de que foi objeto. Mas, justamente, a exterioridade cul tural determinará o desenlace desse pequeno
drama: ela não é violentada, como poderia ter sido uma espanhola em tempo de guerra; atiram-na aos cães, porque ela é, ao mes mo tempo, mulher que não consente e
índia. Nunca foi tão trágico o destino de outrem.
Escrevo este livro para tentar fazer com que não se esqueça esse relato, e milhares de outros iguais. Acredito na necessidade de "buscar a verdade", e na obrigação
de divulgá-la; sei que a função da informação existe, e que o efeito da informação pode ser poderoso. Meu desejo não é que as mulheres maias entreguem os europeus
que encon tram aos cães (suposição absurda, naturalmente). Mas que se recorde o que pode acontecer se não se conseguir des cobrir o outro.
Pois o outro deve ser descoberto. Coisa digna de espan to, já que o homem nunca está só, e não seria o que é sem sua dimensão social. E, no entanto, é assim: para
a criança que acaba de nascer, seu mundo é o mundo, e o crescimen to é uma aprendizagem da exterioridade e da sociabilidade; pode-se dizer, um pouco grosseiramente,
que a vida huma na está contida entre dois extremos, aquele onde o eu inva
298
299
de o mundo e aquele onde o mundo acaba absorvendo o eu, na forma de cadáver ou de cinzas. E, como a descober ta do outro tem vários graus, desde o outro como objeto,
confundido com o mundo que o cerca, até o outro como sujeito, igual ao eu, mas diferente dele, com infinitas nuan ças intermediárias, pode-se muito bem passar a
vida toda sem nunca chegar à descoberta plena do outro (supondo- se que ela possa ser plena). Cada um de nós deve recome çá-la, por sua vez; as experiências anteriores
não nos dis pensam disso. Mas podem ensinar quais são os efeitos do desconhecimento.
Contudo, ainda que a descoberta do outro deva ser assumida por cada indivíduo e recomece eternamente, ela também tem uma história, formas social e culturalmente
determinadas. A história da conquista da América me leva a crer que uma grande mudança ocorreu (ou melhor, se revelou) na aurora do século XVI, digamos, entre Colombo
e Cortez; uma diferença semelhante (não nos detalhes, é claro) pode ser observada entre Montezuma e Cortez; ele atua, pois, tanto no tempo quanto no espaço, e se
me ati ve mais ao contraste espacial do que ao contraste tempo ral, é porque este último é confundido por transiçóes infi nitas, ao passo que o primeiro tem toda
a nitidez desejada, com a ajuda dos oceanos. Desde aquela época, e durante quase trezentos e cinqüenta anos, a Europa ocidental tem- se esforçado em assimilar o
outro, em fazer desaparecer a alteridade exterior, e em grande parte conseguiu fazê-lo. Seu modo de vida e seus valores se espalharam por todo o mundo; como queria
Colombo, os colonizados adotaram nossos costumes e se vestiram.
Esse sucesso extraordinário deve-se, entre outros, a um traço específico da civilização ocidental, que durante muito tempo foi tomado por um traço do homem em ge
ral, seu desenvolvimento nos ocidentais tornando-se, então, a prova de sua superioridade natural: é, paradoxalmente, a capacidade que os europeus têm de compreender
os ou tros. Cortez nos fornece um bom exemplo disso, e ele tinha consciência de que a arte de adaptação e de improvisaçào
1
regia seu comportamento. Este, pode-se dizer esquemati camente, se organiza em dois tempos. O primeiro é o do interesse pelo outro, à custa até de uma certa empatia,
ou identificaçào provisória. Cortez entra na pele do outro, mas de modo metafórico, e não mais literal: a diferença é considerável. Garante assim a compreensão da
língua, o co nhecimento da política (daí seu interesse pelas dissensóes internas dos astecas), e até domina a emissão das mensa gens num código apropriado: ei-lo
fazendo-se passar por Quetzalcoatl de volta à terra. Mas, ao fazê-lo, nunca se se para de seu sentimento de superioridade; muito pelo con trário, sua capacidade
de compreender o outro é uma confir mação dessa superioridade. Segue-se então o segundo tempo, no decorrer do qual ele não se contenta em reafir mar sua própria
identidade (que nunca abandonou de fato), mas procede à assimilação dos índios ao seu próprio mundo, Do mesmo modo, como vimos, os monges francis canos adotam os
hábitos dos índios (roupas, alimentação) para melhor convertê-los à religião cristã. Os europeus de monstram ter notáveis qualidades de flexibilidade e impro visação,
que lhes permitem impor ainda melhor, por toda parte, o seu modo de vida. É claro que essa capacidade de adaptação e, ao mesmo tempo, de absorção nada tem de um
valor universal, e traz consigo o seu reverso, que é mui to menos apreciado. O igualitarismo, de que uma versão é característica da religião cristã (ocidental) assim
como da ideologia dos Estados capitalistas modernos, serve igual mente à expansão colonial: esta é uma outra lição, um pou co surpreendente, de nossa história exemplar.
Ao mesmo tempo que obliterava a estranheza do outro exterior, a civilização ocidental encontrava um outro inte rior. Da era clássica até o fim do romantismo (isto
é, até hoje) os escritores e os moralistas não pararam de desco brir que a pessoa não é uma, ou que ela não é nada, que eu é um outro, ou uma simples câmara de eco.
Já não se acre dita em homens-fera na floresta, mas descobriu-se a fera dentro do homem, "esse misterioso elemento da alma que não parece reconhecer nenhuma jurisdição
humana, mas,
301
apesar da inocência do indivíduo que ele habita, sonha sonhos horríveis e murmura os pensamentos mais proibi dos" (Melville, Pedro ou as Ambigüidades, IV, 2). A
instau ração do inconsciente pode ser considerada como o ponto culminante dessa descoberta do outro em si mesmo.
Creio que esse período da história européia, por sua vez, está terminando agora. Os representantes da civiliza ção ocidental já não acreditam tão ingenuamente em
sua superioridade, e o movimento de assimilação enfraquece desse lado, ainda que os países, recentes ou antigos, do Terceiro Mundo continuem a querer viver como
os euro peus. No plano ideológico pelo menos, tentamos combi nar aquilo que nos parece ser o melhor nos dois termos da alternativa; queremos a igualdade sem que
ela acarrete a identidade; mas também a diferença, sem que ela degenere em superioridade/inferioridade; esperamos colher os be nefícios do modelo igualitarista e
do modelo hierárquico; aspiramos à recuperação do sentido do social, sem perder a qualidade do individual. O socialista russo Alexandre Her zen escrevia em meados
do século XIX: "Compreender toda a extensão, a realidade e a sacralidade dos direitos da pessoa sem destruir a sociedade, sem fragmentá-la em áto mos: este é o objetivo
social mais difícil." Ainda estamos di zendo isso, hoje em dia.
Viver a diferença na igualdade: é mais fácil dizer do que fazer. E no entanto, várias personagens de minha his tória exemplar chegaram perto disso, de vários modos.
No plano axiológico, um Las Casas conseguia, na velhice, amar e estimar os índios não em função de um ideal seu, mas do deles: é um amor não unificador, pode-se
também dizer "neutro", para empregar o termo de Blanchot e de Barthes. No plano da ação, da assimilação do outro ou da identifi cação com ele, um Cabeza de Vaca
atingia igualmente um ponto neutro, não porque fosse indiferente às duas cultu ras, mas porque tinha vivido no interior de ambas; de repente, só havia "eles" à sua
volta; sem tornar-se índio, Cabeza de Vaca já não era totalmente espanhol. Sua expe riência simboliza, e anuncia, a do exilado moderno, o qual,
302
i
por sua vez, personifica uma tendência própria da nossa sociedade: esse ser que perdeu sua pátria sem ganhar ou tra, que vive na dupla exterioridade. É o exilado
o que melhor encarna, hoje em dia, desviando-o de seu sentido original, o ideal de Hugues de Saint-Victor, assim formula do no século XII: 'O homem que acha a sua
pátria agradá vel não passa de um jovem principiante; aquele para quem todo solo é como o seu próprio já está forte; mas só é per feito aquele para quem o mundo
inteiro é como um país estrangeiro" (eu, que sou um búlgaro morando na França, colho essa citação em Edward Said, palestino que vive nos Estados Unidos, que, por
sua vez, encontrou-a em Erich Auerbach, alemão exilado na Turquia).
Finalmente, no plano do conhecimento, um Durán e um Sahagún anunciavam, sem realizá-lo plenamente, o diá logo das culturas que caracteriza nosso tempo, e que, a
nos so ver, é encarnado pela etnologia, ao mesmo tempo filha do colonialismo e prova de sua agonia: um diálogo em que ninguém tem a última palavra, em que nenhuma
das vozes reduz a outra ao status de um mero objeto, e onde se tira vantagem de sua exterioridade ao outro; Durán e Sahagún, símbolos ambíguos, porque espíritos
medievais; talvez seja justamente essa exterioridade à cultura do tempo deles a responsável por sua modernidade. Através desses vários exemplos se afirma uma mesma
propriedade: uma nova exotopia (para falar como Bakhtine), uma afirmação da exterioridade do outro que vem junto com seu reconheci mento enquanto sujeito. Talvez
haja aí não somente uma nova maneira de viver a alteridade, mas também um traço característico de nosso tempo, como eram o individualis mo e autotelismo em relação
à época cujo fim começamos a divisar. Assim pensaria um otimista como Levinas: "Nossa época não se define pelo triunfo da técnica pela técnica, nem tampouco se define
pela arte, assim como não se de fine pelo niilismo. Ela é ação para um mundo que vem, su peração de sua época - superação de si que requer a epi fania do Outro."
Este livro ilustra ele mesmo a atitude nova diante do outro, através de minha relação com os autores e as perso 303
nagens do século XVI? Só posso falar de minhas intençóes, e não do efeito que produzem. Eu quis evitar dois extre mos. O primeiro é a tentação de reproduzir a voz
das per sonagens como é em si mesma; de procurar eu mesmo desaparecer para melhor servir ao outro, O segundo é sub meter os outros a si, transformá-los em marionetes
e con trolar-lhes os fios. Entre os dois, procurei não um campo intermediário, mas a via do diálogo. Eu interpelo, transpo nho, interpreto esses textos; mas também
deixo que falem (daí tantas citações) e se defendam. De Colombo a Saha gún, essas personagens não falavam a mesma linguagem que eu; mas não se dá vida ao outro deixando-o
intacto, assim como não se pode fazê-lo abafando completamente a sua voz. Próximos e distantes ao mesmo tempo, eu quis vê-los como formadores de um dos interlocutores
de nos so diálogo.
Mas nossa época se define igualmente por uma expe riência de certo modo caricatural desses mesmos traços; o que é certamente inevitável. Essa experiência freqüente
mente camufla o traço novo por sua abundância, e às ve zes até o precede, já que a paródia passa muito bem sem modelo, O amor "neutro", a justiça "distributiva"
de Las Casas sào parodiados, e esvaziados de sentido, num relati vismo generalizado, em que tudo se equivale, desde que se escolha o ponto de vista apropriado; o
perspectivismo leva à indiferença e à renúncia a todos os valores. A descober ta, pelo "eu", dos "eles" que nele existem é acompanhada pela afirmação muito mais
assustadora do desaparecimen to do "eu" no "nós", característica dos regimes totalitários. O exílio é fecundo se se pertencer simultaneamente a duas culturas, sem
se identificar com nenhuma; mas se a socie dade inteira for feita de exilados, o diálogo das culturas cessa: é substituído pelo ecletismo e o comparatismo, pela
capacidade de amar de tudo um pouco, de simpatizar va gamente com todas as opiniões sem nunca adotar nenhuma. A heterologia, que faz soar a diferença das vozes,
é neces sária; a polilogia é insípida. Enfim, a posição do etnólogo é fecunda; muito menos a do turista, cuja curiosidade pelos
costumes estrangeiros leva até a ilha de Bali ou aos subúr bios de Salvador, mas que confina a experiência da hete rogeneidade no espaço de suas férias remuneradas.
É ver dade que, à diferença do etnólogo, ele paga a viagem do seu bolso.
A história exemplar da conquista da América nos ensi na que a civilização ocidental venceu, entre outras coisas, graças à sua superioridade na comunicação humana;
mas também que essa superioridade se afirmou à custa da co municação com o mundo. Saídos do período colonial, sen timos confusamente a necessidade de revalorizar
essa co municação com o mundo; mas aqui também a paródia parece preceder a versão séria, Os bi"pies americanos dos anos sessenta, recusando-se a adotar o ideal de
seu país, que hombardeava o Vietnã, tentaram reencontrar a vida do bom selvagem. Um pouco como os índios das descrições de Sepúlveda, eles queriam dispensar o dinheiro,
esquecer os livros e a escrita, dar provas de indiferença em relação às roupas, e renunciar ao uso das máquinas, para fazer tudo com suas próprias mãos. Mas essas
comunidades es tavam evidentemente fadadas ao fracasso, já que aplica vam esses traços "primitivos" sobre uma mentalídade indi vidualista perfeitamente moderna.
O "Club Méditerranée" permite viver esse mergulho no mundo primitivo (ausência de dinheiro, de livros e, eventualmente, de roupas) sem colocar em questão a continuidade
da vida de "civilizado"; o sucesso comercial dessa fórmula é bem conhecido. As voltas às religiões antigas ou novas não podem, creio eu, encarnar issO: a volta ao
passado é impossível. Sabemos que não queremos mais a moral (a amoral) do "tudo é permiti do" pois já sentimos as suas conseqüências; mas é preciso encontrar novas
proibições, ou uma nova motivação para as velhas, para que possamos perceber-lhes o sentido. A capa cidade de improvisação e de identificação instantânea pro cura
equilibrar-se por uma valorização do ritual e da iden tidade; mas é duvidoso que baste a volta ao torrão natal.
Relatando e analisando a história da conquista da Amé rica, fui levado a duas conclusões aparentemente contradi
304
305
tórias. l'ara falar das formas e das espécies de comunica ção, coloquei-me inicialmente numa perspectiva tipológica:
os índios favorecem o intercâmbio com o mundo, os euro peus, o intercâmbio com os homens; nenhum dos dois é intrinsecamente superior ao outro, e sempre precisamos
dos dois ao mesmo tempo; ganhando-se em um dos planos, perde-se necessariamente no outro. Mas, ao mesmo tempo, fui levado a constatar uma evolução na 'tecnologia"
do simbolismo; essa evolução pode ser reduzida, para simpli ficar, ao aparecimento da escrita. Ora, a presença da escri ta favorece a improvisação em detrimento
do ritual, assim como a concepção linear do tempo, ou, de outro modo, a percepção de outrem. Haveria também uma evolução, da comunicação com o mundo à comunicação
entre os ho mens? De modo mais geral, reconhecer uma evolução, não seria devolver à noçào de harbárie um sentido não relativo?
A solução dessa aporia não consiste, para mim, no abandono de uma das duas afirmações, mas antes no reco nhecimento, para cada evento, de determinações múlti plas,
que condenam ao fracasso qualquer tentativa de sis tematizar a história. É isso que explica que o progresso tecnológico, sabemos disso muito bem atualmente, não
acarrete uma superioridade no plano dos valores morais e sociais (e nem uma inferioridade). As sociedades com es crita são mais avançadas do que as sociedades sem
escrita; mas haveria motivo para hesitação se tivéssemos de escolher entre sociedades de sacrifício e sociedade de massacre.
Num outro plano ainda, a experiência recente é desen corajadora: o desejo de ultrapassar o individualismo da so ciedade igualitária e de chegar à sociabilidade própria
das sociedades hierárquicas encontra-se, entre outros, nos Es tados totalitários. Estes se parecem com a criança mons truosa temida por Bernard Shaw que, dizem,
foi consultado por Isadora Duncan: tão feia quanto ele e tão parva quan to ela. Esses Estados, certamente modernos, não poden do ser assimilados nem às sociedades
de sacrifício nem às sociedades de massacre, reúnem no entanto certos traços
306
±
das duas e mereceriam a criação de uma palavra mista:
são sociedades de massacrifício. Como nas primeiras, pro fessa-se um religião de Estado; como nas últimas, o com portamento está fundamentado no princípio karamazovia
no do 'tudo é permitido". Como no sacrifício, mata-se mi cialmente em casa; como no caso dos massacres, oculta-se e nega-se a existência dessas matanças. Como lá,
as vítimas são escolhidas individualmente; como aqui, são extermi nadas sem nenhuma idéia de ritual. O terceiro termo exis te, mas é pior do que os dois precedentes;
que fazer?
A forma de discurso que se impôs a mim para este li vro, a história exemplar, resulta ainda do desejo de ultra passar os limites da escrita sistemática, sem por
isso "vol tar" ao mito puro. Ao comparar Colombo e Cortez, Cortez e Montezuma, tomo consciência de que as formas da co municação, produção tanto quanto interpretação,
embora sejam universais e eternas, não são oferecidas à livre escolha dos escritor, mas são correlatas das ideologias em vigor, e podem, por isso mesmo, se tornar
o signo das mesmas. Mas qual é o discurso apropriado para a mentalidade hete rológica? Na civilização européia, o logos venceu o mythos; ou melhor, em lugar do discurso
polimorfo, dois gêneros homogêneos se impuseram: a ciência, e tudo o que está li gado a ela, diz respeito ao discurso sistemático; a literatura e seus avatares praticam
o discurso narrativo. Mas este ter reno encolhe a cada dia que passa: até os mitos são reduzi dos a quadros de dupla entrada, a própria história é subs tituida pela
análise sistemática, e os romances lutam sem trégua contra o passar do tempo, pela forma espacial, ten dendo para o ideal da matriz imóvel. Eu não podia me des vincular
da visão dos "vencedores" sem renunciar, ao mes mo tempo, à forma discursiva de que eles se apropriaram. Sinto a necessidade (e não vejo nisso nada de individual,
por isso escrevo-o) de aderir ao relato que propõe mais do que impõe; de reencontrar, no interior de um só texto, a complementaridade do discurso narrativo e do
discurso sis temático; de modo que minha história talvez se pareça mais, quanto ao gênero, e colocando de lado qualquer questão
307
de valor, com a de Heródoto do que com o ideal de vários historiadores contemporâneos. Certos fatos que relato levam a afirmações gerais; outros (ou outros aspectos
dos mes mos fatos), não. Além desses retos que eu submeto à aná lise, há outros, insubmissos. E se, neste exato momento, eu 'tiro a moral" de minha história, não
é de modo algum com a intenção de revelar e fixar seu sentido; um relato não é redutível a uma máxima; mas porque acho mais franco formular algumas das impressões
que ela me deixou, já que também sou um de seus leitores.
A história exemplar existiu no passado; mas o termo não tem agora o mesmo sentido que tinha então. Desde Cícero, repete-se o adágio Historia magistra vitae, seu
sen tido é que o destino do homem é imutável, e que é possí vel calcar o comportamento presente no dos heróis do passado. Essa concepção da história e do destino
pereceu com o advento da ideologia individualista moderna, já que desde então prefere-se acreditar que a vida de um homem lhe pertence, e que não tem nada a ver
com a de um outro. Não creio que o relato da conquista da América seja exem plar no sentido de que representaria um retrato fiel de nossa relação com o outro: não
somente Cortez não é igual a Colombo, mas nós já não somos iguais a Cortez. Ignorando a história, diz o ditado, corre-se o risco de repeti-la, mas conhecê-la não
basta para sabermos o que é preciso fazer. Somos parecidos com os conquistadores e diferentes deles; seu exemplo é instrutivo, mas jamais teremos certeza de que
não nos comportando como eles, não estamos, justa mente, a imitá-los, adaptando-nos às novas circunstâncias. Mas a sua história pode ser exemplar para nós porque
nos permite fazer uma auto-reflexão, descobrir as semelhanças e também as diferenças: mais uma vez o conhecimento de si passa pelo conhecimento do outro.
Para Cortez, a conquista do saber leva à do poder. Fico com a conquista do saber, ainda que seja para resistir ao poder. Há alguma leviandade em limitar-se a condenar
os maus conquistadores e lamentar pelos bons índios, como se bastasse identificar o mal para combatê-lo. Reconhecer,
aqui e ali, a superioridade dos conquistadores não signifi ca fazer seu elogio; é necessário analisar as armas da con quista, se quisermos ter possibilidade de freá-la
um dia. Pois as conquistas não pertencem só ao passado.
Não creio que a história obedeça a um sistema, nem que suas pretensas "leis" permitem deduzir as formas so ciais futuras, ou presentes. Acredito, porém, que tomar
cons ciência da relatividade, e portanto da arbitrariedade, de um traço de nossa cultura já o desloca um pouco; e que a his tória (não a ciência, mas seu objeto)
não é mais do que uma série de deslocamentos imperceptíveis.
308
309
Notas bibliográficas
Pode ser encontrada na lista das Referências que se segue a indicação das obras citadas no texto, em espanhol, francês e inglês; dou aqui algumas informações bibliográficas
suplementa res. Os comentadores modernos são mantidos em função de um único critério: sua possível influência sobre o meu próprio texto. Esta nota bibliográfica
é, portanto, uma Tabula gratulatoria.
Descobrir
Os textos utilizados nessa seção são antes de mais nada os de Colombo, em seguida os de seus contemporâneos e compa nheiros (Chanca, Cuneo, Mendez), e os escritos
dos historiadores contemporâneos: P. Martyr, Bernaldez, F. Colombo, Ovideo, Las Casas. Entre as biografias modernas, a de Madariaga christophe Colomb, Paris, Calmann-Lévy,
1952; Le livre de poche, 1968) con tinua a ser de leitura agradável, pondo-se de lado o seu racismo. Uma extrema biografia foi publicada em francês: J. Heers, Chris
tophe Colomh, Paris, Hachette, 1981. O estudo de L. Olschki, "What Columbus saw on Landing in the West Indies', Pro ceedings of the American Philosophical Society,
84 (1941), pp.
311
633-59, é um dos raros a tocar de bem perto o assunto debatido aqui; as conclusões de Olschki são à primeira vista completa mente diferentes, o que se explica em
parte pela generalidade de seu propósito, em parte pela sua ideologia europeucentrista.
A. Gerbi, em La Naturaleza de las Indias Nuevas. De ('bristóbal Cblón a Gonzalo Fernandez de Oviedo, México, Fondo de Cul tura Económica, 1978 (original italiano,
1975), estudou a percep ção da natureza em Colombo, de um outro ponto de vista.
Sobre o fato global da descoberta, mencionarei aqui três obras. A de P. Chaunu (6 et Exploitation des nouveaux mondes, XVI siêcle, Paris, PUF, 1969) traz uma imensa
bibliografia e nume rosas informações. O pequeno livro de J. H. Elliott, Tbe Old World and the Ne 1492-1650, Cambridge. Cambridge UP, 1970, é su gestivo. O livro
de E. O'Gorman, lhe Invention ofAmerica, Bloo mington, Indiana UP, 1961. é consagrado à evolução das concep ções geográficas ligadas à descoberta da América.
conquistar
Existe uma mina inesgotável de informação histórica e bi bliográfica nos quatro volumes do Guide to Ethnohistorical Stu dies, publicados sob a responsabilidade de
H. F. Cline, que cons tituem os volumes 12 a 15 do Handbook oftheMiddleAmerican Indians (Austin, University of Texas Press, 1972-1975).
Para o conhecimento acerca da sociedade asteca, as fontes mais preciosas são (a) as descrições, compilações e traduções dos monges espanhóis (utilizei as de Motolinia,
Durán, Sahagún, To var, de Landa, a Relación deMichoacán), às quais deve-se acres centar a descrição de um leigo, A. de Zorita; (b) os escritos, em línguas indígenas
ou em espanhol, de índios ou mestiços (como Tezozomoc, Ixtlilxochitl, J. B. Pomar, os Livros de Chilam Balam, os Anais dos Cakchiquel, Chimalpahin). As referências
a Sahagún às vezes remetem ao Codex Florentino (abreviado CF), que é a versão ilustrada e bilíngüe de seu livro, às vezes à sua Historia general de las cosas de
Nueva Espaãa.
Entre os conquistadores, os autores mais importantes são Cortez (relatórios para Carlos V e outros documentos) e Bernal Díaz (Historia verdadera de la conquista
de la Nueva Espaãa). Uti lizei também as crônicas mais curtas de J. Díaz, F. de Aguilar, A. de Tapia, D. Godoy. Os primeiros historiadores, como P. Martyr, Gomara,
Oviedo e Las Casas também contribuem com documen
tos inéditos. .
Quanto às razões da vitória espanhola, pode-se consultarJ. Soustelle, Rencontre de la civilisation hispanique et des civilisa tions indigènes de lAmérique, Paris,
s/d (mimeografado). Acerca dos huehuelatolli, utilizei o estudo de Thelma D. Sullivan, "The Rhetorical Orations, or Huehuelatolli, Collected by Sahagun", in M. 5.
Edmonson (cd.), Sixteenth-Centu Mexico, The Work os Sa hagun, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1974, pp. 79-109. Sobre o mito de Quetzalcoatl, ver o
livro fundamental de J. Lafaye, Quetzalcoatl et Guadalupe, Paris, Gallimard, 1974, e as notas de A. Pagden em sua brilhante tradução das 6'artasde Cor tez em inglês.
Sobre o pensamento asteca, aproveitei o livro de M. Léon-Portilla, Filosoffa nahuatl, México, UNAM, 1959 (versão inglesa: Aztec Thought and Culture, A Study of the
Ancient Na huatl Mmd, Norman, University of Oklahoma Press, 1963). Os livros de Octavio Paz, por exemplo. El laberinto de la soledad e Crítica de la pirâmide, são
uma preciosa fonte de reflexão para qualquer pessoa que indague acerca da história do México.
O quadro que me permite comparar astecas e espanhóis deve muito aos trabalhos de sociologia comparativa de Louis Du mont, especialmente Homo hierarchicus, Paris,
Gallimard, 1966; Homo aequalis, Paris, Gallimard, 1977; "La conception moderne de l'individu", L'Esprit, fev., 1978, pp. 3-39. Sobre os efeitos da presença ou da
ausência de escrita, cf. J. Goody, lhe Domestica tion ofthe Savage Mmd, Cambridge, Cambridge UP, 1977, tradu ção francesa, La Raison Graphique, Paris, Minuit, 1978.
A idéia da improvisaçào como uma característica da civilização ocidental renascentista vem do ensaio de Stephen Greenblatt, "Improvisa tion and Power", in E. Said
(cd.), Literature and Society, Baltimore & Londres, The Johns Hopkins University Press, 1980, pp. 57-99; ele cita também a história dos lucayos em P. Martyr. Sobre
a rela ção entre perspectiva linear e grandes descobertas no Renasci mento, cf. entre outros 5. Y. Edgerton Jr., "The Art of Renaissance Picture-Making and the Great
Western Age of Discoveiy", in Es says Presented to Myron P. Gilmore, Florença, La Nuova Italia Editrice, 1978, t. 2, pp. 133-53. Quanto às características formais
da representaçào entre os mexicanos, os escritos de D. Rohertson são uma autoridade, por exemplo, "Mexican Indian Art and the Atlantic Filter. Sixteenth to Eighteenth
Centuries", in F. Chiapelli (cd.), Fírst Images ofAmerica, Berkeley-Los Angeles-Londres, Uni versity of California Press, 1976, t. 1, pp. 483-94.
1 2
313
Amar
Grande parte das fontes utilizadas nesse capítulo são as mes mas que no anterior. Devem-se acrescentar a elas as outras obras de Las Casas, os tratados de Sepúlveda
e de Vitória e vários do cumentos emitidos pelas autoridades civis ou religiosas.
Os historiadores demógrafos que mudaram nossas idéias acer ca da população indígena de antes e depois da conquista são freqüentemente designados como constituindo
"a escola de Berke ley". Ver especialmente as obras de 5. Cook e W. W. Borah, The Indian Population ofcentralMexico (1531-1610), Berkeley-Los Angeles-Londres, University
of California Press, 1960; Essays in Population History: Mexico and the Caribbean, ihid., 1971. Sobre o debate Las Casas-Sepúlveda e em torno dele, utilizei as obras
de L. Hanke (especialmente Aristotie and the American Indian, Bloomington & Londres, Indiana UP, 1970 (1 edição, 1959); e Ali Mankind is One, Dekalb, III, Northem
Illinois UP, 1974), 5. Zavala (por exemplo, L'Amérique latine, Philosophie de la con quête, Paris-Haia, Mouton, 1977), M. Bataillon CÉtudes surBarto lomé de Las
Casas, Paris, Centre de recherches de l'Institut d'étu des hispaniques, 1965), e a coletânea coletiva Bartolomé de Las ('asas in Histoiy, publicado sob a direção
de J. Friede e B. Keen (DeKalb, III, Borthern Illinois UP, 1971).
Encontram-se numerosas informações acerca da imagem dos astecas no Ocidente em B. Keen, Fhe Aztec Image in Wes tem Thought, New Brunswick, New Jersey, Rutgers UP,
1971; e, sobre o impacto global da descoberta e da conquista, em F. Chia pelli (org.), First Images ofAmerica, Berkeley-Los Angeles-Londres, University of California
Press, 1976, 2 vols.
('onhecer
Sobre Vasco de Quiroga, consultei 5. Zavala, Recuerdo de Vasco de Quiroga, México, Porrua, 1965, e F. B. Warren, Vasco de Quiroga and his Püeblo-Hospitais of Santa
Fe, Washington, Aca demy of American Franciscan History, 1963. Sobre Sahagún, duas fontes me foram especialmente úteis: o volume coletivo publica do sob a direção
de M. 5. Edmonson, Sixteenth CentwyMexico. the Work of Sahagun, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1974, principalmente o estudo de A. Lopes Austin sobre
os questionários; e os textos reunidos no Guide to Ethnohistorical
Studies, p. 2, 1973 (t. 13 do Handbook já mencionado). A obra de R. Ricard, La conquête spirituelle du Mexique (Paris, Instituto de Etnologia de Paris, 1933) é sempre
muito instrutiva; a de G. Baudot, Utopie et Histoire au Mexique (Toulouse, Privat, 1976), contém muitas informações. Achei sugestivo o artigo de F. Kes tringant,
"Calvinistas e canibais", Builetin de la Société du protes tantismefrançais, 1 e 2, 1980, pp. 9-26 e 167-92.
Epílogo
E. Levinas, filósofo da alteridade, é o autor de Totalité et Infi ni, Haia, M. Nijhoff, 1961. Cito aqui L'Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata Morgana,
1972, p. 43. Blanchot fala do neutro em L'Entretien infini (Paris, Gallimard, 1969), e Barthes em Roland Barthes (Paris, Seuil, 1975). A referência a Auerbach é
de "Philologie und Weltliteratur", coletada em seu livro Ge sammelte Aufsütze zur romanischen Philologie, Berna, Franke, 1967; e a Said, de seu livro l'Orientalisme,
Paris, Seuil, 1980. De Herzen (em russo Gercen), cito Sobranie sochineni)Ç em 30 vols. (Moscou-Leningrado, 1955, t. 5, p. 62). L. Dumont evoca alguns traços da modernidade
em suas obras já citadas e em "La com munauté anthropologique et l'idéologie", L'Homme, 18 (1978), 3- 4, pp. 83-110. Pode-se ter acesso aos textos de Bakhtine sobre
a alteridade e a exotopia através de meu livro Míkhaïl Bakhtíne le principe dialogique (Paris, Seuil, 1981).
Sobre a oposição discurso narrativo/discurso sistemático, cf. H. Weinrich, "Structures narratives du mythe", Poétique, 1(1970), 1, pp. 25-34; e K. Stierle, "L'Histoire
comme Exemple, l'Exemple comme Histoire" Poétique, 3 (1972), 10, pp. 176-98.
Gostaria de agradecer a todos aqueles que, com suas inter venções orais ou escritas, me ajudaram a corrigir versões anterio res deste trabalho e, especialmente Catherine
Malamoud, Fedora Cohan, Esther Pasztory e Diana Fane.
314
315
--

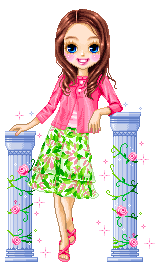
"Eu sou aquela mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores."
Cora Coralina
http://renovandoatitudes-marceli.blogspot.com/
http://cantinhodamarceli.blogspot.com
Skype: crmarini2333
livros - loureiro <http://groups.google.com.br/group/livros-loureiro>
--
Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no
Grupo "livros-loureiro" nos Grupos do Google.
Para postar neste grupo, envie um e-mail para
livros-loureiro@googlegroups.com
Para cancelar a sua inscrição neste grupo, envie um e-mail para
livros-loureiro+unsubscribe@googlegroups.com
Para ver mais opções, visite este grupo em
http://groups.google.com.br/group/livros-loureiro?hl=pt-BR
Os nossos blogs:
http://manuloureiro.blogspot.com/
http://livros-loureiro.blogspot.com/
http://romancesdeepoca-loureiro.blogspot.com/
http://romancessobrenaturais-loureiro.blogspot.com/
http://www.loureiromania.blogspot.com/
0 comentários:
Postar um comentário